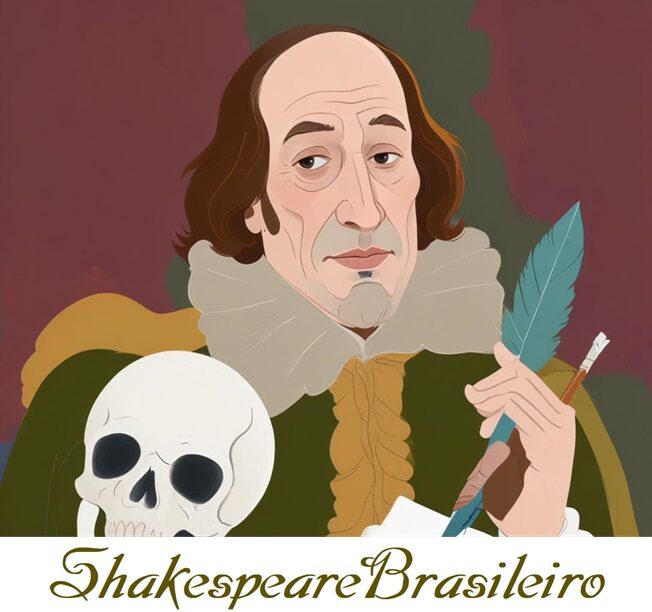A Vida e Morte do Rei João é geralmente datada, com base no estilo, entre as duas tetralogias históricas de Shakespeare, talvez um pouco antes de Ricardo II, em 1594 ou 1595. Em estrutura e caracterização, ela é também transicional da primeira série episódica (Henrique VI até Ricardo III) até a mais firmemente organizada segunda série (Ricardo II até Henrique V). Ela permanece sozinha entre as peças históricas de Shakespeare dos anos 1590, ao escolher o início do século treze como tema, em vez do século quinze. Entretanto, os problemas políticos são similares.
Em primeiro lugar está a incerteza da reivindicação de João ao trono Inglês. Ele ocupa este trono através da “forte possessão” e também, aparentemente, pela última vontade e testamento de seu irmão mais velho falecido, o Rei Ricardo I. Mas isso pode deserdar Arthur, o filho do irmão mais velho de João, Geoffrey? A primogenitura Inglesa especificava que a propriedade deveria recair sobre o filho mais velho; depois da morte de Ricardo, sem herdeiros diretos, seu próximo irmão, Geoffrey, herdaria, e então seu filho, Arthur. Significantemente, mesmo a mãe de João, a Rainha Eleanor, que publicamente suporta a reivindicação de João, privadamente admite que a “forte possessão” está muito mais do lado deles do que o “direito” (1.1.39-4). Todas as partes concedem, então, que a reivindicação do jovem Arthur é legalmente superior.
Entretanto, tal reivindicação levanta sérias questões práticas, porque ela desafia o status quo. João é um rei de fato, e Arthur uma criança. Para tornar o dilema completo, Arthur não tem ambição de governar e aparentemente não tem talento para a liderança. Sem o incansável zelo de sua mãe viúva, Constance, Arthur se recolheria para um mundo privado de bondade e amor, onde suas virtudes brilhariam. Ademais, a defesa intransigente de Constance à legítima reivindicação de seu filho requer que ela busque aliança com a França para uma invasão à Inglaterra. Essa estarrecedora possibilidade de invasão e guerra civil inevitavelmente coloca a questão: a substituição de João por Arthur vale o preço? O que é melhor – um regime atual invalidado por uma reivindicação duvidosa e de acordos políticos ou a restituição do “direito” por meios violentos e potencialmente autodestrutivos?
Shakespeare se recusa à simplificar às questões. João não é nem um tirano monstruoso nem um herói mártir, apesar de ambas as interpretações estarem disponíveis para Shakespeare nos escritos históricos do século dezesseis. Os historiadores católicos condenaram João no passado, em parte, pelo menos, por causa de sua interferência na Igreja. A Reforma Inglesa causou a reescrita consciente da história, e, na peça de John Bale Rei Johan (1538, com revisões posteriores), o protagonista é, incontestavelmente, um defensor do direito. Séculos à frente de seu tempo, esse Rei João compreende os verdadeiros interesses ao resistir à invasão da Igreja Internacional. Ele falha somente porque seus súditos são supersticiosos e seus aristocratas as vítimas da intromissão Católica. A peça de Bale é, transparentemente, um aviso à Inglaterra Tudor. Esse retrato de João como um mártir continua intenso nos Atos e Monumentos de John Foxe e nas crônicas de Richard Grafton e Raphael Holinshed, que eram baseadas em Foxe. A mais agressiva de todas é a peça chamada O Problemático Reinado de Rei João (cerca de 1587-1591), outrora pensada como sendo de Shakespeare e analisada por alguns editores recentes como um quarto desautorizado do texto de Shakespeare, mas agora geralmente considerada como obra de um dramaturgo mais chauvinista, mais provavelmente George Peele. Apesar de geralmente próxima da peça de Shakespeare em sua narrativa dos eventos, ela também contém cenas de um humor anticatólico do mais degradante, apresentando abades grosseiros que ocultam freiras em seus quartos privados, e coisas do gênero. Contra tal instituição corrupta, a pilhagem empreendida pelo seguidor leal de Rei João, Philip, o Bastardo, (também conhecido como Sir Ricardo Plantagenet), é inteiramente justificável. João e o Bastardo seriam invencíveis, se não fossem as lealdades de bases católicas da nobreza.
Shakespeare conscientemente recusa-se a endossar tanto a interpretação Católica quanto a Protestante do reinado de Rei João. (Curiosamente, nenhum lado esboçou qualquer interesse na Magna Carta; pelo menos até o século dezessete, que interpretou aquele evento como um famoso precedente das restrições constitucionais impostas ao monarca.) Com efeito, algum anticlericalismo ainda permanece na peça. João grandiosamente proclama que “nenhum padre Italiano / deve receber o dízimo ou os tributos em nossos domínios.” João é a “cabeça suprema” da Igreja e do Estado (título, de fato, reivindicado por Henrique VIII), defendendo seu povo contra “esses padres intrometidos” com suas “bruxarias malabaristas” (3.1.153-69). Entretanto, o Rei João de Shakespeare não é vingativo em relação à Igreja. Ele confisca uma parte de sua riqueza, não como represália, mas para suportar suas custosas campanhas militares; quando ele é envenenado por um monge, nem João nem ninguém assume que uma conspiração Católica é responsável – como no Problemático Reino. Similarmente, a oposição dos barões a João não é motivada por inclinações secretas em relação à Roma, mas pela repulsão entendível em relação ao aparente assassinato de Arthur.
O tratamento balanceado de Shakespeare não necessita refletir meramente suas próprias lealdades políticas, não importando quais elas fossem. Artisticamente, Rei João é um estudo do impasse, de torturados dilemas políticos os quais não há uma resposta clara. Como as pessoas se comportam sob tais condições difíceis? A peça de Shakespeare é notável por sua sensibilidade e compaixão em relação a todos os lados. Seus personagens mais completamente simpáticos são aqueles pegos inocentemente no fogo cruzado político, assim como Arthur e Lady Blanche. Entre os maiores concorrentes ao poder, todos exceto o cruel Delfim Lewis são guiados por intenções dignas e, entretanto, são forçados a fazer compromissos desastrosos e autocontraditórios. Constância deve, por toda sua mente virtuosamente singular, buscar uma invasão Francesa da Inglaterra. O Rei Filipe da França, obrigado à causa de Constância por todos os votos sagrados do céu, muda seu propósito quando a Inglaterra oferece uma lucrativa aliança de casamento e então altera rapidamente de volta, quando o papado demanda, em nome da Igreja, que Filipe puna o Rei João por heresia. A consciência de Filipe está apreensiva em relação a ambas as decisões, mas, o que um rei deve fazer quando encara escolhas práticas que afetam o bem estar de seu povo e sua própria segurança política?
Mesmo Pandolfo, o núncio papal, pode ser visto como um estadista bem-intencionado pego na rede do compromisso político. Presumivelmente, ele é insincero em sua crença que a oposição de Rei João ao papado – em particular, sua recusa em aceitar a escolha do Papa, Stephen Langton, como Arcebispo de Cantuária – representa uma grave ameaça à Cristandade. Entretanto Pandolfo revela uma astúcia sem princípios quando ele ensina o Rei Filipe como ludibriar um voto sagrado, ou quando instrui o apto jovem Lewis na intriga Maquiavélica. Como Pandolfo explica, a França pode explorar a captura de Arthur pelo Rei João ao invadir à Inglaterra em nome de Arthur, forçando assim João à assassinar seu sobrinho para findar à reivindicação rival ao trono. A morte de Arthur iria, sucessivamente, levar à nobreza da Inglaterra para o lado Francês. Através desse ardil, o aparente azar da captura de Arthur pode, perfeitamente, ser revertida em vantagem a França e a Igreja Internacional (3.4.126-81). Lewis aprende bem sua lição. O que Pandolfo falhou em considerar foi a insinceridade da aliança de Lewis com o poder papal. Quando o núncio alcança, através da invasão, o que quer – a submissão de João – e então tenta impedir o exército de Lewis, Pandolfo descobre muito tarde que o jovem homem Francês importa-se somente com a guerra sobre os seus próprios termos. A astúcia de Pandolfo torna-se uma arma apontada contra si mesmo.
João é, como seus inimigos, um homem talentoso, justamente punido pelas suas próprias perjuras. Suas falhas são sérias, mas são, também, compreensíveis. Dado o fato que ele é rei, seu desejo em manter o governo serve seus próprios interesses e àqueles da ordem política em geral. O acordo pelo qual João entrega seus territórios em França de Angiers, Touraine, Maine, Poitiers, e o restante, com o intuito de fazer as pazes com a França, é prudente sob as circunstâncias, mas é um golpe aos sonhos Ingleses de grandeza que João professava sustentar. Quando a França imediatamente repudia esse tratado, João meramente recebe o que merece ao entrar em tal acordo. Sua resignação da coroa ao papado é, novamente, o astuto resultado do ceder a menos perigosa das alternativas disponíveis, contudo, diminui a já abalada autoridade de João.
O mais abominável é a determinação em livrar-se de Arthur. Ele tem razões persuasivas, com efeito. Como Pandolfo prediz, a invasão Francesa à Inglaterra, usando a reivindicação de Arthur como pretexto, força João a considerar Arthur como uma ameaça imediata a si mesmo. (A Rainha Elizabeth angustiou-se, há muito, sobre um problema similar com sua prisioneira, Maria, Rainha dos Escoceses; tanto tempo quanto a própria vida de Maria, Católica e pleiteante ao trono, os Católicos Ingleses tinham um ponto reanimador perene.) O que um rei governante deve fazer com um pretendente rival ao trono aprisionado? Como Henrique IV também descobre, uma vez que ele captura Ricardo II, a exigente morte lógica é inexorável. Entretanto, tal coisa não é apenas assassinato mas, também, o assassinato de um parente próximo e do consagrado do Senhor, aos olhos daqueles que acreditam que o cativo, nesse caso Arthur, é o rei legítimo. Ademais, é certo o tiro pela culatra e a punição ao autor, ao despertar o ressentimento nacional e a rebelião. João rapidamente lamenta à morte de Arthur, mas suspeitamos que o lamento é, em parte, motivado pelo medo das consequências. O mesmo dilema irônico que protege João contra seus próprios piores instintos, momentaneamente salvando o garoto dos instrumentos de tortura de Hubert, também justamente previne João de obter qualquer benefício político desse breve adiamento; Hubert chega tarde, Arthur morre em uma queda, e os nobres estão convencidos da culpa de João. Com adequada ironia, João é punido pelo seu crime depois que ele decidiu não executá-lo e depois do próprio assassinato ter falhado.
A palavra usada para resumir a trama política universal e o juramento quebrado nessa peça é commodity, ou, autointeresse (2.1.574). A palavra é introduzida pelo Bastardo, a fascinante figura córica de Rei João, cujas reações aos eventos da peça são tão importantes as formarmos as nossas próprias. O Bastardo é um estranho por nascimento e, assim, não está em débito com os benefícios geralmente vergonhosos da sociedade. Como o filho natural do grande Rei Ricardo Coração de Leão, o Bastardo é um herói do folclore; ele é instintivamente real e, no entanto, um plebeu, uma projeção das inclinações sentimentais da plateia Elisabetana pela monarquia e, ao mesmo tempo, um herói representando um ponto de intersecção da sociedade. Ele é um personagem ficcional em um mundo, em grande parte, histórico. Sua discussão com seu ineficiente irmão Robert, sobre a herança das propriedades de seu pai, comicamente espelha às futilidades da discussão dinástica entre Rei João e Arthur. Em ambas as disputas, uma vontade deixada pelo falecido confunde à questão da prioridade genealógica. Assim João, que defende a reivindicação inusual do Bastardo sobre sua herança, descobre um aliado natural.
O Bastardo é estranhamente atraído pelo interesse [commodity] no início. Ele acha estimulante confiar sua sorte à guerra e ao favor real, em vez do conforto fácil de uma propriedade. As guerras permitem-no perseguir à auto-identidade. Depois de aprender de sua relutante mãe quem seu pai era, o Bastardo deve vingar-se perante o Duque da Áustria, que (historicamente inverídico) matou seu pai. Quando pela primeira vez confrontado com a ambiguidade moral da guerra, a resposta do Bastardo é maliciosa, quase como o Vício. Ele faz a sagaz sugestão, por exemplo, que a França e a Inglaterra deveriam unir-se contra a cidade de Angiers até que ela capitule, momento em que elas poderiam retomar a luta uma contra a outra. Claramente, essa proposta Maquiavélica encarna, mesmo satiriza, o espírito do interesse. Entretanto, o Bastardo não está motivado pelo autointeresse ou um cínico deleite ao ludibriar as pessoas, como o bastardo Edmundo em Rei Lear. A ilegitimidade desse Bastardo não tem tal relevância fatidicamente cósmica. Em vez disso, ele é em um primeiro momento um observador imparcial argucioso, ironicamente entretido com a absurdidade aparentemente inerente da política. Apesar dele protestar, também, que adoraria o lucro para seu próprio ganho, nós nunca o vemos fazendo isso. Apesar de sua imparcialidade filosófica, ele permanece leal à Inglaterra e a João. De fato, ele é o maior patriota da peça.
O teste supremo para o Bastardo é, assim como para todos os personagens bem-intencionados e para a plateia também, a morte de Arthur. O Bastardo deve experienciar o desapego e mesmo a repugnância, se ele quiser manter nossa simpatia como um córico intérprete. Entretanto sua função principal é triunfar sobre essa repugnância e, ao assim fazer, agir como contraparte aos mais precipitados Lordes Ingleses. Eles chegaram impetuosamente à conclusão que João é culpado da morte de Arthur. Isso é, claro, na maior parte verdade, mas eles não conhecem todas as circunstâncias, e a verdade, como é usual, é mais complicada do que eles supõem. Somente o Bastardo consistentemente expressa sua condenação em termos qualificados: “é uma obra maldita e sangrenta… Se isso foi obra de alguma mão” (4.3.57-9). Ademais, os Lordes concluíram que a culpa de João justifica-lhes a rebelião. Entretanto, eles inclinam-se para o benefício próprio do mesmo tipo que eles condenam. Eles lutam por um suposto bem para a Inglaterra ao aliarem-se com Lewis da França. Novamente, as ironias da justiça cósmica demandam que tais benefícios sejam pagos com a deslealdade. Os Lordes são salvos, por sorte, no momento certo, pela revelação do plano de Lewis por Lorde Melun, assim como João foi salvo de sua própria loucura obstinada pela gentileza de Hubert. A decisão do Bastardo de permanecer leal a João prova-se, assim, não somente prudente mas também correta. Ele conduziu nossas simpatias da desafeição até a aceitação. A rebelião apenas piora as coisas ao cair nas mãos dos oportunistas. A lealdade a João é, ainda, em um sentido, um tipo de benefício, pois ela envolve compromisso e aceitação da política, moralmente, como um mundo em si mesma. Entretanto, a lealdade é uma escolha consciente e é recompensada, no final, pela ascensão do jovem Henrique III, que combina a legitimidade política e a vontade de agir.
O final de Rei João não se dá sem suas ironias. A Inglaterra, tendo sofrido as incertezas dinásticas de uma criança pretendente ao trono (como também nas peças Henrique VI, Ricardo II, Ricardo II, e Eduardo II de Christopher Marlowe), deve agora encarar um novo destino sob o jovem e inexperiente Henrique III. A ironia é frequentemente ressaltada, pelo menos em algumas produções modernas, ao dobrar-se as partes de Arthur e Henrique III interpretados por um mesmo ator jovem. Há razão suficiente para supor que o problema não irá repetir-se? O papel do Bastardo em buscar afirmação é crucial, e, entretanto, ele assim o faz de seu ponto vantajoso como o mais visível personagem não-histórico da peça. Como um personagem ficcional, o Bastardo está livre para inventar ficções em torno de si, para instruir o Rei João em atuar em um papel que trará benefícios para a Inglaterra, e em modelar um discurso de conclusão no qual haverá esperança no futuro. Qual o tipo de consolação a ficção provê? Habitar no conflito entre a história e a ficção não significa subverter toda a esperança ao rotular a ficção como mera fantasia, mas chama atenção para a relação produtivamente ambígua entre a matéria obstinadamente histórica de Shakespeare e sua função como artista criativo.