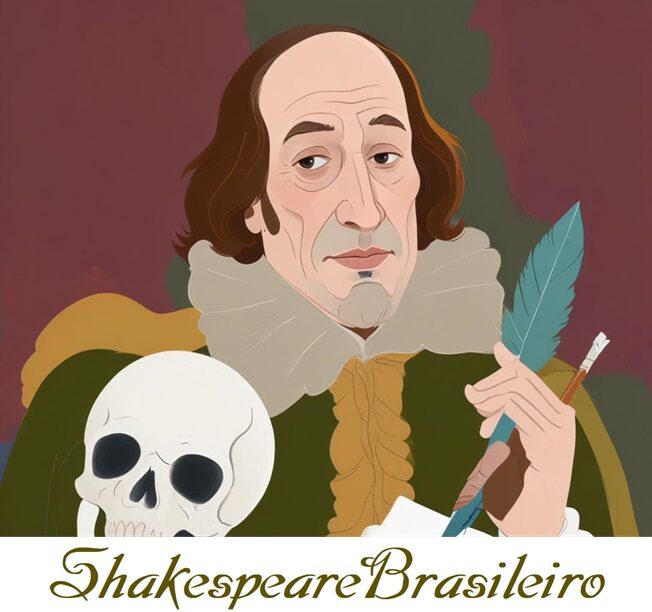Ricardo II (cerca de 1695-1596) é a primeira peça da grande saga histórica de quatro peças, ou tetralogia, que continua com as duas partes de Henrique IV (cerca de 1596-1598) e conclui-se com Henrique V (1599). Nessa segunda tetralogia, Shakespeare dramatiza o início do grande conflito chamado de Guerra das Rosas, tendo já dramatizado a conclusão dessa guerra civil em sua tetralogia anterior, em Henrique VI e Ricardo III (cerca de 1589-1594). Ambas as sequências movem-se da irrupção da facção civil ao triunfo eventual da estabilidade política. Juntas, elas englobam o longo século de agitação política da Inglaterra, de 1390 até a vitória de Henrique Tudor sobre Ricardo III em 1485. Entretanto, Shakespeare escolhe contar as duas metades dessa crônica em ordem reversa. O clímax de sua expressão sobre a monarquia em Henrique V foca em um período histórico anterior, na educação e no sucesso régio do Príncipe Hal.
Com Ricardo II, então, Shakespeare volta-se para os eventos que iniciaram o século de crise da Inglaterra. Esses eventos ainda estavam frescos e relevantes para as mentes Elisabetanas. A competição de Ricardo e Bolingbroke pela coroa Inglesa proporcionou um sóbrio exemplo de transgressão política e, ao menos por implicação, uma regra para a correta conduta política. Uma razão proeminente para estudar história, para um Elisabetano, era a de evitar os erros do passado. A relevância de tal analogia histórica era, de fato, vividamente enfatizada por volta de seis anos depois que Shakespeare escreveu a peça: em 1601, seguidores do Conde de Essex encarregaram à companhia de atuação de Shakespeare de interpretar uma peça revivida sobre Ricardo II, nas vésperas do que seria uma rebelião frustrada, talvez com a intenção de incitar tumulto. Não é certo que a peça era a de Shakespeare, mas é provável que sim. A companhia de atuação foi finalmente desculpada, mas não antes da Rainha Elizabeth concluir que ela estava sendo comparada com Ricardo II. Quando escreveu a peça, Shakespeare presumivelmente não sabia que ela poderia ser usada para esse propósito, mas ele deveria saber que a derrocada de Ricardo II foi, de qualquer forma, um assunto controverso por causa de seu uso potencial como um precedente para a rebelião. A cena da deposição de Ricardo (4.1) foi considerada tão provocativa pelo governo de Elizabeth, que ela foi censurada nos quartos impressos da peça de Shakespeare durante toda a vida da Rainha.
Em vista da surpreendente relevância desse pedaço da história para o próprio tempo de Shakespeare, então, quais são os acertos e erros da deposição de Ricardo, e qual a extensão que as lições políticas podem ser extraídas da representação de Shakespeare?
Para iniciar, nós não devemos subestimar às qualidades atrativas de Ricardo, como um homem e mesmo como um rei. Ao longo da peça, Ricardo é consistentemente mais impressivo e majestoso na aparência do que seu rival, Bolingbroke. Ricardo nos fascina com sua sensibilidade verbal, sua profundidade poética e sua autoconsciência dramática. Ele eloquentemente expõe uma visão sacramental da monarquia, de acordo com a qual “Nem toda a água no turbulento e rude mar / Pode lavar à unção de um rei ungido” (3.2.54-5). Bolingbroke pode depor Ricardo, mas nunca poderá capturar à aura de majestade que Ricardo possui; Bolingbroke pode ser bem-sucedido politicamente, mas somente às custas de uma ideia profana. Ricardo é muito mais interessante para nós como homem do que Bolingbroke, mais capaz à tristeza, mais meigo em seus relacionamentos pessoais, e mais necessitado em ser compreendido. De fato, um importante fator da tragédia de Ricardo é o conflito entre seu papel público (em que ele vê a si mesmo como divinamente nomeado, quase super-humano) e seu papel privado (em que ele é emocionalmente dependente e facilmente ferido). Ele confunde o que o mundo medieval e da Renascença chama de os “dois corpos” do Rei, o corpo sacramental da monarquia, que é eterno, e o corpo humano de um simples ocupante do trono, cuja frágil condição mortal está sujeita ao tempo e à fortuna. O fracasso de Ricardo em perceber e agir sabiamente perante essa diferença é parte de seu dilema trágico, mas sua profundidade cada vez maior, através do sofrimento, na verdade da distinção é, também, parte de seu crescimento espiritual. Seu dilema, apesar de comoventemente pessoal, encontra-se no coração da monarquia. Ricardo detém, assim, muito de um rei. Apesar de, às vezes, ele ceder ao sentimentalismo infantil, em seu melhor ele é soberbamente refinado, perceptivo e poético.
Não obstante essas qualidades, Ricardo é um governante incompetente, comparado com o homem que o suplanta. O próprio Ricardo confessa a extravagante despesa de uma “corte muito grande.” Para levantar fundos, ele é obrigado a “lavrar nosso reino real”; isto é, vender, por dinheiro imediato, o direito de coletar taxas para cortesãos individuais, que ficam então livres para extorquir o que o mercado suportar (1.4.43-5). Similarmente, Ricardo propõe a emissão de “cartas brancas” (linha 48) a seus subordinados, que estarão, então, autorizados à atualizar a quantia de taxas a serem pagas por qualquer sujeito desafortunado. Esses abusos eram infames às plateias Elisabetanas, símbolos do desgoverno autocrático. Não menos abominável foi o confisco de Ricardo do ducado de Lancaster de seu primo Bolingbroke. Apesar de Ricardo receber o consentimento de seu Conselho em banir Bolingbroke por causa de sua discórdia no conflito entre ele e Mowbray, o Rei viola a própria ideia de herança de propriedade quando retira o título e as terras de Bolingbroke. E, conforme seu primo Duque de York protesta, o próprio direito de Ricardo ao trono depende dessa ideia de herança. Ao contrariar o mais sagrado conceito da ordem e do grau, ele ensina aos outros a rebelarem-se.
O comportamento de Ricardo, mesmo antes da peça começar, levanta suspeitas. A natureza de sua cumplicidade na morte de seu tio Thomas de Woodstock, Duque de Gloucester, nunca é, talvez, inteiramente clara, e Gloucester pode ter sido provocativo. De fato, é possível simpatizar-se com o dilema de um jovem governante prematuramente acreditado ao centro do poder pela morte precoce de seu pai, o príncipe coroado, tendo agora que enfrentar vários tios que são experimentados conselheiros. Entretanto, Ricardo é inequivocamente culpado pelo assassinato aos olhos da viúva de Gloucester, enquanto que o meio-irmão dela, João de Gaunt, Duque de Lancaster, assume que Ricardo causou a morte de Gloucester, “a qual se injusta / Deixem os céus vingarem” (1.2.39-40). Aparentemente, também, o filho de Gaunt, Bolingbroke, acredita que Ricardo seja o assassino, e ele acusa Thomas Mowbray, Duque de Norfolk, em parte como um meio de constranger o Rei, a quem ele não pode acusar diretamente. O destino de Mowbray não é invejável: ele estava no comando em Calais quando Gloucester foi ali executado, e ele insinua que Ricardo ordenou à execução (mesmo que Mowbray alegue que ele próprio não deu a ordem). Por sua parte, Ricardo está muito feliz em banir o homem suspeito de ter sido seu agente no assassinato. Mowbray é um bode expiatório conveniente.
O tom polido e cerimonial da abertura da peça é corrompido, então, pela nossa crescente consciência da violência oculta e do faccionalismo ocorrendo por detrás da cena. Nossa primeira impressão de Ricardo é a de um rei devotado à exposição pública de uma imparcialidade conciliatória. Ele ouve às reivindicações rivais de Bolingbroke e Mowbray e, quando ele não pode reconciliá-los pacificamente, ele ordena um julgamento por combate. Esse julgamento (1.3) está repleto de repetições cerimoniais e rituais. Os combatentes estão devidamente juramentados à justiça de suas causas, e Deus decidirá a disputa ao conceder à vitória ao campeão que disser a verdade. Ricardo assume, como o oficial presidente, o papel do deputado ungido de Deus na Terra. Porém torna-se evidente, em algum momento, que Ricardo é o maior perpetrador da injustiça, em vez de um juiz imparcial, que Bolingbroke está em busca de objetivos maiores do que ele reconhece para si mesmo, e que a recusa de Ricardo em permitir que o julgamento por combate aconteça e o banimento dos dois competidores são formas desesperadas de esconder um problema que ele não pode lidar diretamente. Seus tios relutantemente consentem no banimento, somente porque eles, também, veem que a desafeição alcançou proporções alarmantes.
A motivação de Bolingbroke nessas cenas de abertura é, talvez, ainda mais obscura do que a de Ricardo. Nossa primeira impressão de Bolingbroke é a de franqueza, indignação moral e zelo patriótico. De fato, nós nunca realmente questionamos a sinceridade de sua ofensa em relação à desgovernança de Ricardo, seu anseio em vingar um assassinato de família (pois Gloucester era seu tio, também) ou seu amargo desapontamento ao ser banido. Porém somos incitados a perguntar mais: qual é a causa essencial da inimizade entre Bolingbroke e Ricardo? Se Mowbray é apenas um pretexto, a morte de Gloucester não é, também, uma desculpa para perseguir uma animosidade preexistente? Ricardo, primeiramente, parece pensar assim. Seu retrato de Bolingbroke como um conspirador político, que adula o povo para construir a aliança com ampla base contra o próprio Rei, é significativa e profética. Bolingbroke, diz Ricardo, age “Como se a Inglaterra fosse, em uma reversão, dele, / E ele o próximo degrau da esperança de nossos súditos” (1.4.35-6). Essa apreciação desfavorável poderia ser atribuída à inveja maliciosa da parte de Ricardo, se não fosse provada pelos eventos subsequentes como inteiramente precisa.
Paradoxalmente, Ricardo é, de longe, o mais presciente dos dois competidores ao trono Inglês. É ele, de fato, que percebe de antemão que o conflito entre eles é irreconciliável. Ele bane Bolingbroke como seu principal rival e não duvida de quais os motivos que trarão Bolingbroke de volta à casa novamente. Entrementes, Bolingbroke recusa qualquer outro motivo para seu retorno do que o amor pelo país e o ódio da injustiça. Apesar de ter nascido com a delicadeza política que falta a Ricardo, Bolingbroke não reflete (em voz alta, pelo menos) sobre as consequências de seus próprios atos. Como um homem de ação, ele vive no presente. Ricardo, pelo contrário, uma pessoa de esquisitos poderes contemplativos e imaginação poética, não ousa lidar com o prático. Ele inveja e despreza a facilidade de Bolingbroke com os comuns. Ricardo estima a monarquia por sua majestade e a prerrogativa real que ela confere, não pelo poder de governar sabiamente. Assim o é que, apesar de sua percepção do que se seguirá, Ricardo habitualmente cede a seus piores instintos, comprando um momento de frívolo prazer às custas de um desastre futuro.
Concedida a incompetência de Ricardo como um governante, é justificável a rebelião armada de Bolingbroke contra ele? De acordo com o tio de Bolingbroke, o Duque de York (que depois, de fato, altera sua lealdade) e o Bispo de Carlisle, Bolingbroke não tem justificativas para a rebelião. A atitude desses homens pode ser resumida pela frase “obediência passiva.” E, apesar do próprio pai de Bolingbroke, John de Gaunt, morrer antes de seu filho retornar à Inglaterra e tomar o poder, Gaunt, também, estaria em oposição a tais resistências humanas perante a sagrada instituição da monarquia. “De Deus é o conflito,” ele insiste (1.2.37). Porque Ricardo é o deputado ungido de Deus na terra, como Gaunt vê a questão, somente Deus pode punir os delitos do Rei. Gaunt pode não questionar à culpa de Ricardo, mas ele também não questiona a habilidade de Deus em vingar-se. Gaunt vê a intervenção humana nos negócios de Deus como blasfêmia: “pois eu nunca levantaria / Um braço furioso contra Seu ministro” (1.2.40-1). De fato, Gaunt reconhece o dever solene de oferecer conselhos francos para os extremistas de ambos os lados, e ele o faz generosamente. Ele consente no banimento de seu filho, e ele repreende Ricardo em seu leito de morte.
A doutrina da obediência passiva era familiar aos Elisabetanos, pois eles ouviam-na na igreja periodicamente, em homilias oficiais contra a rebelião. Foi a resposta do estado Tudor àqueles que afirmavam o direito de derrubar reis geralmente considerados ruins. O argumento era logicamente ingênuo. Por que governantes ruins tinham a permissão de governar de tempos em tempos? Presumivelmente, porque Deus deseja testar um povo ou puni-lo por insubordinação. Qualquer rei representando tal reprimenda é um flagelo divino. Consequentemente, a pior coisa que um povo pode fazer é rebelar-se contra o flagelo de Deus, assim manifestando mais insubordinação. Em vez disso, eles devem tentar remediar à insolência em seus corações, aconselhar o Rei à consertar seus métodos, e pacientemente esperar pelo perdão de Deus. Se assim fizerem, eles não serão desapontados por muito tempo. A doutrina é, essencialmente, conservadora, defendendo o status quo. Ela é reforçada, nessa peça, pela profecia do Bispo de Carlisle, que Deus irá vingar-se através da guerra civil a deposição de seu ungido (4.1.126-50); uma plateia Elisabetana apreciaria à ironia da profecia ter-se realizado e ter sido o tema da primeira tetralogia histórica de Shakespeare. Ademais, em Ricardo II, a doutrina da obediência passiva é uma posição moderada entre os extremos de tirania e rebelião, e é expressada por personagens sérios e altruístas. Nós podemos ser tentados à rotulá-lo como a visão de Shakespeare, se nós não percebermos que a doutrina é continuamente colocada em conflito irônico com duras realidades políticas. O personagem que mais reflete às ironias e mesmo às ridículas incongruências da posição é o Duque de York.
York é, até um certo ponto, um personagem córico, isto é, alguém que ajuda a direcionar nosso ponto de vista, porque sua transferência de lealdade de Ricardo para Bolingbroke estruturalmente delineia o declínio da sorte de Ricardo e o coincidente aumento da de Bolingbroke. No início, York compartilha a relutância de seu irmão Gaunt em agir, apesar da consternação deles perante a desobediência de Ricardo. No momento em que Ricardo confisca o ducado de Lancaster, York não pode mais segurar sua língua. Sua condenação é tão amarga como a de Gaunt, insinuando até a perda de aliança. (2.1.200-8). Ainda, ele aceita a responsabilidade, concedida de forma tão cavalheiresca por Ricardo, de governar à Inglaterra na ausência do Rei. Ele reúne todas as forças que pode para opor o avanço de Bolingbroke e discursa contra essa rebelião com a mesma veemência que ele usou contra o despotismo de Ricardo. Ademais, quando encara a esmagadora superioridade militar de Bolingbroke, ele cede, em vez de lutar em nome de uma causa perdida. Não importando o quanto isso possa lembrar covardice ou mera conveniência, ela também mostra uma lógica pragmática. Uma vez que Bolingbroke torna-se um rei de fato, na visão de York, ele deve ser reconhecido e obedecido. Por um tipo de analogia com a doutrina da obediência passiva (que teóricos mais rigorosos nunca permitiriam), York aceita o status quo como inevitável. Ele está vigorosamente pronto para defender o novo regime, assim como anteriormente defendeu o governo de jure de Ricardo. A lealdade inconsistente de York ajuda a definir a estrutura da peça.
Quando, entretanto, essa conclusão leva York ao ponto de virar-se contra seu próprio filho, Aumerle, como traidor e discutir com sua esposa se o filho deles deve viver, a absurdidade irônica é aparente. Bolingbroke, agora Rei Henrique, está encantado, em um dos raros momentos felizes da peça (5.3.79-80). Ao mesmo tempo, a comédia lida com questões sérias, especialmente o conflito entre a responsabilidade pública encorajada por sua Duquesa – um conflito visto antes, por exemplo, no debate entre Gaunt e sua meia-irmã, a viúva Duquesa de Gloucester (1.2). Quando uma família e um reinado estão divididos um contra o outro, pode não haver, realmente, nenhuma resolução satisfatória.
Nós nunca estamos inteiramente convencidos que todas as ótimas teorias velhas e medievais em torno da monarquia – direito divino, obediência passiva, julgamento por combate, e assim por diante – puderam explicar ou remediar inteiramente a complexa e repugnante situação política que aflige à Inglaterra. O único homem capaz de ação decisiva, de fato, é quem nunca teoriza: Bolingbroke. Como vimos, seu motivo declarado ao opor-se a Mowbray – simples indignação patriótica – é dita com tal sinceridade que nós nos perguntamos se, de fato, Bolingbroke examinou essas ambições políticas em si mesmo, que são tão claramente visíveis para Ricardo e outros. A mesma discrepância entre a superfície e a profundidade aplica-se aos motivos de Bolingbroke ao retornar à Inglaterra. Não podemos ter certeza em que momento ele começa a tramar tal retorno; a conspiração anunciada por Northumberland (2.1.224-300) segue-se logo depois da violação dos direitos de hereditariedade de Bolingbroke por Ricardo e já está tão avançada, que nós temos a impressão de uma conspiração já existente, apesar que um pouco dessa impressão pode ser simplesmente devida a compressão do tempo histórico característico de Shakespeare. Quando Bolingbroke chega à Inglaterra, de qualquer forma, ele reclama a York, com aparente sinceridade apaixonada, que ele veio apenas pelo seu ducado de Lancaster (2.3.113-36). Se assim é, por que ele manda executar os seguidores de Ricardo sem autoridade legal e, por outro lado, estabelecendo sua própria reivindicação ao poder? Por que ele insulta Ricardo com calúnias homofóbicas, insinuando que os favoritos de Ricardo “Quebraram a propriedade de uma cama real” (3.1.13), quando, até onde podemos ver da devoção que Ricardo mostra a sua rainha, as acusações são inventadas e inverídicas? Bolingbroke seriamente pensa que ele pode reclamar seu ducado pela força e então ceder a Ricardo sem mantê-lo como um rei marionete ou colocar a si mesmo em um intolerável risco? E pode ele supor que seus aliados, Northumberland e o restante, que agora abertamente desafiaram o Rei, iriam consentir no retorno ao poder de alguém que nunca confiaria neles novamente? É nesse contexto que York protesta, “Bem, bem, eu vejo o resultado dessas armas” (2.3.152). A deposição de Ricardo e, então, a sua morte são conclusões inevitáveis, uma vez que Bolingbroke foi bem-sucedido em uma rebelião armada. Não é possível voltar atrás. Entretanto, Bolingbroke simplesmente não pensará nesses termos. Ele permite que Northumberland proceda com uma dureza quase sádica na prisão e impeachment de Ricardo e então adverte Northumberland em público por agir tão duramente; o trabalho sujo segue, com Northumberland assumindo a culpa, enquanto Bolingbroke assume uma pose de estadista. Quando o novo Rei Henrique descobre – para sua surpresa, evidentemente – que a vida de Ricardo é agora um peso ao estado, ele pondera em voz alta, “Eu não tenho amigos que irão livrar-me desse medo vivo?” (5.4.2) e então repreende Exton por proceder como sinalizado.
O espírito pragmático de Bolingbroke e o novo modo de governo são a encarnação de um governo de fato. Por fim, a justificação por sua autoridade é o próprio fato de sua existência, seu funcionamento. Bolingbroke é o homem da hora. Para aplicar o surpreendente contraste de William Butler Yeats, os usurpadores Lancastrianos, Bolingbroke e seu filho, são vasilhames de argila, enquanto Ricardo é um vasilhame de porcelana. Um é durável e utilitário, ainda que sem atrativos; o outro é esquisito, frágil e não prático. A comparação não nos força a preferir um ao outro, mesmo que Yeats ele próprio apoie à beleza contra a política. Em vez disso, Shakespeare nos dá a escolha, permitindo-nos ver em nós mesmos uma inclinação no sentido da estabilidade política e social ou no sentido do temperamento artístico.
O paradoxo pode sugerir que as qualidades de um bom administrador não são as de um homem sensível e profundo. Apesar de irremediável como um rei, Ricardo permanece diante de nós, crescentemente, como uma pessoa introspectiva e fascinante. As contradições de seu personagem são habilmente focadas na cena da quebra do espelho, durante sua deposição: é, ao mesmo tempo, simbólica de um narcisista, uma superficial preocupação pelas aparências e uma busca por uma verdade mais profunda, interior, assim, o despedaçamento do espelho é um ato de autodestruição e de autodescoberta. Quando o poder de Ricardo desmorona, seu espírito aumenta, como se uma perda de poder e de identidade real fossem necessárias para a descoberta dos valores verdadeiros.
Nisso há uma tímida antecipação do autoaprendizado de Lear, temeroso e preciosamente adquirido. O traço é apenas fino aqui, porque em boa parte Ricardo II é uma peça de história política, em vez de uma tragédia e porque a autorrealização de Ricardo é imperfeita. Entretanto, quando Ricardo encara a deposição e a separação de sua rainha, e, especialmente quando ele está sozinho na prisão esperando a morte, ele esforça-se para entender sua vida e, através dela, a condição geral da humanidade. Ele ganha nossa simpatia no maravilhoso intercâmbio entre esse rei deposto e o pobre noivo de seu estábulo, que uma vez cuidou do cavalo de Ricardo, ruão Bárbaro, agora posse do novo monarca (5.5.67-94). Ricardo percebe uma contradição nas garantias dos céus em relação à salvação: Cristo promete receber todas as crianças de Deus, e Ele também adverte que é tão difícil para um homem rico entrar no céu quanto um camelo passar através de um buraco de agulha (5.5.16-17). O paradoxo ecoa as Beatitudes: o último deve ser o primeiro, o submisso deve herdar a terra. Ricardo, agora um dos rebaixados, busca às cegas por um entendimento das vaidades das realizações humanas por meio das quais ele pode aspirar à vitória prometida por Cristo. No momento de sua morte, tal vitória parece garantida: sua alma sentará em seu assento nas alturas “Embora minha grosseira carne afunde para baixo, morrendo aqui” (linha 112).
Nesse triunfo do espírito sobre a carne, o longo movimento para baixo da fortuna mundana de Ricardo é crucialmente revertido. Da mesma forma, o sucesso mundano de Bolingbroke é mostrado como não sendo mais que isso: sucesso mundano. Seu arquétipo é Caim, o assassino primordial de um irmão. Até o ponto em que a peça é uma história, o sucesso de fato de Bolingbroke é uma questão de relevância política; mas, no movimento tardio no sentido da tragédia pessoal de Ricardo, nós experienciamos um profundo contramovimento que alcança, parcialmente, um sentido catártico de redenção e reconforto. Não importando o que Ricardo possa ter perdido, seu ganho é, também, grandioso.
O balanço e a simetria são anormalmente importantes em Ricardo II. A peça começa e termina com elaboradas reverências rituais ao conceito de ordem social e monárquica, e ainda, em ambos os casos, uma nota de desordem pessoal recusa-se a ser subjugada pelo cerimonial público. Shakespeare mantém nossa resposta a Ricardo e Bolingbroke ambivalente ao enublar as respectivas responsabilidades deles nos assassinatos. Assim como o papel de Ricardo na morte de Gloucester permanece confuso, assim o papel de Bolingbroke no assassinato de Ricardo permanece igualmente indistinto. Mowbray e Exton, como bodes expiatórios, são paralelos em alguns aspectos. Por causa que Ricardo e Bolingbroke estão ambos implicados nas mortes de parentes próximos, ambos são associados com o assassinato de Abel por Caim. Conforme Bolingbroke ascende à fortuna mundana, Ricardo decai; conforme Ricardo encontra discernimento e libertação através do sofrimento, Bolingbroke encontra a culpa e o remorso através da desagradável necessidade política. Verbal e estruturalmente, a peça explora a figura retórica do quiasma, ou o emparelhamento dos opostos em um padrão diagonal e invertido pelo qual um declina e o outro ascende e vice-versa. Repetidamente, os efeitos rituais da encenação e do estilo chamam nossa atenção para os conflitos equilibrados entre os dois homens e dentro de Ricardo. A simetria ajuda a focar nesses conflitos de forma visual e auditiva. Em particular, a cena da deposição, com seu espetáculo de coroação invertido, traz os lados sacramentais e humanos da figura central para um comovente relacionamento dramático.
As mulheres interpretam papéis secundários nessa peça sobre os conflitos masculinos por poder, e, entretanto, as breves cenas em que as mulheres atuam – a Duquesa de Gloucester com Gaunt (1.2), a rainha de Ricardo com seus cortesãos e jardineiros e então com o próprio Ricardo (2.2, 3.4, 5.1), a Duquesa de York com seu marido e filho e com o Rei Henrique (52.-5.3) – enfatiza para nós importantes contrastes temáticos entre as esferas públicas e privadas, poder e impotência, conflito político e a sensibilidade humana, o estado e a família. As mulheres, excluídas dos papéis de autoridade prática, oferecem, entretanto, uma perspectiva crítica inestimável sobre os jogos políticos fatais e frequentemente auto-consumidores que os homens jogam entre si mesmos. Como em Júlio César e Tróilo e Créssida, os homens em Ricardo II ignoram os avisos e os conhecimentos das mulheres para o seu próprio perigo e para o desconcerto do corpo político.
A imagética de Ricardo II reforça a estrutura e o significado. A peça é diferente das peças históricas que seguem no uso extensivo do verso branco e da rima e em conjuntos interligados de imagens recorrentes; Ricardo II é, nesse aspecto, mais típica do chamado período lírico (cerca de 1594-1596) que também produziu Romeu e Julieta e Sonho de uma Noite de Verão. Os padrões das imagens estabelecem à peça em nossa imaginação como um tipo de Éden perdido. A Inglaterra é um jardim mal cuidado pelo seu jardineiro real, por isso as ervas daninhas e as lagartas (exemplificadas por Bushy, Bagot e Green) prosperam. A cena do “jardim” (3.4), localizada próxima do centro da peça, oferecendo um refúgio temporário à reflexão alegórica sobre os eventos agitados da peça, é central no desenvolvimento da metáfora do jardim. A Inglaterra é, também, um corpo doente, levado à doença pelo seu médico real, e uma família dividida contra si mesma, produzindo uma prole frustrada e estéril. Suas doenças políticas são atestadas pelas desordens no Cosmos: cometas, estrelas cadentes, louros murchos e chuvas choramingantes. Corujas noturnas, associadas com a morte, prevalecem sobre as cotovias da manhã. O sol, realmente identificado no início com Ricardo, o deserta por Bolingbroke e deixa Ricardo como o Fáeton que manejou mal as charretes do deus sol e, assim, chamuscou a terra. Conectado com a imagem do sol está o motivo condutor da ascensão e descenso. E, tocando tudo isso, um grupo de imagens bíblicas vê à Inglaterra como um jardim do Éden espoliado, testemunhando uma segunda queda da humanidade. Ricardo repetidamente estigmatiza seus inimigos e desertores como Judas ou Pilates – nem sempre justamente; entretanto, em sua última agonia, ele encontra consolação genuína no exemplo de Cristo. Para um homem tão “auto-absorvido” no drama de sua existência, esse método poético é intensamente adequado. A linguagem e a ação de palco combinam perfeitamente para expressar o conflito entre um rei sensível mas fraco e seu eficiente mas inamável sucessor.
Em performance, a peça pertence a Ricardo. Não importando se ele termina como o perdedor, seu papel proclama um tipo de carisma real que Bolingbroke nunca alcança. Tal foi o efeito, de qualquer forma, na representação do papel por Brian Bedford em Stratford, Canadá, em 1983; a aparição dele nas muralhas do Castelo Flint em 3.3, esplendidamente vestido em túnicas brancas, com adornos dourados, encarnava uma imagem régia da monarquia que foi, então, forçada a submeter-se ante o poder bruto de Bolingbroke. John Gielgud, Alec Guinness, Michael Redgrave, Paul Scofield, John Neville, Ian McKellen, Ian Richardson, Richard Pasco, Derek Jacobi, Alan Howard, Jeremy Irons, Ralph Fiennes, a atriz Fiona Shaw e ainda outros proeminentes intérpretes de seus dias, encontraram no papel um no qual eles podiam fascinar às plateias com a cadência gradativa das falas de Ricardo. O papel também rendeu um amplo alcance de interpretações; Guinness o viu como um neurótico infeliz, Gielgud como cordial, Redgrave como efeminado, Scofield como intelectual e indiferente, McKellen como alguém convencido de sua natureza semidivina. A peça também tornou-se um veículo para o espetáculo e de admiráveis efeitos visuais enfatizando as simetrias da atenção do texto ao simbolismo poético e ao ritual social; a brilhante ostentação e o esplendor decadente competem pelo nosso interesse e nossas lealdades.