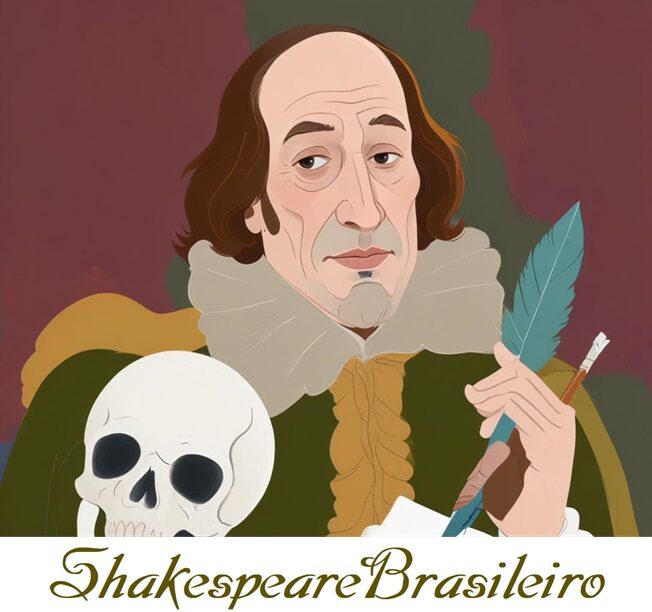Durante a maior parte do século XV, a Inglaterra sofreu a devastação da guerra civil. Dos longos conflitos entre os Lancastres e os Yorkistas, a chamada Guerra das Rosas, o país emergiu, em 1485, abalado mas finalmente unido sobre o forte governo dos Tudors. Para os Elisabetanos, esse período de guerra civil era, ainda, um evento recente que testou e quase destruiu à autonomia da Inglaterra. Eles estavam, além disso, apreensivos com suas próprias incertezas políticas e dinásticas. A Rainha Elizabeth, neta do primeiro rei Tudor, Henrique VII, estava solteira e envelhecendo, e seu sucessor não estava determinado. Os inimigos católicos dela em casa e fora tramavam um retorno da antiga fé renunciada por Henrique VIII em sua reforma da igreja. A Espanha tentou uma invasão da Inglaterra com a Grande Armada em 1588, talvez dois anos antes de Shakespeare começar a escrever suas peças sobre Henrique VI. Foi em tal era de crise e excitação patriótica que as peças Henrique VI apareceram pela primeira vez. De fato, elas ajudaram a estabilizar a moda da peça de história Inglesa, que iria florescer ao longo dos anos 1590. As guerras civis da Inglaterra podiam ser estudadas e analisadas agora, de uma perspectiva de mais de cem anos depois, e talvez poderiam prover uma chave para o momento presente. À disposição estava uma nova edição das Crônicas, 1587, de Raphael Holinshed, juntamente com as crônicas anteriores escritas por Robert Fabyan, John Stow e Richard Grafton, assim como A União das Duas Nobres e Ilustradas Famílias de Lancaster e York, de Edward Hall, os Atos e Monumentos dos Mártires, de John Foxe, e Um Espelho para Magistrados.
Como essas guerras começaram? Os Elisabetanos buscaram por uma resposta, não em termos econômicos ou sociais, mas em religiosos e morais. De acordo com uma explicação tradicional e advogada pelo governo, refletida em uma extensão maior (apesar de com muitas contradições) nas crônicas de Edward Hall, e familiar a Shakespeare não importando se ele concordava ou não, a Guerra das Rosas foi uma manifestação da cólera de Deus, uma punição divina infligida no povo da Inglaterra por causa de seu comportamento desordeiro. O povo e seus governantes trouxeram a guerra civil sobre si mesmos por ambição egoísta, arrogância e deslealdade. O avô do Rei Henrique VI, Henrique IV, chegou ao trono em 1399, ao depor e então executar seu próprio primo, Ricardo II (um momento muito importante, a ser retratado por Shakespeare em uma peça histórica posterior). Henrique VI era uma criança quando sucedeu ao trono em 1422, devido à morte precoce de seu pai, Henrique V. Muito jovem para governar em um primeiro momento, e nunca abençoado com a habilidade de seu pai de agir firmemente, Henrique VI foi totalmente incapaz de pausar a luta pelo poder avançada entre os membros de sua ampla e discordante família. Finalmente, seu próprio título ao trono foi disputado pelo seu parente Ricardo Plantagenet, Duque de York, que reivindicava ser o legítimo rei, em virtude de sua descendência do tio de Henrique IV, Lionel, Duque de Clarence. A facção Yorkista marchou em batalha contra a facção Lancastriana de Henrique VI (assim nomeada pois a família detinha a posse do ducado de Lancastre por gerações), e a guerra aconteceu.
A visão providencial desses eventos não foi nunca totalmente endossada pelos cronistas e certamente não foi por Shakespeare. O esquema global de Edward Hall é indiscutivelmente providencial, e ainda, como um historiador, ele apresenta uma multiplicidade de detalhes que, cumulativamente, levantam difíceis questões de interpretação. Ao mesmo tempo, a visão providencial fazia uma boa propaganda para o regime Tudor, e, como tal, ela deu ampla atualidade à teoria da ira de Deus com relação a um povo rebelde. O resultado da guerra parece confirmar esse padrão: devastação universal e a morte dos responsáveis pelo conflito levaria, eventualmente, de acordo com a teoria, ao apaziguamento da ira de Deus e a restauração da ordem. Ricardo Plantagenet morreu no conflito, assim como Henrique VI, o filho de Henrique, Eduardo e muitos outros da nobreza Inglesa. O filho de Ricardo, Eduardo, sobrevive para tornar-se Eduardo IV, mas sua forma de obter o trono foi tão manifestamente ofensiva à Providência que (de acordo com a teoria) ele sofreu uma morte compensatória nas mãos de um Deus furioso, e foi sucedido pelo seu irmão mais novo, Ricardo III. Esse último rei Yorkista governou apenas dois anos, de 1483 a 1485, e foi através da insana vingança de Ricardo que Deus, finalmente, vingou-se do caprichoso povo Inglês. Tendo completado essa purgação, Deus escolheu como seu instrumento de uma nova ordem Henrique Tudor, Conde de Richmond, Henrique VII. Apesar do retorno de Henrique à Inglaterra e a derrota de Ricardo na batalha do Campo Bosworth poderem externamente relembrar o confisco do poder de Henrique IV em detrimento de Ricardo II, a diferença era crucial para os apologistas Tudors. Ricardo III seria visto, do ponto de vista dos Tudor, não como um monarca legítimo equivocado, mas como um usurpador louco e tirano; sua derrota não foi apenas o ato de desobediência de um homem, mas o levantar-se da nação Inglesa inteira perante à incitação do comando divino. A ascensão de Henrique VII ao poder foi oficialmente vista não como um precedente para mais rebelião, mas como uma manifestação da vontade divina sem paralelo na história da humanidade.
A essência dessa visão providencial dos eventos era que o castigo divino e a eventual reconciliação revelavam-se na história da guerra. A teoria, claro, servia aos interesses do estado Tudor e era, em parte, uma arma de propaganda calculadamente empregada pela classe governante. A aceitação de Shakespeare a tal teoria não deve ser tomada de antemão, e, de fato, vários estudos recentes expressaram um profundo ceticismo em relação à teoria como uma base para a dramaturgia de Shakespeare. Especialmente em sua segunda tetralogia, ou série de quatro peças, de Ricardo II a Henrique V, Shakespeare revela consideravelmente mais interesse no conflito de personalidades do que nos padrões de castigos divinos. Shakespeare não endossa à visão ortodoxa, que o confisco de poder de Bolingbroke foi uma violação do propósito divino pelo qual ele e a Inglaterra deveriam ser submissos; em vez disso, Shakespeare retrata às questões com múltiplos aspectos e sujeitas a várias interpretações.
Ao longo de suas peças históricas, de fato, Shakespeare evita expressar a visão Tudor da história recente através de narradores didáticos ou figuras que, em coro, poderiam representar o ponto de vista de peças inteiras; em vez disso, ele coloca sua interpretação nas bocas de personagens assumidamente parciais e auto-interessados, cujos motivos e testemunhos a plateia pode, então, avaliar se lhe parecem adequados. Em 1 Henrique VI, por exemplo, a exposição mais detalhada da visão histórica oficial é dada por Mortimer (2.5), cuja interpretação, apesar da autoridade especial, pelo fato que um homem moribundo está falando, é consistentemente auto-interesseira com sua própria reivindicação frustrada ao trono Inglês. Seu sobrinho, Ricardo Plantagenet, que, é claro, endossa à lógica anti-Lancastriana do discurso de Mortimer, é retratado como consumido pela ambição pela coroa. Na representação de Shakespeare do conflito Lancastriano-Yorkista, nenhum lado mantém uma posição ideológica mas, em vez disso, alteram seus argumentos conforme à conveniência do momento requer. Apesar de, em sua tetralogia anterior, de 1 Henrique VI até Ricardo III, Shakespeare permitir que seus personagens competidores escutem por detrás da deposição de Ricardo II, para explicarem os infortúnios das guerras civis Inglesas, esses personagens frequentemente falam com auto-interesse e interpretam à história conforme suas próprias vantagens.
As peças individuais dessa tetralogia anterior, se vistas ou lidas separadamente, não confortam consistentemente o espectador ou leitor com uma garantia que tudo está funcionando de acordo com o plano de Deus. Os próprios eventos, vistos da perspectiva imediata do momento, provêm pouco conforto. No final de 1 Henrique VI, o Rei Henrique rende-se a um casamento desastroso e perde a maior parte da França; no final de 2 Henrique VI, o bom Duque Humphrey de Gloucester está morto e seus inimigos políticos oportunistas estão prestes a retirar o Rei Henrique de seu trono. As hostilidades de Lancaster e York terminam na conclusão de 3 Henrique VI, como é óbvio, mas as possibilidades de uma paz estável são duvidosas, ao considerar a presença ameaçadora de Ricardo de Gloucester. A reciprocidade das chacinas que visitam ambos os lados parece originar-se tanto do insano desejo de vingança da humanidade quanto da retaliação de Deus. Somente em Ricardo III nós retroativamente vemos um padrão da ira divina, castigo e eventual apaziguamento que pode, então, ser aplicado à tetralogia como uma narrativa contínua. O argumento de E. M. W. Tillyard de uma leitura providencial dessas peças (em seu As Peças Históricas de Shakespeare, 1944) é baseado, não coincidentemente, em uma visão da tetralogia como um todo coerente. E o público que via as peças uma de cada vez? As peças, até onde sabemos, foram escritas e produzidas singularmente e nunca foram interpretadas em uma série contínua. Mesmo que a tetralogia como um todo possa harmonizar-se, em parte, com as crônicas de Edward Hall e outros, escritas para glorificar o estado Tudor e para agradecer porque este terminou com a anarquia prolongada do século XV, podemos ver que Shakespeare não é um apologista do estado Tudor. Ele dá expressão a uma ansiedade amplamente sentida em relação ao caos político. Em cada peça individual, e ao longo da tetralogia, a ironia cósmica predominante enfatiza o abismo entre a tola humanidade e as intenções inescrutáveis da Providência, oferecendo um potencialmente estimulante conflito do qual Shakespeare faz um brilhante uso.
Shakespeare escreveu sua primeira tetralogia em algum momento entre 1589 e 1592. Pierce Penniless, 1592, de Thomas Nash, refere-se a 1 Henrique VI como uma peça de grande satisfação para o público; A Groatworth of Wit, de Robert Greene, reformula uma linha de 3 Henrique VI naquele mesmo ano; o diário de Philip Henslowe registra a performance de “harey VI” na primavera de 1592; no mesmo ano, os Homens do Conde Pembroke, que interpretaram uma versão de 3 Henrique VI sob o título de A Verdadeira Tragédia de Ricardo, Duque de York, saíram dos negócios. Quanto dessa primeira tetralogia pode ter sido planejada quando Shakespeare iniciou seu trabalho é difícil de dizer. De fato, a própria ordem de composição foi, há muito tempo, disputada. Apesar da defesa do senso comum do Dr. Johnson, que a Parte Dois segue da Parte Um como uma consequência lógica, alguns estudiosos argumentam que a Parte Um foi composta por último. Uma peça de evidência é que uma versão corrupta da Parte Dois foi publicada na versão in quarto de 1594 como A Primeira Parte da Contenda Entre as Famosas Casas de York e Lancastre e que uma versão corrupta da Parte Três foi publicada in octavo em 1595 como A Verdadeira Tragédia de Ricardo, Duque de York. A Parte Um teve que esperar pela publicação no Primeiro Fólio de 1623 e foi registrada para publicação naquele momento como “A terceira parte de Henrique sexto.” Parece estranho, ademais, que as Partes Dois e Três não façam menção a Lorde Talbot, tão proeminente na Parte Um. Se, entretanto, como é provável, as versões impressas anteriormente das Partes Dois e Três fossem reconstruções de memória, sem a autoridade do livro de palco oficial, a reivindicação da Parte Dois ter sido escrita primeiramente pode parecer insubstancial. O próprio fato da publicação prévia das Partes Dois e Três pode explicar porque a Parte Um foi chamada de “A terceira parte”, em 1623. Apesar de Talbot não ser mencionado nas Partes Dois e Três, esses textos relembram importantes aspectos da Parte Um. É certamente possível que Shakespeare tenha escrito todas as três partes na ordem normal.
Igualmente incômoda é a questão da autoria. Muitas peças Elisabetanas foram escritas por conjunto de autores e Shakespeare pode ter colaborado com outros, especialmente no começo de sua carreira. Talvez ele reescreveu obras antigas de escritores como Thomas Nashe, Robert Greene e Christopher Marlowe. Teorias de autorias múltiplas, que foram senso comum entre os estudiosos do século dezenove e então foram muito desconsideradas na crítica do século vinte, têm sido novamente argumentadas pelos editores da Oxford Shakespeare (1986). Entretanto, há muita razão para acreditar que Shakespeare é, essencialmente, o autor da série Henrique VI inteira. O famoso ressentimento de Greene em relação a Shakespeare como a “pretensiosa gralha embelezada pelas nossas penas” parece mais a inveja de um talento menor do que a indignação justa de alguém que foi plagiado. O principal critério usado para “desintegrar” as peças nas mãos de vários supostos colaboradores é aquele do gosto e do estilo; por exemplo, as escassas cenas cômicas de Joana D’Arc foram, por um longo período, consideradas muito ásperas para o gênio de Shakespeare. Hoje, a maioria dos críticos veem uma consistência de visão ao longo das peças Henrique VI, apesar de inconsistências menores de fatos que podem ser o resultado de simples erros ou de se utilizar múltiplas fontes, e eles não encontram nada nessas peças que seja inimigo do germinante gênio de Shakespeare. Essa crença confirma o julgamento de Heminges e Condell, os companheiros atores de Shakespeare e os editores do Fólio de 1623, que colocaram todas as peças Henrique VI entre as obras coletadas de Shakespeare mantendo a ordem histórica.
Se Shakespeare foi, ao menos, o principal responsável pela série Henrique VI, ele pode ter sido um importante inovador no novo gênero da peça histórica. Somente a anônima Famosas Vitórias de Henrique V é certamente anterior ao lidar com a história Inglesa recente. Haviam, certamente, peças sobre história Britânica lendária, tais como Gorboduc ou As Desventuras de Arthur, ou sobre terras longínquas, tais como Cambises ou o Tamburlaine de Marlowe. Todas essas peças exploraram por analogia as questões políticas fascinantes para a Inglaterra Elisabetana, e o imenso sucesso de Tamburlaine certamente estabeleceu uma moda para grandes cenas de conquista militar. Ainda, a peça de história Inglesa como uma forma reconhecível nasceu com Henrique VI. O sucesso foi, evidentemente, tremendo e estabeleceu Shakespeare como um importante dramaturgo.
1 Henrique VI, como todas as peças da primeira tetralogia de Shakespeare, engloba um grande número de episódios, um considerável elenco de personagens e um amplo alcance geográfico. O tema é o da perda dos territórios Ingleses na França por causa das divisões políticas internas. A estrutura da peça é uma de ação sequencial mostrada em grande variedade e em cenas alternadas que são tematicamente justapostas e contrastadas umas com as outras. Nas rápidas idas e vindas entre as cortes Inglesa e Francesa, por exemplo, Shakespeare estabelece um tema paradoxal: a França triunfa sobre a fraqueza da Inglaterra, não através de sua própria força. A corte Francesa é, meramente, uma corte de corrompida frivolidade sexual. Os Ingleses são naturalmente superiores, mas estão separados por divergências internas, por uma “desafinada discórdia da nobreza,” e por um “dar de ombros um do outro na corte” (4.1.188-9) entre aqueles que tentavam obter vantagem do fraco governo de minoria de Henrique VI e sua reivindicação genealógica vulnerável. Dois jovens parentes de Henrique competiam por posição: Humphrey, Duque de Gloucester, e o Bispo de Winchester. As intenções de Humphrey são virtuosas, mas ele é incapaz de prevenir o esquema oportunista de seu rival. Winchester, apesar de seu chamado eclesiástico, é um homem de ambição maligna e vida corrupta, totalmente intencionada em destruir o correto Gloucester. Shakespeare emprega um zombeteiro humor anticlerical contra Winchester e emprega às simpatias Protestantes de sua plateia Elisabetana contra às intrometidas tentativas da Igreja Católica em explorar o fraco reinado da Inglaterra para seus próprios propósitos posteriores.
Mesmo assim, a ameaça à Inglaterra não é vista como uma conspiração católica completamente; Winchester é apenas um oportunista buscando explorar as vacilações políticas e o fragmentarismo da corte. De mais perigo a longo prazo é Ricardo Plantagenet, descendente da reivindicação Yorkista. Desde o início, Shakespeare retrata-o como astuto, capaz de insinuar-se e aguardar por seu momento e, finalmente, brutal. Com essas qualidades, ele ameaçadoramente prenuncia seu filho mais jovem e xará, Ricardo III. Nessa peça, a estratégia de Plantagenet é permitir que a Inglaterra quebre através dos vários conflitos na corte e com as perdas militares no exterior; uma vez que a situação é reduzida à anarquia, Plantagenet estará apto a mover-se. A estratégia funciona muito bem.
Lorde Talbot é o principal defensor do poderio militar da Inglaterra em França, e vítima eventual da disputa entre a nobreza Inglesa. Ele é a figura heroica dessa peça com a qual as plateias Elisabetanas identificavam-se. Como Thomas Nashe escreveu em seu Pierce Penniless, 1592: “Como teria se alegrado o bravo Talbot (o terror dos Franceses) em pensar que depois de dois séculos de sua descida para a tumba, ele triunfaria novamente no palco, tendo seus ossos novamente embalsamados com as lágrimas de dez mil espectadores no mínimo (várias vezes) que, no ator que representa sua pessoa, imaginaram pasmos ele respirando em carne e osso?” Como o herói inalterável de 1 Henrique VI, Lorde Talbot reivindica por unidade política e militar contra os Franceses e demonstra que, com tal unidade, a Inglaterra seria invencível. Talbot é “o terror dos Franceses” (1.4.42), capaz de resistir a uma tropa de soldados Franceses apenas com seus punhos, e renomado por dobrar barras de aço. Como a encarnação da cavalaria, ele entrega uma repreensão plenamente merecida a Sir John Falstaff (historicamente “Fastolfe,” mas chamado “Falstaff” no texto do Fólio dessa peça), o soldado covarde que prenuncia o cavaleiro gordo de 1 Henrique IV. Em 1 Henrique VI, a covardice e a honra são representadas em extremos negros e brancos. Talbot é um general modelo, ilustrando todas as qualidades da grande liderança advogada pelos compêndios da época: ele é um excitante orador, destemido, argucioso e preocupado com uma fama duradoura justa. Nas cenas tocantes com seu filho, Talbot eleva-se triunfante acima da morte para tornar-se a encarnação imortal do bravo soldado. Ainda, mesmo se 1 Henrique VI oferece este modelo de retórica e artes da liderança empregadas corretamente, a presença de Talbot, entretanto, empresta-se mais a uma profunda ansiedade em relação aos eventos históricos do que a uma confiança reconfortante na assistência divina. A morte desnecessária de Talbot oferece uma devastadora crítica da fraca liderança que permitiu às autoridades em França serem divididas entre rivais políticos.
As relações entre homens e mulheres, nessa peça, são também usadas para criar contrastes temáticos. A principal rival militar de Talbot em França é Joana D’Arc; e, apesar de muitos estudiosos anteriores quererem negar à autoria de Shakespeare das cenas de Joana D’Arc, a função temática dela é central. Como uma mulher em uma armadura Joana é a encarnação da mulher Amazonas dominadora, a quem o efeminado e auto-indulgente delfim, Charles, fracamente capitula. Os papéis sexuais inverteram-se; Vênus triunfa sobre Marte. O papel de Joana como uma virgem-guerreira, a comunicação dela com a demonologia, e sua semelhança obscenamente paródica com a Virgem Maria, tudo sugere uma ambivalência orientada ao masculino em relação às mulheres em posições de autoridade – incluindo, por implicação, a Rainha Elizabeth. A sexualidade de Joana não é apenas diabólica, mas também obsessiva em sua promiscuidade e aparente instabilidade. Seus captores Ingleses no final da peça (5.4) ridicularizam Joana, que afirma ser virgem, enquanto tenta salvar sua vida declarando estar grávida. York troça, “Os céus agora proíbem! A resistente dama com criança?” Quando ela parece não saber quem é o pai, pois teve muitos parceiros sexuais, o deleite dele é incontido: “E ainda, de fato, ela é uma pura virgem!” (5.4.65, 83). A irreverência em relação a reivindicação dela de ser la Pucelle é assim combinada com um golpe Protestante na Católica Mariolatria. Ela ainda tenta praticar sua bruxaria (com insinuações sexuais) em Talbot e seu filho, mas em vão. O senso de dever de Talbot nunca sucumbe à voluptuosidade de Circe. Em seu encontro com a Condessa de Auvergne, Talbot talentosamente logra outra mulher que, como Joana, pretende ludibriá-lo. A Condessa finalmente se submete à autoridade cortesã mas firme de Talbot, assim reestabelecendo o relacionamento tradicional entre homens e mulheres. Talbot representa todo tipo de decência e ordem que deve prevalecer, mas é insensivelmente destruído pela divisão política da Inglaterra.
A última mulher introduzida na peça, Margaret de Anjou, é outra mulher dominadora. Sua relação adúltera com o mundano Suffolk, e sua ascendência sobre o fraco Henrique VI, terão graves consequências nas peças subsequentes. As cenas dela, apesar de outrora rejeitadas como reflexões tardias, conectando 1 Henrique VI com as peças seguintes, de fato recapitulam os motivos da dominância feminina com grande efeito dramático. O Jovem Henrique VI não é um Talbot; sem experiência no amor e altamente impressionável, ele rende-se à mera descrição de uma mulher que ele nem mesmo viu e recusa uma combinação politicamente vantajosa arranjada pelo Duque Humphrey para que ele possa casar-se com uma conivente mulher Francesa sem dote. O casamento também antecipa àquele de Eduardo IV (em 3 Henrique VI) com uma pobre viúva que encantou seus errantes olhos, quando Eduardo poderia ter obtido um generoso dote e uma aliança favorável ao casar-se com a meia-irmã do Rei Francês. Tais triunfos sombrios da paixão sobre a razão são emblemáticos do declínio geral da aristocracia Inglesa. Apesar da fraqueza de Henrique, ele é o personagem central da peça depois de tudo, e sua debilitada rendição ao amor é um anticlímax adequado para se terminar o primeiro episódio do declínio da Inglaterra. Somos deixados, no teatro, ao final de 1 Henrique VI, com um sentido estarrecedor de deslocação e perda a qual nenhum remédio parece estar à disposição.