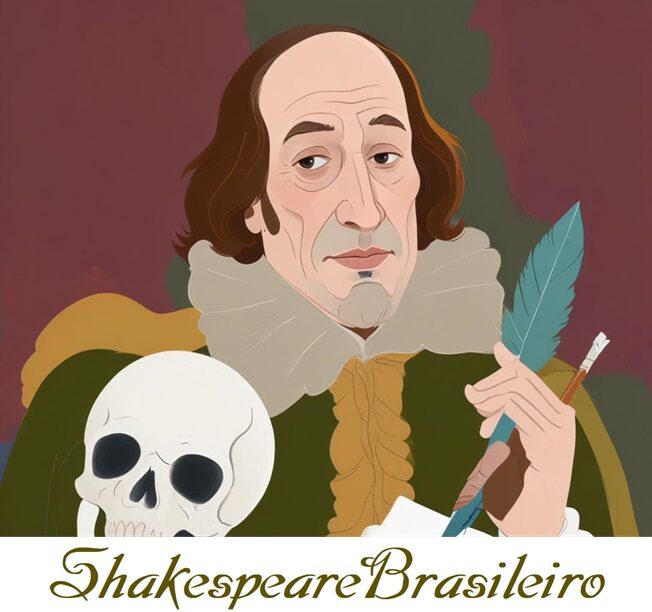Apesar de Shylock ser o mais proeminente personagem de O Mercador de Veneza, ele não toma parte nem do início nem do final da peça. E, embora o título da peça pareça sugerir que ele é o “Mercador” de Veneza, Shylock é, estritamente falando, um agiota cuja usura é retratada como o próprio oposto do verdadeiro comércio. Sua vingativa luta para obter uma libra de carne de Antônio contrasta com os vários episódios românticos entrelaçados conjuntamente nessa peça: a escolha de Bassânio por Pórcia através das caixas de joias, a corte de Graciano a Nerissa, a fuga de Jéssica com Lorenzo, a troca de mestres de Lancelot Gobbo, e o episódio dos anéis. Em todas essas histórias, uma ética Cristã de generosidade, amor, e amizade arriscada é arranjada em agudo contraste com a ética não-Cristã que é vista, de um ponto de vista Cristão, como relutante, ressentida e calculista. Entretanto, essa visão contrastante é tornada problemática pelo comportamento deplorável de alguns Cristãos. Nas produções de palco hodiernas, Belmont e seus habitantes são aptos a parecerem frívolos, amantes do prazer, hedonistas e, sobretudo, racistas em suas preferências insulares por sua posição econômica e culturalmente privilegiada. A peça nos convida a questionar os motivos dos inimigos de Shylock. Ela nos coloca (hoje, pelo menos, depois dos terrores do Holocausto Alemão) desconfortáveis perante à insularidade de uma ética Veneziana que não tem um local genuíno para forasteiros não-Cristãos ou culturais. A mais difícil questão de todas, para nós, é perguntar se a peça assume um ponto de vista Cristão para seus próprios propósitos dramáticos, por mais que ela veja um motivo genuíno e entendível no desejo de vingança de Shylock. O problema das simpatias divididas é exacerbado porque a função estrutural de Shylock na peça é essencialmente a do vilão na comédia romântica. Sua perseguição sem remorso a Antônio enubla o humor da peça, e sua derrocada sinaliza o triunfo providencial do amor e da amizade, mesmo se esse triunfo traga consigo sua propensão oculta por melancolia irônica. Antes de nós examinarmos a complexa questão do antissemitismo mais atentamente, precisamos estabelecer um contexto estrutural dessa comédia romântica como um todo.
Como muitas comédias filosóficas e festivas de Shakespeare, O Mercador de Veneza apresenta dois mundos contrastantes – um de fantasia e outro, marcado por conflito e ansiedade. Em parte, esses mundos contrastantes podem ser identificados com as localidades de Belmont e Veneza. Belmont, onde os diversos amantes felizes e seus amigos eventualmente recolhem-se, é um lugar de mágica e romance. Como seu nome implica, ele fica em uma montanha, e é alcançado por uma jornada através da água. Como frequentemente ocorre em contos de fadas, nessa montanha habita uma princesa que deve ser ganha através de uma competição de adivinhação. Nós usualmente vemos Belmont à noite. A música o rodeia, e as mulheres o presidem. Mesmo suas caixas de joias, casas e anéis são símbolos essencialmente femininos. Veneza, por outro lado, é um lugar de agitação e competição econômica, visto mais caracteristicamente no calor do dia. Ela fica em um plano baixo, no ponto onde o rio alcança o mar. Os homens presidem sobre seus contenciosos mercados e suas regateadoras cortes de direito. De fato, a oposição de Veneza e Belmont não é tão bem definida: Veneza contém muita amizade compassiva, ao passo que Belmont está sujeito ao comando arbitrário do falecido pai de Pórcia. (Esta relembra Jéssica ao ser emprisionada pela vontade de seu pai.) Mesmo que Pórcia desça a Veneza no papel angelical de doadora de misericórdia, ela também permanece muito humana: uma língua afiada e mesmo venenosa em caricaturar seus cortejadores indesejados, astuta em suas manobras legais, impertinentemente travessa em sua tortura a Bassânio em relação aos anéis. Por toda sua cordialidade e generosidade, Belmont é também a encarnação de uma cultura Cristã insular que dá espaço para forasteiros somente quando eles se convertem aos costumes Cristãos. Os traços que Shylock carrega a um extremo desagradável são necessários em moderação para os Venezianos, especialmente a parcimônia, o cumprir de promessas e a busca por vantagem pessoal prudente; somente quando os Cristãos amenizam suas propensões por extravagâncias imprudentes, a sofística legal ou mesmo o roubo, e o correr riscos são possíveis resoluções felizes. Entretanto, a polaridade de duas localidades contrastantes e dois grupos de personagens é vividamente real nessa peça.
A cena de abertura da peça, da qual Shylock é excluído, coloca os temas inter-relacionados da amizade, amor romântico e risco ou “perigo.” O mercador que aparentemente preenche o papel do título, Antônio, é a vítima de uma misteriosa melancolia. Ele é suficientemente rico e cercado de amigos, mas algo lhe falta na vida. Ele assegura as suas solícitas companhias que ele não tem preocupações financeiras, pois tem sido muito cauteloso ao não confiar todas suas cargas a apenas um navio. Antônio, de fato, não tem ideia do porquê ele está tão triste. A questão é perturbadora. Qual é o problema? Talvez a resposta seja encontrada em um paradoxo: aqueles que batalham para prosperar de acordo com os termos do mundo estão fadados à frustração, não porque a prosperidade irá necessariamente escapar-lhes, mas porque ela não irá satisfazer-lhes o espírito. “Você tem muito respeito em relação ao mundo,” argumenta o despreocupado Graciano. “Eles perdem aquilo que compram com tanto carinho” (1.1.74-5). Pórcia e Jéssica, também, são as primeiras afligidas pela melancolia que origina-se da incompletude de viver vidas isoladas, com oportunidades insuficientes para o amor e o sacrifício. Elas devem aprender, como Antônio aprende com ajuda de seu caro amigo Bassânio, a buscar a felicidade ao ousar arriscar tudo pela amizade. O risco de Antônio é extremo: apenas quando ele abandona a preocupação para com sua vida ele pode descobrir o que existe para viver.
Inicialmente, a solicitação de Bassânio por assistência parece tão materialista quanto a mundanidade a qual Antônio sofre. Bassânio propõe casar-se com uma rica jovem dama, Pórcia, com vistas a recuperar sua fortuna perdida através da extravagância, e ele necessita do dinheiro de Antônio para que ele possa cortejar Pórcia da maneira adequada. Ela foi “ricamente deixada,” a herdeira de um pai falecido, um velo de ouro o qual esse novo Jason perseguirá. A aventura de Bassânio é parcialmente comercial. Entretanto, sua peregrinação por Pórcia é, também, magnânima. A prática moderna ocasional de interpretar Bassânio e Pórcia como anti-heróis cínicos da comédia “sombria” aponta para o caráter problemático do materialismo e a previsão deles, mas fornece apenas um aspecto do retrato. Bassânio perdeu sua fortuna anterior através de amigáveis faltas de uma imprudente generosidade e uma falta de preocupação com a prudência financeira. O dinheiro que ele precisa emprestar agora, e a fortuna que ele espera adquirir, são para ele não mais do que meios para uma felicidade despreocupada. Apesar do rico dote de Pórcia estar em forte consideração, ele a descreve também como “bela e, mais bela que aquela palavra, / Com virtudes maravilhosas” (1.1.162-3). Ademais, ele desfruta do elemento de risco ao cortejá-la. É como lançar uma segunda flecha para recuperar a primeira perdida – o dobro ou nada. Essa aposta, ou “perigo”, envolve risco para Antônio assim como para Bassânio, e, finalmente, traz uma recompensa dupla para ambos – espiritual assim como financeira. Ao menos que alguém reconheça esses aspectos da busca de Bassânio, assim como a qualidade claramente de conto de fadas a qual Shakespeare deliberadamente aplica a essa parte do roteiro, não é possível avaliar adequadamente o papel de Bassânio nessa comédia romântica.
A cruzada de Bassânio por Pórcia não pode, na realidade, nunca ser bem sucedido até que ele repudie as mesmas considerações financeiras que o trouxeram a Belmont em primeiro lugar. Esse é o paradoxo do dilema das caixas de joias, uma parábola antiga que enfatiza a necessidade de escolher pela substância verdadeira, em vez do que é mostrado externamente. Escolher “o que muitos homens desejam,” como o Príncipe do Marrocos o faz, é fixar a esperança de alguém na riqueza mundana; acreditar que alguém “merece” boa sorte, como o Príncipe de Aragão o faz, é revelar um orgulho fatal em seu próprio mérito. Bassânio percebe que, para ganhar o verdadeiro amor, ele deve “dar e arriscar tudo que tem” (2.7.9). Ele não é “enganado pelo ornamento” (3.2.74). Assim como Antônio precisa arriscar tudo pela amizade, e assim como Bassânio ele mesmo deve depois estar disposto a perder Pórcia para o bem da verdadeira amizade (no episódio dos anéis), Bassânio deve renunciar à ambição mundana e à beleza, antes que ele possa ser recompensado com o sucesso. Paradoxalmente, somente aqueles que aprendem a subjugar tais desejos mundanos podem, então, legitimamente desfrutar os prazeres do mundo. Somente esses reconheceram a subserviência hierárquica da carne ao espírito. Esses são os truísmos filosóficos do Neoplatonismo Renascentista, representando o amor como uma cadeia ou escada, da mais básica carnalidade ao amor supremo de Deus pela humanidade. Nessa escada, a amizade perfeita e a união espiritual são mais sublimemente divinas do que a satisfação sexual. O idealismo pode parecer uma doutrina estranha para Bassânio, o caçador de fortunas, mas, na realidade, sua sabedoria convencional simplesmente confirma seu papel como herói romântico. A ele e Pórcia não são negadas às felicidades e os prazeres eróticos mundanos; só se pede a eles que pensem primeiramente no dever Cristão no casamento.
Para Pórcia, o casamento representa ambos, um ganho e uma perda. Ela pode escolher somente de acordo com a vontade de seu falecido pai; o sistema patriarcal, de acordo com a qual a mulher é dada em casamento por seu pai a um homem mais novo, é aparentemente capaz de estender seu controle mesmo para além do caixão. A perspectiva de casar-se com o Príncipe de Marrocos ou o Príncipe de Aragão a consterna, e ainda assim ela persiste em seu voto de obediência, e é eventualmente recompensada com o homem da sua escolha. É como se seu pai benigno soubesse como arranjar os termos da escolha de tal forma que a “loteria” das caixas funcionasse para ela. Quando ela aceita Bassânio, também, ela deve fazer uma difícil escolha, pois em termos legais ela faz de Bassânio o mestre de tudo o que ela possui. Pórcia é, ao mesmo tempo, espirituosa e submissa, capaz de corrigir os emaranhados legais de Veneza quando todos os homens falharam e ainda assim pronta para chamar Bassânio de seu senhor. A provocação dela a ele em relação ao anel é um sinal que ela irá fazer demandas para ele no casamento, mas é um teste que não pode produzir uma desarmonia duradoura, enquanto Bassânio mantiver-se verdadeiramente leal. Pórcia é, do ponto de vista masculino de Bassânio, a mulher perfeita: humanamente atingível e, entretanto, nunca seriamente ameaçadora. Guiado por ela, Bassânio faz a transição potencialmente danosa entre as amizades direcionadas aos homens de Veneza (especialmente com Antônio) à união heterossexual. Pórcia tem mais sorte que Jéssica, que deve romper com sua fé e com seu pai, para encontrar a felicidade no casamento. As duas mulheres são iguais entretanto, no sentido que elas experienciam o paradoxo central da peça de perder o mundo para ganhar o mundo. Através delas, nós vemos que esse paradoxo ilumina o episódio das caixas de joias, o conflito pela uma libra de carne, a fuga de Jéssica, o episódio do anel, e mesmo as bobagens cômicas de Lancelot Gobbo.
Shylock, em sua busca pela libra de carne, representa, visto de um ponto de vista Cristão, uma negação de todas as verdades paradoxais descritas acima. Como um usurário, ele recusa-se a emprestar dinheiro sem juros, pela amizade. Em vez de arriscar-se, ele insiste em sua nota promissória. Ele despreza a misericórdia e demanda justiça severa. Ao calcular todas as suas chances tão habilmente, ele parece ganhar em um primeiro momento, mas deve eventualmente perder tudo. Ele tem “muito respeito perante o mundo” (1.1.74). Seu Deus é o Deus do Velho Testamento de Moisés, o Deus da cólera, o Deus dos Dez Mandamentos, com sua ênfase proibitiva no “Tu não deves.” (Esse simplório contraste entre Judaísmo e Cristianismo era um lugar-comum no tempo de Shakespeare.) Shylock abomina o roubo mas admira o equívoco como um meio de ludibriar um competidor; com aprovação ele cita o truque de Jacó ao privar à ovelha de Labão (1.3.69-88). Qualquer tática é permissível, desde que ela esteja dentro do reino da legalidade e do contrato.
A perspectiva ética de Shylock, então, justifica tanto a usura quanto a isenção antiga da lei Judaica. As duas são filosoficamente combinadas, assim como a usura e o Judaísmo tornaram-se sinônimos na imaginação popular da Europa da Renascença. Mesmo que o empréstimo com juros estivesse se tornando crescentemente necessário e comum, preconceitos antigos contra isso ainda existiam. Moralistas raivosos apontavam que o Novo Testamento condenava à usura e que Aristóteles descreveu o dinheiro como estéril. Gerar dinheiro era, portanto, considerado anormal. A usura era considerada pecaminosa porque ela não envolvia os riscos usuais do comércio; o credor tinha garantias contra as perdas do devedor através da garantia e, ao mesmo tempo, tinha certeza do ganho de um generoso lucro. O usurário parecia ganhar algo do nada. Por essas razões, a usura foi, às vezes, declarada ilegal. Seus praticantes eram vistos como corruptos e gananciosos, odiados pela avareza. Em alguns países Europeus, aos Judeus era permitida a prática dessa vida não-Cristã (e permitido muito pouco além disso) e então, hipocritamente, eram detestados por fazerem ações não-Cristãs. Ironicamente, os agiotas da Inglaterra eram Cristãos, e poucos Judeus eram encontrados em quaisquer profissões. Oficialmente excluídos desde o reino de Eduardo I, os Judeus retornaram em pequenos números a Londres, mas não praticavam seu Judaísmo abertamente. Eles frequentavam às Igrejas Anglicanas, como exigido pela lei, e então adoravam em particular, relativamente não perturbados pelas autoridades. Shylock pode não ter sido baseado nas observações da vida de Londres. Ele é derivado da tradição continental e reflete uma difundida convicção que os Judeus e usurários eram similares ao serem não-Cristãos e sinistros.
Shylock é inquestionavelmente sinistro, mesmo que ele também convide à simpatia. Ele carrega um “rancor antigo” contra Antônio, simplesmente porque Antônio é “um Cristão”. Nós reconhecemos em Shylock o arquétipo do suposto Judeu que deseja matar um Cristão para obter sua carne. Nas antigas lendas medievais antissemíticas desse tipo, a carne assim obtida era supostamente ingerida ritualisticamente durante a Páscoa Judaica. Por causa que alguns Judeus uma vez condenaram Cristo, todos eram injustamente pensados como inimigos implacáveis de todos os Cristãos. Essas superstições antissemíticas iriam provavelmente irromper em histeria a qualquer momento, como em 1594, quando Dr. Roderigo Lopez, um físico Judeu Português, foi acusado de ter tramado contra a vida da Rainha Elizabeth e de Don Antônio, então pretendente ao trono Português. O Judeu de Malta, de Christopher Marlowe, foi revivida para essa situação, gozando de uma inusal temporada bem-sucedida de quinze performances, e os estudiosos tem se perguntado, frequentemente, se a peça de Shakespeare não foi escrita sob o mesmo ímpeto. Sobre esse episódio, a evidência é inconclusiva, e a peça pode ter sido escrita em qualquer momento entre 1594 e 1598 (quando é mencionada por Francis Meres), mas, de qualquer modo, Shakespeare não tentou evitar a natureza antissemítica de sua história.
Para compensar à descrição da vileza Judaica, entretanto, a peça também dramatiza a possibilidade de conversão ao Cristianismo, sugerindo que o Judaísmo é mais uma matéria de fé benigna do que de origem ética. Judeus convertidos não eram novos nos palcos: eles apareciam no ciclo do drama da Idade Média, na Peça do Sacramento (final do século quinze), de Croxton, e, mais recentemente, no O Judeu de Malta, na qual a filha de Barrabás, Abigail, apaixona-se por um Cristão e eventualmente torna-se uma freira. A filha de Shylock, Jéssica, similarmente adota o Cristianismo, como a esposa de Lorenzo, e é recebida na feliz camaradagem de Belmont. Shylock é forçado a aceitar o Cristianismo, presumivelmente, para benefício de sua alma eterna (apesar de hoje considerarmos isso profundamente ofensivo, sendo, às vezes, cortado de produções de palco). Anteriormente na peça, Antônio repetidamente indica sua vontade de fazer amizade com Shylock, se este apenas abandonasse à usura, e ele fica cautelosamente esperançoso quando Shylock lhe oferece um empréstimo sem juros: “O Hebreu tornar-se-á Cristão; ele está mais gentil” (1.3.177). De fato, a denúncia de Antônio do Judaísmo usurário de Shylock era veemente e pessoal; aprendemos que ele cuspiu na gabardina de Shylock e chutou-o como alguém chuta um cão. Essa desaprovação violenta não oferece oportunidade para a tolerância das diferenças culturais e religiosas que esperamos hoje de pessoas com boa vontade, mas, ao menos, Antônio está preparado para aceitar Shylock se este aderir à fé Cristã e suas responsabilidades éticas. Se a peça ela mesma endossa o ponto de vista Cristão de Antônio como normativo ou insiste em uma leitura mais sombria ao nos constranger com a intolerância é uma matéria de debate crítico infinito. Muito possivelmente, o poder da peça de perturbar emana – ao menos em parte – do conflito dramático entre conjuntos de valores irreconciliáveis.
Para Antônio, então, assim como para outros Venezianos, a verdadeira Cristandade é: um bem absoluto da qual nenhum desvio é possível sem o mal, e, um estado de fé a qual estrangeiros podem renunciar às ignorantes crenças de seus ancestrais. Similarmente, o Príncipe de Marrocos é condenado ao fracasso em sua empreitada por Pórcia, não tanto porque ele é negro mas porque é pagão, alguém que idolatra à “fortuna cega” e assim escolhe uma recompensa mundana em vez de uma espiritual. Apesar de Pórcia rejeitá-lo descaradamente com “E escolha igual façam seus semelhantes”, ela anteriormente declara achá-lo belo e concorda que ele não deve ser julgado por sua aparência (2.1.13-22). Ao menos que ela esteja meramente sendo hipócrita, ela quer dizer com sua última observação que pessoas negras são geralmente pagãs, assim como os Judeus são, como um grupo, não Cristãos. Tal pensamento pejorativo sobre pessoas como tipos é, sem dúvida, angustiante e sugere – ao menos para uma plateia moderna – a limitação cultural da visão de Pórcia, mas, de qualquer forma, ele mostra-a surpreendentemente não menos disposta em relação aos pretendentes negros do que em relação a outros que também são estrangeiros. Ela está feliz em não ser ganha pelo Príncipe de Aragão porque ele é, também, apesar de nomeadamente um Cristão, muito complacente para consigo mesmo e orgulhoso. Todas as pessoas, assim, podem aspirar a uma conduta verdadeiramente virtuosa, e aqueles que escolhem a virtude são igualmente abençoadas; entretanto, os termos que definem àquele ideal, nessa peça, são essencialmente Cristãos. Judeus e Negros podem crescer espiritualmente somente ao abandonarem seus ritos pagãos para a nova redistribuição da caridade e do perdão.
A superioridade do ensinamento Cristão perante a antiga redistribuição Judaica era, é claro, uma noção amplamente aceita no tempo de Shakespeare. Sobretudo, esses eram anos os quais as pessoas lutavam e morriam para manter suas crenças religiosas. Hoje, a noção de apenas uma única igreja verdadeira detém menor vigência, e temos dificuldades de entender porque alguém desejaria forçar à conversão de Shylock. As produções modernas acharam tentador retratar Shylock como uma vítima de preconceito e colocam grande ênfase nas dolorosas asserções da sua humanidade: “Os Judeus não têm olhos? … Se você nos ferir, nós não sangraremos?” (3.1.56-62). Shylock, de fato, sofre de seus inimigos, e seus sofrimentos adicionam uma complexidade torturada a essa peça – mesmo, alguém suspeitaria, para uma plateia Elisabetana. Aqueles que professavam a Cristandade deviam certamente examinar seus próprios motivos e condutas. É certo roubar um tesouro da casa de Shylock juntamente com a fuga de sua filha? É plausível que Jéssica e Lorenzo desperdicem o anel de turquesa de Shylock, o presente de sua esposa Leah, em um macaco? A insistência vingativa de Shylock na lei justifica a picuinha na retaliação planejada por Pórcia, no momento em que ela piedosamente declama sobre a misericórdia. A má sorte de Shylock merece as jocosas paródias de Solânio (“Minha filha! Ó, meus ducados!”) ou a zombaria hostil de Graciano na conclusão do julgamento? Porque ele mantém-se fora da fé Cristã, Shylock pode prover uma perspectiva por onde vemos às hipocrisias daqueles que professam um suposto código ético superior. Entretanto, o desejo compulsivo de Shylock por vingança de acordo com um código do Velho Testamento, de um olho por um olho, não pode ser justificado pelos erros de qualquer Cristão em particular. No controle do ponto de vista da peça, tais coisas condenam o agente, em vez de minar os padrões Cristãos da virtude verdadeira como idealmente expressados. Shakespeare humaniza Shylock ao retratá-lo como um homem credível e sensível, e ele mostra muito do que deve ser lamentado nos antagonistas Cristãos de Shylock, mas também permite a Shylock colocar-se por si mesmo em erro, em sua recusa de perdoar seus inimigos.
Shylock, assim, perde tudo através de seu esforço em ganhar tudo por seus próprios termos. Sua filha, Jéssica, ao fugir, segue um curso oposto. Ela caracteriza a casa de seu pai como o “inferno”, e ela ressente ser trancada por detrás de janelas fechadas. Shylock detesta música e os sons da alegria; a nova vida de Jéssica em Belmont está imersa na música. Shylock é velho, desconfiado, miserável; ela é jovem, amorosa e aventureira. Mais importante, ela parece ser ao menos em parte Cristã, quando a encontramos pela primeira vez. Como Lancelot graceja meio sério, “Se um Cristão não interpreta um patife e não te ganha, eu estou muito enganado” (2.3.11-12). A remoção dela da casa de Shylock envolve roubo, e sua fuga de Veneza é, ela confessa, por um “amor improvidente.” Paradoxalmente, entretanto, ela vê essa imprudência como um efeito mais promissor do que a legalista cautela de seu pai. Como ela diz, “Eu devo ser salva pelo meu marido. Ele me tornou Cristã” (3.5.17-18).
As palhaçadas de Lancelot Gobbo oferecem um comentário similarmente paradoxal sobre a tragédia de Shylock. Lancelot debate se deve ou não deixar o serviço a Shylock em termos de um conflito de almas entre sua consciência e o demônio (2.2.1-29). A consciência pede para que ele fique, pois o serviço é um débito, um laço, uma obrigação, ao passo que o abandono de um contrato é um tipo de rebelião ou furto. Entretanto, a casa de Shylock é um “inferno” para Lancelot, assim como para Jéssica. Comparando seu novo mestre com o antigo, Lancelot observa a Bassânio, “Você tem a graça de Deus, senhor, e ele teve o suficiente.” O serviço a Bassânio envolve riscos imprudentes, pois Bassânio é um perdulário. O miserável Shylock regozija-se ao ver o sempre faminto Lancelot, esse “grande comedor”, gastando os bens de um odiado Cristão. Mais uma vez, entretanto, Shylock perderá tudo em sua gananciosa busca por segurança. Outra renovação espiritual ocorre quando Lancelot encontra seu velho e quase cego pai (2.2). Em uma cena que ecoa as histórias bíblicas do Filho Pródigo e de Esaú e Jacó, Lancelot provoca o velho homem com rumores falsos sobre a própria morte, para que a reunião deles parece ainda mais inesperada e preciosa. A ilusão da perda dá lugar à alegria: Lancelot diz, em uma linguagem adaptada da liturgia, “eu era seu filhinho, sou seu filho, e vou continuar a ser para toda a vida.”
No episódio dos anéis, encontramos uma divertida variação final do paradoxo do ganho através da perda. Pórcia e Nerissa astutamente apresentam a seus novos maridos uma escolha cruel: disfarçadas como um doutor de direito e seu funcionário, que salvaram a vida de Antônio da cólera de Shylock, as duas esposas pedem por seus serviços nada mais que os anéis que elas veem nos dedos de Bassânio e Graciano. Os dois maridos, que juraram nunca se separar desses anéis de casamento, devem, assim, escolher entre o amor e a amizade. Pórcia sabe suficientemente bem que a obediência de Bassânio ao ideal Neoplatônico de amizade desinteressada é uma parte essencial da sua virtude. Assim como ele anteriormente renunciou à beleza e às riquezas, antes da possibilidade de merecer Pórcia, ele deve, agora, arriscar perdê-la por amor à amizade. O teste da constância do marido beira à rispidez gratuita e o exercício de poder, pois lida com o mais antigo dos pesadelos masculinos: um par de chifres. As esposas têm suas armas na batalha pelo controle do casamento, e Pórcia e Nerissa apreciam enredar seus novos maridos em uma situação de aporia. Ademais, a ameaça é facilmente resolvida ao se dispensar às identidades equivocadas farsescas. Os jovens homens foram enganados a conceder seus anéis para suas esposas, mais uma vez, em nome da perfeita amizade, assim confirmando um relacionamento que é platônico e, ao mesmo tempo, carnal. Como Graciano indecentemente aponta na última linha da peça, o anel é um símbolo espiritual e sexual do casamento. A resolução desse conflito ilusório também encerra a festiva guerra dos sexos entre esposas e maridos. Tendo feito alusões aos tipos de desentendimentos que afligem mesmo o melhor dos relacionamentos humanos, e provando a si mesmas astutamente capazes de torturarem e enganarem seus maridos, Pórcia e Nerissa se submetem, finalmente, às normas patriarcais daquela era e à autoridade de Bassânio e Graciano.
O casamento de Bassânio e Pórcia representa a realização heterossexual do namoro deles, que deixa Antônio sem um parceiro no final da peça. Este é, claro, incluído na camaradagem de Belmont, mas uma parte do sacrifício que ele fez por Bassânio foi dar àquele jovem homem a liberdade e os meios para casar-se conforme sua escolha. A ligação de Antônio a Bassânio é profundamente amorosa, e é, às vezes, retratada como homossexual nas produções modernas. A força da conexão de Antônio a Bassânio não deve ser subestimada. Ao mesmo tempo, ele parece verdadeiramente concordar que o jovem homem se case. Nesse sentido, o casamento representa uma conclusão na qual a amizade e o amor são plenamente complementares. A união heterossexual é, nessa peça e na comédia Shakespeariana geralmente, uma resolução dominante e teatralmente convencional; mas assim o é sem negar que existem outras formas da felicidade humana. Se Antônio está inteiramente contente com seu papel final como um tipo de amigo mais velho benigno, não podemos ter certeza, mas os pronunciamentos dele no ato final objetivam, todos, a encorajar a harmonia entre marido e mulher que ele arriscou sua vida para possibilitar.
Como definidas pelas noções aceitas de relações entre gêneros no tempo de Shakespeare, então, tudo parece estar em harmonia em Belmont. As desordens em Veneza foram deixadas para trás, por mais imperfeitas que elas foram resolvidas. Jéssica e Lorenzo contrastam sua felicidade presente com os sofrimentos dos amantes menos afortunados de outrora: Tróilo e Créssida, Píramo e Tisbe, Enéas e Dido, Jason e Medéia. A alegria tranquila encontrada em Belmont está em consonância com a música das esferas, o canto dos “jovens querubins” (5.1.62), apesar da adequada humildade Cristã, os amantes também percebem que a harmonia das almas imortais está infinitamente além da compreensão deles. Atados pela vulgaridade da carne, “essa turva veste da decomposição” (5.1.64), eles somente podem alcançar à bem-aventurança da eternidade através da música e a perfeita amizade do verdadeiro amor. Mesmo na felicidade final deles, adequadamente, os amantes encontram uma incompletude que empresta um tom reflexivo e ligeiramente melancólico ao final da peça. Tal sentido de imperfeição é acentuado para nós, pela nossa consciência que os problemas sérios da peça sobre as relações de gênero, amizade e antissemitismo não foram, de forma alguma, resolvidos completamente; o acordo final nasce da discórdia. Mesmo assim, esse sentido conclusivo de inevitável incompletude de toda a vida humana é de uma ordem bem diferente daquela melancolia anterior de isolação e falta de compromisso experienciado por Pórcia, Jéssica, Antônio e outros.
Em performance, a peça tem incitado reações hostis e genuinamente simpáticas para Shylock. A interpretação antissemítica tradicional do período primitivo da história de palco manifesta-se por si só, por exemplo, na performance de George Frederick Cooke, em 1803-1804, “encurvado pelos anos e feio pela deformidade mental, sorrindo falsamente com malícia mortal, com o veneno de seu coração congelado na expressão do seu semblante, sombrio, taciturno, melancólico, inflexível” (essas são palavras de William Hazlitt). Ainda outras interpretações usaram uma peruca vermelha e um nariz adunco do estereótipo do Judeu de palco que associa Shylock com Judas Iscariotes. Contrariamente, Edmund Kean, em 1814, evocou tal simpatia para fazer os Cristãos da peça parecerem hipócritas por comparação. Henry Irving, em 1879, e Beerbohm Tree, em 1908, combinaram um tipo de dignidade antiga com pathos. George C. Scott, no Festival de Shakespeare de Nova York, em 1962, interpretou Shylock como um homem condenado e desesperado, cercado por poderosos inimigos. O angustiado Shylock de Laurence Olivier (1970, subsequentemente televisionado) mostrou os Cristãos como membros complacentes do intolerante mundo social de Veneza de privilégio e exclusividade. Uma produção em Weimar, Alemanha, em 1995, comemorando o décimo quinto aniversário de liberação de um campo de concentração nos arredores de Buchenwald, capturou o que é tão horrendamente problemático na peça ao imaginar o que seria se interpretada por oficiais Alemães e guardas se divertindo com teatros amadores durante a guerra e convocando três presidiários Judeus para os papéis de Shylock, Tubal e Jéssica. Talvez nenhuma peça de Shakespeare levante tantas questões dolorosas hoje, para que as pensemos cuidadosamente, do que O Mercador de Veneza.