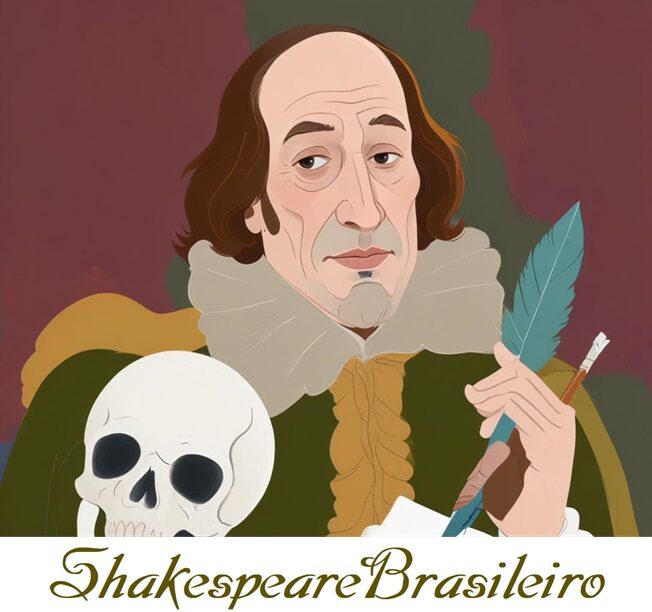ARTIGOS SR. MÁRIO AMORA RAMOS
ESCLARECER HAMLET, SR. WALDEMAR JOSÉ SOLHA
INFOGRÁFICO – A CRÍTICA DE SHAKESPEARE
O texto a seguir é uma tradução cujo original está em The Complete Works of Shakespeare, Sixth Edition, David Bevington, 2009.
A Crítica de Shakespeare
Em seu tempo, Shakespeare alcançou uma reputação de grandeza imortal que é surpreendente quando consideramos a baixa consideração na qual os dramaturgos geralmente a detinham. Francis Meres comparou-o a Ovídio, Plauto e Sêneca e proclamou Shakespeare o mais excelente escritor da Inglaterra em ambas, comédia e tragédia. John Weever disse da “língua de mel Shakespeare”. O número de alusões elogiosas desse tipo é alto. Mesmo Ben Jonson, um erudito escritor fortemente influenciado pela tradição clássica, enaltecia Shakespeare como “um monumento sem uma tumba” e como o melhor poeta da Inglaterra, excedendo Chaucer, Spenser, Beaumont e Marlowe. Na tragédia Jonson comparou Shakespeare com Ésquilo, Eurípides e Sófocles; na comédia, insistiu que Shakespeare não tinha rival mesmo na “insolente Grécia e na arrogante Roma”. Este tributo apareceu no poema de recomendação escrito para o Primeiro Fólio de Shakespeare, em 1623.
Para ser claro, Jonson teve mais críticas a dizer sobre Shakespeare. Mesmo no poema de recomendação do Fólio, Jonson não resistiu ao sarcasmo em relação a Shakespeare em “pouco Latim e menos Grego”. Para William Drummond of Hawthornden, ele objetou que Shakespeare “almejou à arte” porque em uma peça (The Winter´s Tale) ele “trouxe vários homens dizendo que haviam sofrido um naufrágio na Bohemia, onde não há mar a alguns milhares de quilômetros.” Em Timber, ou Discoveries, Jonson desaprovou Shakespeare por sua facilidade desenfreada em escrever. “Os atores têm frequentemente mencionado como uma honra a Shakespeare, que qualquer coisa por ele escrita não seja apagada nem uma linha. Minha resposta tem sido: melhor que ele tivesse apagado mil.” Em um prólogo para sua própria peça Every Man in His Humor (edição de 1616), Jonson satiriza as peças de história inglesa (como as de Shakespeare) que “com três espadas enferrujadas / E ajuda de algumas poucas palavras de pé e meio / Lutas com os longos jarros de York e Lancaster / E nos camarins torna ferimentos em cicatrizes.” Jonson também zombou de peças que não mantinham unidade de tempo, nas quais crianças crescem à idade de sessenta anos ou mais e de peças românticas sem sentido apresentando fogos de artifício, relâmpagos, e um coro que “sopra você pelos mares”.
Essas críticas são apenas de uma peça. Como um classicista, Jonson considerava muito as unidades clássicas. Ele deplorava muito do drama popular inglês, incluindo algumas das peças de Shakespeare, pela sua mistura indisciplinada de comédia e tragédia. Medidos contra seus estimados ideais de decoro clássico e refinamento da linguagem, as histórias e os últimos romances de Shakespeare –Péricles, Cimbelino, O Conto do Inverno e A Tempestade – pareciam irritantemente ingênuos e sem coesão. Ainda que Jonson soubesse que Shakespeare detinha um gênio incomparável, superior mesmo ao seu próprio. A afecção e o respeito de Jonson por Shakespeare não parecem ser forçados. No meio dos comentários críticos em Timber, ele concedeu livremente que “Eu amei o homem, e honro sua memória (desse lado idolatria) mais que qualquer um. Ele foi de fato honesto, e de uma natureza aberta e livre, de uma excelente fantasia, noções corajosas e expressões gentis.”
A Era de Dryden e Pope
A atitude de Jonson em relação a Shakespeare sobreviveu até o período da Restauração, no final do século dezessete. Um lugar comum daquela época mantinha que era apropriado “admirar” Ben Jonson, porém “amar” a Shakespeare. Jonson era o poeta mais correto, o melhor modelo para a imitação. Shakespeare com frequência tinha que ser reescrito de acordo com os gostos sofisticados da Restauração, mas era também tomado como um gênio natural. Dryden reflete esta visão em seu Essay of Dramatic Poesy (1668) e seu Essay on the Dramatic Poetry of the Last Age (1672), Dryden condenou o The Winter´s Tale, Pericles e vários outros dos últimos romances pelos “defeitos de suas tramas” e pelas suas “histórias ridículas e incoerentes” que eram usualmente “embasadas em impossibilidades.” Não somente Shakespeare ele acusava, mas vários de seus contemporâneos que “nem entendiam corretamente a criação dos enredos nem aquilo que eles chamavam de decoro do palco.” Se Shakespeare houvesse vivido na Restauração, Dryden acreditava que ele teria, sem dúvida, escrito “mais corretamente” sob a influência de uma linguagem que se tornou mais “elegante” e uma sagacidade que cresceu mais “refinada”. Shakespeare, Dryden pensava, detinha ilimitados “adornos”, mas, em alguns momentos, lhe faltava “julgamento”. Dryden lamentou que Shakespeare foi forçado a escrever em tempos “ignorantes” e para audiências que “não sabiam mais”. Como Jonson, entretanto, Dryden teve a magnanimidade em perceber que Shakespeare transcendeu suas limitações. Shakespeare, disse Dryden, foi “o homem que entre todos os modernos e talvez entre os antigos poetas tivesse a maior e mais abrangente alma.” Para um escritor clássico, esse foi um grande elogio, de fato.
A edição de Shakespeare de Alexander Pope foi baseada em uma estimativa similar de Shakespeare como um gênio sem instrutor. Pope livremente “melhorou” a linguagem de Shakespeare, reescrevendo linhas e cortando partes que ele considerava vulgares, a fim de resgatar Shakespeare das circunstâncias bárbaras de seu meio elisabetano. Outros críticos da Restauração e início do século dezoito, que destacavam o gênio “natural” de Shakespeare e seus poderes imaginativos foram: John Dennis, Joseph Addison, e os editores Nicholas Rowe e Lewis Theobald.
A Era de Johnson
Shakespeare tinha opositores durante o final do século dezessete e início do século dezoito; afinal, a crítica clássica tendia a desconfiar da imaginação e do ornamento. Notável entre os críticos mais duros do período da Restauração foi Thomas Rymer, o qual Short View of Tragedy (1692) incluiu um famoso ataque a Othello por valorizar demais o lenço de Desdemona. No século dezoito, Voltaire expôs agudamente contra as violações das unidades clássicas por Shakespeare, mesmo que Voltaire tivesse algo de admiração a dizer.
A mais considerada resposta a essas críticas no final do século dezoito foi a do Dr. Samuel Johnson, em sua edição das peças de Shakespeare e seu grande prefácio (1765). Shakespeare, diz Johnson, é o poeta da natureza que “exemplifica para seus leitores um espelho fiel das condutas e da vida. Seus personagens não são alterados pelos costumes de locais particulares, impraticados pelo resto do mundo… Nos escritos de outros poetas, um personagem é com frequência um indivíduo; nos personagens de Shakespeare eles são geralmente uma espécie.” As atitudes de Johnson eram essencialmente clássicas naquilo em que admirava Shakespeare por ser universal, por ter provido uma “justa representação da natureza geral” e por ter suportado o teste do tempo. Ainda Johnson também magnanimamente elogiou Shakespeare por ter transcendido às regras clássicas. Johnson triunfantemente defendeu a mistura de comédia e tragédia nas peças de Shakespeare e o suposto indecoro de seus personagens.
É claro que Johnson não elogiava tudo que via. Ele objetou a perda de construção da trama de Shakespeare, o agrupamento descuidado dos finais de suas peças, o humor libertino e, sobretudo, a paronomásia. Ele deplorava a falha de Shakespeare em satisfazer as demandas da justiça poética, especialmente em King Lear, e lamentava que Shakespeare parecesse mais ansioso em agradar do que instruir. Ademais, Johnson fez muito para libertar Shakespeare do obstáculo de uma aproximação clássica excessivamente restritiva.
A Era de Coleridge
Com o começo do período romântico na Inglaterra e no Continente, a crítica de Shakespeare rejeitou cada vez mais o preceito clássico em favor de uma aproximação mais espontânea e entusiástica do gênio criativo de Shakespeare. O novo Shakespeare se tornou de fato um grito de reunião para aqueles que agora deploravam os poetas dramáticos “regulares”, como Racine e Corneille. Shakespeare se tornou um visionário, um bardo com poderes místicos de profunda percepção da condição humana. Goethe em Wilhelm Meisters Lehrjahre (1796), concebeu Hamlet como o arquétipo do poeta “romântico”: melancólico, delicado e incapaz de agir.
Algumas tendências críticas da Inglaterra apontavam para conclusões similares. Maurice Morgann, em seu Essay on the Dramatic Character of Sir John Falstaff (1777), glorificava Falstaff como um raro indivíduo de coragem, dignidade e – sim – honra. Para fazer isso, Morgann teve que suprimir muita evidência da função geral de Falstaff nas peças Henry IV. A estrutura dramática, de fato, não o interessou; sua paixão era o “personagem”, e seu estudo de Falstaff refletiu uma nova preocupação romântica com a análise da personagem. Como outros críticos da personagem que o seguiram, Morgann tendia a sair da peça ela mesma para um mundo onde a personagem dramática fosse considerada capaz de conduzir uma existência independente. Como seria conhecer Falstaff como uma pessoa real? Como ele se comportaria em ocasiões outras que aquelas apresentadas por Shakespeare? Essas questões fascinavam Morgann e outros, porque elas levavam à grandes especulações sobre a psicologia humana e filosofia. As incomparáveis compreensões penetrantes de Shakespeare sobre o caráter sugeriam mais investigações da psique humana.
Outros trabalhos do final do século dezoito devotados ao estudo do caráter/personagem incluíram o Elements of Criticism (1762) de Lord Kames, Remarks on Some of the Characters of Shakespeare (1785) de Thomas Whately, Philosophical Analysis and Illustration of Some of Shakespeare´s Remarkable Characters (1774), de William Richardson e Thirty Letters on Various Subjects (1782), de William Jackson. Morgann falou por essa escola de críticos quando insistiu: “Talvez seja adequado considerá-los (os personagens de Shakespeare) como seres históricos em vez de dramáticos; e, quando a ocasião requerer, avaliá-los pelas suas condutas, pela inteireza de caráter, a partir de princípios gerais, motivos latentes e políticas tácitas.”
Samuel Taylor Coleridge, o maior crítico romântico inglês, foi profundamente influenciado pela crítica da personagem, tanto inglesa quanto a continental. Fez, ele próprio, contribuições importantes para o estudo da personagem. Sua concepção de Hamlet, derivada em parte de Goethe e Hegel, como alguém que “hesita a sensibilidade, protela o pensamento e perde o poder de ação na energia da resolução” iria dominar as interpretações de Hamlet no século dezenove. Sua compreensão da natureza maligna de Iago – “a caça-por-motivos de uma malignidade sem motivo” – também foi influente.
Entretanto, Coleridge não sucumbe à tentação, como muitos outros críticos dos personagens, de ignorar a unidade de uma peça inteira. Pelo contrário, ele afirmou a “forma orgânica” de Shakespeare ou sentido “inato” de forma, desenvolvido de dentro, que deu novo sentido à fusão de Shakespeare da comédia e da tragédia, seus aparentes anacronismos, suas ficções improváveis, e suas tramas supostamente incoerentes. Coleridge acumulou desprezo pela ideia do século dezoito de Shakespeare como um gênio “natural”, porém não-instruído. Ele elogiou Shakespeare não por ter espelhado a vida, como o Dr. Johnson havia falado, mas por ter criado um mundo imaginativo afinado às suas próprias harmonias internas. Ele viu Shakespeare como um artista inspirado porém deliberado que agrupou as partes de seu mundo imaginativo com consumada habilidade. “O julgamento de Shakespeare é comensurável com seu gênio.”
Em tudo isso, Coleridge esteve notavelmente próximo ao rival contemporâneo alemão, August Wilhelm Schlegel, que insistiu que Shakespeare foi “um profundo artista, e não um gênio cego e desenfreadamente exuberante.” Nas peças de Shakespeare, diz Schlegel, “O ornamento permanece reivindicando a ser considerado como um poder mental independente, governado por suas próprias leis.” Entre eles, Coleridge e Schlegel inverteram totalmente os valores críticos da era anterior, substituindo “sublimidade” e “imaginação” por universalidade e conformidade à natureza.
Outros críticos românticos incluíam William Hazlitt (Characters of Shakespear’s Plays, 1817), Charles Lamb (On the Tragedies of Shakespeare, 1811) e Thomas De Quincey (On the Knocking at the Gate in Macbeth, 1823). Hazlitt revela a característica de liberalismo político de vários escritores românticos em sua visão crítica do absolutismo de Henrique V e sua guerra imperialista contra a França. John Keats tem algumas coisas penetrantes a dizer em suas cartas sobre a “capacidade negativa” de Shakespeare, ou sua habilidade de ver de dentro das vidas dos personagens com uma simpatia extraordinária em se auto-ocultar. Como um todo, os românticos foram entusiastas de Shakespeare, e, às vezes até idólatras. Ainda que eles consistentemente recusassem a reconhecê-lo como um homem de teatro. Lamb escreve, “Parece um paradoxo, mas eu não posso evitar de ter a opinião de que as peças de Shakespeare são menos calculadas para a atuação em um palco que aquelas de quase qualquer outro dramaturgo.” Hazlitt similarmente observa: “Nós não gostamos de ver as peças de nosso autor em cena, e menos que todos, Hamlet. Não há peça que sofra tanto ao ser transferida para o palco.” Essas atitudes hostis contra o teatro refletiam, em parte, a condição do palco na Inglaterra do século dezenove. Em parte, entretanto, essas atitudes se deram como um resultado inevitável da crítica da personagem, ou o que Lamb chamou de o desejo “de conhecer os trabalhos internos e os movimentos de uma grande mente, de um Otelo, ou de um Hamlet por exemplo, o que e o porquê e o quão longe eles devem se mover.” Esse fascínio com a personagem arrebata tudo o que lhe é anterior durante o período romântico.
A. C. Bradley e a Virada do Século
A tendência da crítica do século dezenove, então, era a de exaltar Shakespeare como um poeta e um filósofo em vez de dramaturgo, e como um criador de personagens imortais os quais às “vidas” podiam ser estudadas como se existentes independentes do texto dramático. Com frequência, essa aproximação crítica levava à interpretação biográfica de Shakespeare através das suas peças, sob a suposição que o que ele escreveu foi sua própria autobiografia espiritual e uma chave para seu próprio caráter fascinante. Talvez o mais famoso estudo crítico nessa linha foi Shakespeare: A Critical Study of His Mind and Art (1875) de Edward Dowden, no qual ele traça uma progressão da exuberância inicial de Shakespeare e o envolvimento apaixonado através do pessimismo taciturno, até uma calma filosófica final.
Ao mesmo tempo, o século dezenove também viu o aumento dos estudos detalhados, factuais e metodológicos, especialmente em universidades alemãs. Dowden, de fato, refletia essa tendência também, pois uma das realizações do estudo filológico foi o de estabelecer com alguma precisão a datação das peças de Shakespeare e assim tornar possível uma análise de seu desenvolvimento artístico. Über Shakespeares dramatische Kunst (1839) de Hermann Ulricci e a edição de Gottfried Gervinus situavam-se entre os primeiros estudos a se interessaram no desenvolvimento cronológico de Shakespeare.
O crítico que mais somou às realizações da crítica shakespeariana do século dezenove foi A. C. Bradley, em seu Shakespearen Tragedy (1904) e outros estudos. Shakespeare Tragedy lida com quatro “grandes” tragédias: Hamlet, Othello, King Lear e Macbeth. Bradley revelou suas tendências românticas em seu foco na análise psicológica da personagem, mas ele também trouxe para o seu trabalho uma erudita consciência do texto que se encontrava ausente em outros críticos dos personagens anteriores. Seu trabalho continua a ter considerável influência hoje, apesar das tendências modernas se rebelarem contra o idealismo do século dezenove. Para Bradley, o mundo trágico de Shakespeare era finalmente explicável e profundamente moral. Apesar da irresistível impressão de desperdício trágico em King Lear, ele argumentou, nós como audiência experimentamos um sentido de compensação e conclusão que implica em um padrão elementar da vida humana. “O bem, no mais amplo sentido, parece ser assim o princípio da vida e da saúde no mundo; o mal, ao menos nessas formas piores, seria um veneno. O mundo reage contra ele violentamente e, na luta por expeli-lo, é levado a devastar-se a si mesmo.” A humanidade deve sofrer por causa da sua fatal tendência de perseguir algumas paixões extremas, mas a humanidade aprende, através do sofrimento, sobre si mesma, e a natureza desse mundo. Nós como audiência somos reconciliados à nossa existência através de uma liberação catártica; rimos através de nossas lágrimas. Cordélia é destruída impiedosamente, mas o fato de sua bondade transcendente é eterno. Mesmo que em um sentido ela falhe, diz Bradley, ela é “em outro sentido superior ao mundo no qual [ela] aparece; é, de alguma forma que não buscamos definir, intocada pela ruína que [a] ultrapassa; e é antes libertada da vida do que desprovida dela.”
A Crítica Histórica
A primeira grande reação do século vinte contra a crítica da personagem foi a assim chamada crítica histórica. (Sobre o movimento crítico posterior conhecido como Novo Historicismo, veja abaixo, siga “Jan Kott e o Teatro do Absurdo.”) Esses críticos insistiam em uma avaliação mais pragmática e cética de Shakespeare através de um melhor entendimento de seu meio histórico: seu teatro, sua audiência e seu meio ambiente político e social. Em uma boa parte, esse movimento foi o resultado de um novo profissionalismo dos estudos de Shakespeare no século vinte. Enquanto que os críticos anteriores – Dryden, Pope, Johnson e Coleridge – tinham sido geralmente amadores literários no melhor sentido, a crítica do início do século vinte se tornou gradativamente a província daqueles que ensinam nas universidades. A pesquisa histórica se tornou uma atividade profissional. Bradley ele próprio foi Professor de Literatura Inglesa em Liverpool e Oxford, e fez muito para legitimar a incorporação de Shakespeare no currículo de humanidades. As realizações acadêmicas alemãs produziram o primeiro periódico regular devotado aos estudos de Shakespeare, o Shakespeare Jahrbuch, a ser seguido em seu devido tempo na Inglaterra e América por Shakespeare Survey (início de 1948), Shakespeare Quarterly (1950) e Shakespeare Studies (1965).
De início, a crítica histórica adotou um novo olhar sobre Shakespeare como um homem do teatro. Sir Walter Raleigh (Professor de Literatura Inglesa em Oxford, não confundir com seu homônimo elisabetano) rejeitou a absorção romântica na psicologia e tornou sua atenção, em vez disso, para os métodos artísticos pelos quais as peças afetam os espectadores do teatro. O poeta Robert Bridges insistiu que Shakespeare frequentemente sacrificava a consistência e a lógica por efeitos teatrais primitivos projetados para agradar sua audiência vulgar. As objeções de Bridges eram com frequência baseadas em uma séria falta de informações sobre o palco de Shakespeare, mas, apesar disso, elas tiveram um efeito iconoclasta sadio na academia de seu tempo. Na Alemanha, Levin Schücking buscou uma linha similar de raciocínio em seu Character Problems in Shakespeare´s Plays (1917, traduzido para o inglês em 1922). Schücking argumentou que Shakespeare desconsiderou a estrutura coerente e batalhou, ao invés disso, por um efeito dramático vívido (“intensificação episódica”) em suas cenas particulares. The Meaning of Hamlet (1937) de Schücking, explicou as estranhas contradições dessa peça como resultantes de fontes materiais germânicas primitivas e brutais, as quais Shakespeare não havia assimilado completamente.
A ideia central da crítica histórica do início do século vinte foi o conceito de artífice ou convenção na construção de uma peça. Talvez o principal porta-voz dessa aproximação foi E. E. Stoll, um estudante G. L. Kittredge da Universidade de Harvard, ele mesmo uma força de liderança na academia histórica da América. Stoll vigorosamente insistiu, em obras como Othello: An Historical and Comparative Study (1919), e Art and Artifice in Shakespeare (1933), que um crítico nunca deve ser desviado por interpretações morais, psicológicas ou biográficas. Uma peça, ele argumentou, é um artífice erguendo-se do seu meio histórico. Suas convenções são argumentos implícitos entre o dramaturgo e o espectador. Eles se alteram com o tempo, e um leitor moderno que é ignorante das convenções elisabetanas está apto a ser iludido por seus preconceitos pós-românticos. Por exemplo, um caluniador como Iago em Othello é convencionalmente suposto a ser acreditado pelos outros personagens no palco. Nós não precisamos especular sobre as “realidades” das ludibriações de Otelo, e, de fato, é provável que nós nos perdamos nessas especulações românticas. Stoll foi até o ponto de afirmar, de fato, que o drama shakespeariano distorce intencionalmente a realidade através de suas convenções teatrais, com vistas de preencher sua própria existência como artífice. Hamlet não é uma peça sobre o atraso mas uma história de vingança de uma certa duração, contendo muitos motivos convencionais de vingança, como o fantasma e o esquema “ratoeira” usado para testar o vilão, e derivando muitas das circunstâncias das fontes de Shakespeare; o atraso é um dispositivo convencional necessário à continuação da história para a sua conclusão.
O zelo de Stoll conduziu-o a excessivas reivindicações para a crítica histórica, como alguém poderia esperar dos primeiros anos de um movimento pioneiro. Em seu extremo, a crítica histórica chega perto de insinuar que Shakespeare foi um mero produto do seu meio ambiente. De fato, o movimento devia muitas de suas suposições evolucionistas ao supostamente científico “Darwinismo social” de Thomas Huxley e outros filósofos sociais do final do século dezenove. Nos anos mais recentes, entretanto, o espírito de cruzada deu espaço a uma crítica histórica mais moderada que continua a ser uma importante parte do academicismo shakespeariano.
Alfred Harbage, por exemplo, em As They Liked It (1947) e em Shakespeare and The Rival Traditions (1952), analisou a audiência para a qual Shakespeare escreveu e a rivalidade entre os teatros populares e os de elite na Londres de seus dias. Harbage vê Shakespeare como um dramaturgo popular escrevendo para uma audiência altamente inteligente, entusiástica e socialmente diversificada. Mais recentemente, em The Privileged Playgoers of Shakespeare´s London, 1576-1642(1981), Ann Jenalie Cook qualificou a visão de Harbage, argumentando que a audiência de Shakespeare era, em sua maior parte, próspera e bem conectada. G. E. Bentley acumulou um depósito inestimável sobre The Elizabethan Stage (1923). Outros estudos, por esses acadêmicos históricos, incluem William Shakespeare: A Study of Facts and Problems (1930) de Chambers,Shakespeare and His Theatre (1964) e The Profession of Dramatist in Shakespeare´s Time (1971) de Bentley. T. W. Baldwin exemplifica o acadêmico histórico que, como Stoll, reinvindica muito para o método; entretanto, muita informação sobre a escolaridade de Shakespeare, suas leituras e a vida teatral profissional estão disponíveis em obras como William Shakspere´s Small Latine and Lesse Greeke (1944) e The Organization and Personnel of The Shakespearean Company (1927). Hardin Craig usa o método histórico em An Interpretation of Shakespeare (1948).
A crítica histórica contribuiu grandemente para nosso conhecimento da encenação das peças de Shakespeare. Gerge Pierce Baker, em The Development of Shakespeare as a Dramatist (1907), continuou a linha de investigação iniciada por Walter Raleigh. Harley Granville-Barker trouxe para o seu Prefaces to Shakespeare (1930, 1946) uma riqueza de sua própria experiência teatral. Desde seu tempo, o novo método teatral de interpretação de Shakespeare tem sido baseado em uma extensão sempre maior de genuínos ressurgimentos na produção shakespeariana. John Dover Wilson mostra uma consciência do palco em What Happens in Hamlet (1935) e em The Fortunes of Falstaff (1943). Em seu melhor, como em Shakespeare´s Plays in Performance (1966) de John Russel Brown, Shakespeare´s Stagecraft (1967), de John Styan, em Shakespeare and the Energies of Drama (1972) de Michael Goldman e em Elizabethan Drama and the Viewer´s Eye (1977) de Alan Dessen e seu Recovering Shakespeare´s Theatrical Vocabulary (1995), esse método crítico revela muitas análises profundas ao texto que são difíceis de se obterem sem uma consciência da técnica teatral.
Suportando essa crítica teatral, a pesquisa histórica aprendeu muito sobre a natureza física do palco de Shakespeare. O modelo bem conhecido do teatro Globe de J. C. Adams, como apresentado em Shakespeare´s Globe Playhouse: A Modern Reconstruction (1956), de Irwin Smith, é agora geralmente desacreditado em favor de uma construção mais simples, conforme reconstruída por C. Walter Hodges (The Globe Restored, 1953, Segunda edição, 1968), Bernard Beckerman (Shakespeare at the Globe, 1962, Segunda edição, 1967), Richard Hosley (“The Playhouses and the Stage” em A New Companion to Shakespeare Studies, editado por K. Muir e S. Schoenbaum, 1971, e vários outros bons ensaios), T. J. King (Shakespearean Staging, 1599-1642, 1971), e outros. Informações sobre teatros privados, como o Blackfriars, onde as peças de Shakespeare também eram encenadas, aparecem em The Elizabethan Private Theatres (1958) de William Armstrong; de Richard Hosley, “A Reconstruction of the Second Blackfriars” (The Elizabethan Theatre, 1969); de Glynne Wickham, Early English Stages (1959-1972); e outros. Para mais informações sobre os teatros de interiores, da côrte e privados, veja as contribuições de Herbert Berry, D. F. Rowan, W. Reavley Gair e outros citados na bibliografia no final desse volume.
Uma busca relacionada da crítica histórica tem sido um melhor entendimento de Shakespeare através de seus predecessores e contemporâneos dramáticos. The Medieval Heritage of Elizabethan Tragedy(1936) de Willard Farnham, traça a evolução da tragédia inglesa nativa através das peças de moralidade do início do período Tudor. The Origins of English Tragedy (1967) de J. M. R. Margeson alarga o modelo para incluir ainda outras fontes das ideias elisabetanas da tragédia dramática. Bernard Spivack, em Shakespeare and the Allegory of Evil (1958), vê Iago, Edmundo, Ricardo III e outros vangloriosos vilões de Shakespeare como descendentes do vício da moralidade. Em Shakespeare and the Idea of the Play (1962), Anne Righter (Barton) traça o dispositivo da peça-dentro-da-peça e a metáfora do mundo como um palco até as ideias clássica e medievais de ilusão dramática. Irving Ribner, em The English History Play in the Age of Shakespeare (1959, revisado em 1965) examina as peças de Shakespeare sobre a história inglesa no contexto do gênero popular elisabetano às quais elas pertenciam. Robert Weimann, em Shakespeare and the Popular Tradition in the Theatre (traduzido do alemão em 1978) é um estudo marxista sobre a dimensão social da forma e função dramática. Muitos outros estudos desse tipo podem ser listados, incluindo Shakespeare´s Dramatic Heritage (1969) de Glynne Wickham, Shakespeare´s Satire (1943) de Oscar J. Campbell,Themes and Conventions of Elizabethan Tragedy (1935) de M. C. Bradbrook, e Shakespeare and the Popular Dramatic Tradition (1944), de S. L. Bethell.
Outra importante preocupação da crítica histórica tem sido o relacionamento entre Shakespeare e as ideias de sua época – cosmológicas, filosóficas e políticas. Entre os primeiros acadêmicos a estudar a cosmologia elisabetana estiveram Harding Craig, em The Enchanted Glass (1936) e A. O. Lovejoy em The Great Chain of Being (1936). Como sucessor deles, E. M. W. Tillyard forneceu em The Elizabethan World Picture (1943) uma visão definitiva dos valores conservadores e hierárquicos que os elisabetanos supostamente adotaram. Em Shakespeare´s History Plays (1944), Tillyard estendeu sua visão essencialmente conservadora da perspectiva filosófica de Shakespeare às histórias, argumentando que elas encarnavam um “mito Tudor” e assim dava suporte ao estado Tudor. Crescentemente, entretanto, os críticos disputam a extensão pela qual Shakespeare de fato endossava os valores estabelecidos do retrato de mundo elisabetano. Theodore Spencer, em Shakespeare and the Nature of Man (1942), discute o impacto em Shakespeare de novos pensadores como Maquiavel, Montaigne e Copérnico. Em matéria política, Henry A. Kelly em Divine Providence in the England of Shakespeare´s Histories (1970) desafiou a existência de um único “mito Tudor” e argumentou que as peças históricas de Shakespeare refletiam filosofias políticas contrastantes arranjadas dramaticamente em conflito uma com as outras. M. M. Reese em The Cease of Majesty (1961) também oferece um gracioso corretivo às interpretações lúcidas de Tillyard, mas ocasionalmente parciais. Revisões nessa direção continuaram nos trabalhos dos chamados novos-historicistas e materialistas culturais, a serem discutidos abaixo.
A crítica histórica também produziu muitos estudos especializados profícuos, nos quais Shakespeare é iluminado por um melhor entendimento das várias ciências de seus dias. Lily Bess Campbell se aproxima das tragédias de Shakespeare através da psicologia do Renascimento em Shakespeare´s Tragic Heroes: Slaves of Passion (1930). Paul Jorgensen usa documentos elisabetanos sobre a arte da guerra e liderança em seu estudo Shakespeare´s Military World (1956). Muitos estudos similares examinam Shakespeare em relação com as leis, medicina e outras profissões.
A Nova Crítica
Como vimos, a crítica histórica é ainda uma importante parte da crítica de Shakespeare; para melhor ou pior, ela é a pauta de algumas universidades orientadas para a pesquisa e seus programas de Ph.D. Desde o seu início, entretanto, a crítica histórica fez face a uma reação crítica, gerada, em parte, pelas suas próprias tendências utilitárias e acumuladoras de fatos. As sugestões motivadas por Stoll e outros, que Shakespeare foi o produto do seu meio ambiente cultural e teatral, tendiam a obscurecer suas realizações como poeta. A acumulação de informações sobre as leituras de Shakespeare ou de sua companhia teatral, com frequência parecia inibir o estudioso de responder ao poder das palavras e imagens.
Assim foi o grito de guerra do grupo Scrutiny na Inglaterra, centrado em F. R. Leavis, L. C. Knights, e Derek Traversi, e os “novos” críticos na América, como por exemplo, Cleanth Brooks. Os novos críticos demandavam uma atenção mais próxima à poesia sem o ônus da pesquisa histórica. Especialmente no início, eles estavam abertamente hostis a qualquer crítica que distraísse os leitores do texto. A força satírica do movimento pode talvez ser melhor saboreada em “How Many Children Had Lady Macbeth?” (1933) de L. C. Knights, sugerido pelo erudito apêndice de Shakespearean Tragedy: “Quando a morte de Duncan foi pela primeira vez tramada? Lady Macbeth realmente desmaiou? Duração da ação em Macbeth. A idade de Macbeth. ‘Ele não tinha filhos.’”
Em parte, o novo movimento crítico foi (e ainda é) um movimento pedagógico, um protesto contra a potencial secura da nota de rodapé histórica e uma insistência que o estudo em classe de Shakespeare deveria focar em uma resposta à sua linguagem. “The Naked Babe and the Cloack of Manliness” (em The Well Wrought Urn, 1947) de Cleanth Brooks, oferece ao professor um modelo de leitura próxima que enfoca à imagética e ainda tenta ter uma inteira visão da peça através da sua linguagem. G. Wilson Knight concentra-se na imagética e na textura verbal, às vezes a exclusão de uma peça como um todo, em seu The Wheel of Fire (1930), The Imperial Theme (1931), The Shakespearian Tempest (1932), The Crown of Life (1947) e outros. William Empson é mais conhecido pelo seu Seven Types of Ambiguity (1930), Shakespeare: The Last Phase (1954), Shakespeare: From Richard II to Henry V (1957), e Shakespeare: The Roman Plays (1963). Talvez o maior crítico dessa escola foi L. C. Knights, que entre seus livros incluíam Explorations (1946), Some Shakespearean Themes (1959), An Approach to Hamlet (1960), e Further Explorations (1965). As observações criteriosas e controvérsias de T. S. Eliot tiveram também uma importante influência na crítica dessa escola. Outros estudos fazem bom uso do novo método crítico incluem This Great Stage e Magic in the Web (1956) de Robert Heilman. Muitos desses críticos estavam preocupados não somente com a linguagem mas também com implicações morais e estruturais das peças de Shakespeare conforme descobertas através de um leitura sensível do texto.
Estudos mais especializados na imagética e na linguagem shakespeariana incluem Shakespeare´s Imagery and What It Tells Us (1935) de Caroline Spurgeon. Suas classificações são agora reconhecidas como abertamente estatísticas e restritas em definição, mas o trabalho tem, entretanto, motivado maiores estudos. Entre os trabalhos posteriores estão Shakespeare´s Use of the Arts of Language (1947, parcialmente reimpresso em Rhetoric in Shakespeare´s Time, 1962) de Sister Miriam Joseph, The Development of Shakespeare´s Imagery (1951) de Wolfgang Clemen, e Shakespeare´s Wordplay (1957) de M. M. Mahood. O estudo da prosa não recebeu tanta atenção quanto o da poesia, entretanto The Artistry of Shakespeare´s Prose (1968) de Brian Vickers, Shakespeare´s Prose (1951) de Milton Crane, faz significantes contribuições. Veja também Shakespeare´s Imagination (1963) de Edward Armstrong e Shakespeare´s Creation: The Language of Magic and Play (1975) de Kirby Farrell.
Um mais recente desenvolvimento nos estudos da imagética de Shakespeare levou ao exame das imagens visuais no teatro como parte da arte de Shakespeare. Reginald Foakes (“Suggestions for a New Approach to Shakespeare´s Imagery”, Shakespeare Survey, 5, 1952, 81-92) e Maurice Charney (Shakespeare´s Roman Plays: The Function of Imagery in the Drama, 1961) estão entre os primeiros que notaram que Caroline Spurgeon e outros “novos” críticos usualmente excluem a figura do palco de seus focos nos padrões de imagens verbais. Mesmo o extensivo envolvimento de Shakespeare com as praticidades da produção teatral pode bem levar alguém a suspeitar que ele arranje o palco com cuidado e que as peças estejam repletas de dicas de como ele se comunicava através dos meios visuais. Figurino, cenário, a construção do teatro, o posicionamento dos atores em uma disposição visual no palco, expressão, movimento – todos esses contribuem para a integridade artística da peça. Francis Fergusson analisa o modo como às construções teatrais elisabetanas fornecem Hamlet com uma eloquente expressiva ideia de ordem e hierarquia, contra os quais são ironicamente justapostos os atos de Cláudio de assassinar um rei e casar com sua viúva (The Idea of a Theater, 1949). Outros estudos da imagética do palco incluem Shakespeare the Director (1982) de Ann Pasternak Slater e Action Is Eloquence: Shakespeare´s Language of Gesture (1984), de David Bevington.
Outra chamada para expansão dos ocasionalmente estreitos limites do “nova” crítica vem da chamada escola de Chicago de crítica, centrada em R. S. Crane, Richard McKeon, Elder Olson, Bernard Weinberg, e outros, os quais, nos anos 1950 e 1960, adotaram uma aproximação crítica formal ou estrutural, usando Aristóteles como ponto de partida. Crane estava reagindo aos novo críticos os quais, em sua visão, restringiam os tipos de respostas que podiam obter ao limitar-se a si mesmos a uma metodologia. Críticos hostis à escola de Chicago responderam, de fato, que o método de Crane tendia a produzir o seu próprio dogmatismo. Análises formalistas das peças de Shakespeare são encontradas, por exemplo, no trabalho de W. R. Keast, Wayne Booth e Norman Maclean; veja Critics and Criticism, editado por R. S. Crane (1952) e a bibliografia no final deste livro.
A Crítica Psicológica
Em um sentido, a crítica freudiana e outras psicológicas continuam a crítica da “personagem” do século dezenove. Críticos freudianos às vezes seguem um personagem para um mundo fora do texto, analisando Hamlet (por exemplo) como se ele fosse uma pessoa real a quem os traumas de infância podem ser inferidos dos sintomas que ele expõe. O trabalho mais famoso nessa verve é Hamlet and Oedipus (1910, revisado em 1949), pelo discípulo de Freud, Ernest Jones. De acordo com Jones, o atraso de Hamlet é causado por um trauma de Édipo. O tio de Hamlet, Cláudio, fez exatamente o que Hamlet ele próprio desejava subconscientemente e incestuosamente fazer: matar seu pai e casar com sua mãe. Porque ele não pode articular esses impulsos proibidos em si mesmo, Hamlet está paralisado na inatividade. A análise crítica de Jones assume assim, como alguns críticos românticos como Coleridge, que o problema central de Hamlet é um de caráter e motivação: Por que Hamlet se atrasa? Muitos críticos modernos negam que isso seja um problema ou insistem que, pelo menos, ao colocar esse problema Jones limitou o número de possíveis respostas. Avi Erlich propõe uma leitura psicológica inteiramente diferente da peça em Hamlet´s Absent Father, 1977. A crítica psicológica às vezes também revela sua afinidade com a crítica da personagem do século dezenove em sua tentativa de analisar a personalidade de Shakespeare através de suas peças, como se estas constituíssem uma autobiografia espiritual. A terminologia da crítica psicológica é suspeita para alguns leitores porque ela é pelo menos superficialmente anacrônica quando se relaciona com um escritor do Renascimento. A terminologia é também com frequência sobrecarregada com jargão técnico.
Entretanto, a crítica psicológica produziu muitas compreensões de Shakespeare não disponíveis facilmente em outros modos de percepção. O livro de Jones tornou clara a intensidade da repulsão de Hamlet à mulher como um resultado da inconstância de sua mãe. A um nível mítico, a história de Hamlet relembra aquele de Édipo, e a crítica freudiana está no seu melhor quando ela nos mostra esse aspecto universal da psique humana. A terminologia freudiana não necessita ser anacrônica quando lida com verdades eternas. A crítica psicológica pode revelar a nós a preocupação de Shakespeare com certos tipos de mulheres em suas peças, como a dominadora e a de tipo masculino ameaçadora (Joan of Arc, Margaret of Anjou) ou, contrariamente, a heroína paciente e que muito sofre (Helena em All´s Well, Hermione em The Winter´s Tale). A crítica psicológica é talvez mais útil ao estudar os relacionamentos familiares em Shakespeare. Ela também tem muito a dizer sobre as conotações psíquicas ou sexuais dos símbolos. Livros influentes incluem Life Against Death: The Psychoanalytical Meaning of History (1959) de Norman O. Brown, Psychoanalysis and Shakespeare(1966) e The Shakespearean Imagination (1964) de Norman Holland.
Turn and Counter-Turn: Shakespeare´s Development and the Problem Comedies (1981), de Richard Wheeler, aplica o método psicanalítico a um estudo do desenvolvimento de Shakespeare, no qual, como Wheeler vê, os sonetos e as peças problemas são cruciais como viradas de Shakespeare dos mundos seguramente contidos da comédia romântica (com heroínas não-ameaçadoras) e das peças de história inglesa (nas quais às mulheres são negadas qualquer coisa a mais que um papel marginal nos negócios do estado) às tragédias, nas quais o conflito sexual é mostrado em toda sua potencial aterrorizadora destrutibilidade. A conclusão de Wheeler em The Whole Journey: Shakespeare´s Power of Development (1986), de C. L. Barber continua o estudo do desenvolvimento de Shakespeare nas últimas peças. As dicotomias de gênero e forma literária motivaram esses estudos e, continuados por Linda Bamber (Comic Women, Tragic Men: A Study of Gender and Genre in Shakespeare, 1982), entre outros, foram disputados por Jonathan Goldberg em seu ensaio, “Shakespearean Inscriptions: The Voicing of Power” em Shakespeare and the Question of Theory (editado por Patricia Parker e Geofrey Hartman, 1985). Uma coleção de ensaios sobre a editoração de Murray Schwartz e Coppélia Kahn, Representing Shakespeare (1980), produziu uma amostra do trabalho de Janet Adelman, David Wilbern, Meredith Skura, David Sundelson, Madelon Gohlke Sprengnether, Joel Fineman, e outros.
Muito da crítica psicanalítica dos anos 1980 procurou deslocar a ênfase de Freud na relação de pai e filho e no triangulo de Édipo em favor da atenção na relação pré-Édipo entre mãe e criança; um modelo aqui é o trabalho de Karen Horney (por exemplo, Neurosis and Human Growth: The Struggle Toward Self-Realization, 1950). Jacques Lacan (Écrits, traduzido por Alan Sheridan, 1977) e Erik Erikson (Childhood and Selfhood, 1978) são também proeminentes teóricos da era pós-freudiana. Apesar dessas mudanças, a crítica psicanalítica ainda tenta descobrir na linguagem da peça os meios pelos quais ele ou ela podem reconstruir um estágio inicial no desenvolvimento de um ou mais dos personagens dramáticos.
A Crítica Mitológica
Relacionado com a crítica psicológica está a busca por mitos arquétipos na literatura, como uma expressão do “inconsciente coletivo” da raça humana. Por trás desta abordagem estão as suposições antropológicas e psicológicas de Jung e seus seguidores. Um dos primeiros estudos desse tipo foi Hamlet and Orestes (1914) de Gilbert Murray, analisando o arquétipo da vingança por um pai assassinado. Claramente esse costume conduz de volta à pré-história tribal e emerge em uma variedade de formas, porém relacionadas, em muitas sociedades diferentes. Essa universalidade antropológica nos permite olhar para Hamlet como uma manifestação aumentada de uma história incrivelmente básica. Hamlet dá forma às motivações que são uma parte de nosso ser social mais íntimo. O conflito entre o civilizado e o primitivo continua em nós como na peça Hamlet.
O caráter interdisciplinar vasto da crítica mitológica deixa-a vulnerável a acusações de teorização superficial e não especulativas. Em seu melhor, entretanto, a crítica mitológica pode iluminar a natureza de nossas respostas como audiência a uma obra de arte. Northrop Frye argumenta, em A Natural Perspective (1965), que nós respondemos à padrões míticos ao imaginarmo-nos participando delas publicamente. O drama grego emergiu, sobretudo, do ritual dionisíaco. Todo drama celebra de uma forma ou outra os mitos primais de vegetação, da morte do ano à renovação ou ressurreição da vida. Em seu mais influente livro, Anatomy of Criticism (1957), Frye argumenta que a crítica mítica apresenta um esquema universal para a investigação de toda a literatura, ou toda arte, pois a arte é ela mesma a ordenação de nossas mais primais excitações. Frye vê no drama (como em outra literatura) uma quádrupla correspondência ao padrão cíclico do ano: a comédia é associada com a primavera, o romance com o verão, tragédia com outono e a sátira com o inverno. Historicamente, a civilização se move através de um ciclo recorrente da novidade até a decadência e a desintegração; esse ciclo expressa a si mesmo culturalmente em uma progressão do épico e romance até a tragédia, ao realismo social, e, finalmente, à ironia e a sátira antes do ciclo se renovar. Assim, de acordo com Frye, os gêneros da literatura dramática (e das outras formas literárias também) têm um absoluto e eterno relacionamento com o mito e a história cultural. É por isso que nós como audiência respondemos tão profundamente à forma e ao significado conforme contidos no gênero. C. L. Barber, em Shakespeare´s Festive Comedy (1959), faz um argumento similar: nosso prazer na comédia surge da nossa apreciação intuitiva desses costumes sociais “primitivos” como a Celebração da Saturnália, os jogos de maio, e os ritos de fertilidade. John Holloway oferece um estudo antropológico das tragédias de Shakespeare em The Story of the Night (1961).
O sistema crítico de Frye teria seus oponentes críticos. Por exemplo, Frederick Crews (Psychoanalysis and Literary Process, 1970) argumenta que o sistema de Frye é muito auto-contido em sua torre de marfim é apenas um artefato abstrato da mente crítica para ser relevante aos propósitos sociais da arte. Porém, Frye continua a ser um dos mais influentes críticos do final do século vinte.
A Crítica Tipológica
Outra controvérsia do final do século vinte tem a ver com a interpretação Cristã de Shakespeare. As imagens e alusões nas peças de Shakespeare mostram-no profundamente imerso em uma cultura Cristã, herdada da Idade Média? Ele revela um elenco tipológico da mente, tão comum na literatura medieval, pelo qual uma história pode sugerir através de analogia um arquétipo religioso universal? Por exemplo, o misterioso Duke em Measure for Measure sugere a nós uma figura de Deus, pairando invisível ao longo da peça para testar a vontade humana e então para apresentar à humanidade com um julgamento onisciente mas misericordioso? A chacina injustificada da boa Cordélia em King Lear é alusiva à Paixão de Cristo? Podia Portia, em The Merchant of Venice ser vista como uma figura descendo de Belmont para o mundo humano decaído de Veneza? Com frequência a questão operativa que nós devemos responder é: “Quão longe essa analogia deve ser perseguida?” Richard II inquestionavelmente se assemelha ao Cristo traído pelos discípulos, e em certo momento a peça evoca imagens de Adão banido do Paraíso, porém, essas alusões juntam-se em uma analogia sustentada?
Entre os mais entusiásticos investigadores por uma significação Cristã estão J. A. Bryant em Hippolyta´s View (1961); Roy Battenhouse, em Shakespearean Tragedy: Its Art and Christian Premises (1969); e R. Chris Hassel, em Renaissance Drama and the English Church (1979) e Faith and Folly in Shakespeare: Romantic Comedies (1980). Os esforços deles encontraram rígida oposição, entretanto. Um notável dissidente é Roland M. Frye que em Shakespeare and Christian Doctrine (1963) argumenta que Shakespeare não pode ser mostrado como conhecedor de muita da teologia do Renascimento e que, em qualquer caso, suas peças tratam com o drama humano em vez de questões sobrenaturais de danação e salvação. O argumento de Frye demonstra a incompatibilidade da Cristandade e a tragédia, com faz também D. G. James em The Dream of Learning (1951) e Clifford Leech em Shakespeare´s Tragedies and Other Studies in Seventeenth-Century Drama (1950). Virgil Whitaker em The Mirror Up to Nature (1965) vê a religião como um elemento essencial das peças de Shakespeare mas argumenta que Shakespeare usa o conhecimento da religião da sua audiência como um atalho à caracterização e significado, em vez de uma arma ideológica. A longa controvérsia irá sem dúvida continuar, mesmo se os críticos tipológicos tiverem que assumir uma postura defensiva.
Jan Kott e o Teatro do Absurdo
No extremo oposto do idealismo Cristão da maioria dos críticos tipológicos está o iconoclasmo daqueles desiludidos pelos recentes eventos da história. Uma pessoa que condensa a desilusão política na consequência da Segunda Guerra Mundial, especialmente na Europa Oriental, é Jan Kott. O evocativo desmascaramento dos ideais românticos apresentado no seu Shakespeare Our Contemporary (1964,traduzido do polonês) gozou de imensa influência desde os anos 1960, especialmente no teatro. Kott vê Shakespeare como um dramaturgo do absurdo e do grotesco. Nesse sentido, as peças shakespearianas são, com frequência, próximas à comédia “negra” ou a comédia do absurdo, como definido por Antonin Artaud (The Theatre and Its Double, 1958) e Jerzy Grotowski (Towards a Poor Theatre, 1968). De fato, Kott inspirou produções que expõem valores tradicionais ao ceticismo e ao ridículo. Porcia e Bassânio em The Merchant of Venice se tornam maquinadores aventureiros; Henrique V se torna um arrogante belicista. A história é, para Kott, um pesadelo associado com a experiência de seu país na Segunda Guerra Mundial, e a modernidade de Shakespeare pode ser vista nesse retrato sarcástico do oportunismo político e violência. Mesmo A Midsummer´s Night´s Dream é uma peça de inquietante brutalidade erótica, Kott argumenta. Aqui está uma interpretação de Shakespeare que estava comprometida a ter um enorme apelo em um mundo confrontado pelos assassinatos de Kennedy e Martin Luther King Jr.; pela guerra incessante no Oriente Médio, Sudeste da Ásia e muito do terceiro mundo; pela ameaça de aniquilação nuclear e desastre ecológico; e pela liderança política geralmente percebida como interessada somente nas técnicas de relações públicas da autopreservação. Uma visão essencialmente irônica da política e, mais abrangente, da natureza humana, informou muito a crítica desde os dias de Kott e levou ao destronamento de E. M. W. Tillyard e sua essencialmente positiva visão do patriotismo inglês e heroísmo nas peças históricas.
Novo Historicismo e o Materialismo Cultural
Um caminho mais recente de investigação de Shakespeare através da perspectiva desmistificante da experiência moderna – o chamado novo historicismo – tem se focado em temas de “autoconstrução” política e a interpretação de papéis em termos de poder e subversão. Essa escola crítica manteve a atenção próxima a historiadores e antropólogos culturais como Lawrence Stone (The Crisis of the Aristocracy, 1558-1641, 1965) e Clifford Geertz (Negara: The Theatre State in Nineteenth-Century Bali, 1980) que exploram novos horizontes do relacionamento entre mudança histórica e os mitos gerados que a ocasionaram ou para a retenção do poder. Geertz analisa o modo como as cerimônias e mitos da regra política podem, com efeito, se tornarem uma realidade autogestora; reis e outros líderes, representando seus papéis em cerimoniais projetados para encapsular o mito de sua grandeza e origem divina, essencialmente se tornam o que eles criaram em suas personificações de poder. Essa visão da autoridade política é inerentemente cética, vendo o governo como um processo de manipulação de ilusões. Quando as peças de história inglesa de Shakespeare – ou de fato qualquer peça lidando com conflitos de autoridade – são analisadas nesses termos, a subversão e a contenção se tornam assuntos importantes. As peças de Shakespeare e outros dramaturgos renascentistas celebram o poder dos monarcas Tudors, ou elas questionam e minam as suposições de hierarquia? O drama elisabetano serve para aumentar o ceticismo e a pressão pela mudança, ou, contrariamente, serve para relaxar a pressão para que a estrutura de poder possa se manter vigente?
O “novo historicismo” é um nome aplicado a um tipo de crítica literária praticada na América, proeminentemente por Stephen Greenblatt. Especialmente influentes, os seus Renaissance Self-Fashioning (1980), Shakespearean Negotiations (1988) e sua edição do jornal Representations. Aqueles que perseguem vieses similares incluem Louis Montrose, Stephen Orgel, Richard Helgerson, Don E. Wayne, Frank Whigham, Richard Strier, Jonathan Goldberg, David Scott Kastan e Steven Mullaney que compartilham os objetivos de Greenblatt em uma maior ou menor extensão e pensam de si mesmos, com algumas reservas, como “novos historicistas”; o termo é enganosamente categórico, e Greenblatt, entre outros, é diligente em alargar os parâmetros do método em vez de permiti-lo endurecer em uma ortodoxia. (Greenblatt, de fato, prefere o termo “poética da cultura” a “novo historicismo”, mesmo que a último permaneca melhor conhecido.) Ademais, esses críticos compartilham geralmente vários temas. Entre as formas que os novo historicistas procuram separar a si mesmos dos críticos históricos anteriores é negando que a obra de arte é um produto unificado e autocontido de um criador independente com douto controle do significado da obra. Em vez disso, os novos historicistas representam a obra como uma faceta dos múltiplos e contraditórios discursos do seu tempo. Os novos historicistas também negam a noção que a arte meramente “reflete” seu meio histórico; em vez disso, eles argumentam que a arte se envolve, e contribui para, as práticas sociais de seu tempo. Apesar das fronteiras entre a nova e a velha crítica histórica serem frequentemente difíceis de estabelecerem-se, em geral os novos historicistas estão aptos a serem céticos em relação ao cânone dos textos literários e são levados a uma leitura marcantemente politizada das peças do Renascimento. É possível encontrar por todo o lado do novo historicismo uma profunda ambivalência em relação à autoridade política.
As ideias provocativas de Mikhail Bakhtin sobre o carnaval (L´Ouevre de François Rabelais et la Culture Populaire du Moyen Age, 1970) tiveram uma importante influência nos círculos de novos historicistas, como refletido, por exemplo, na obra de Michael Bristol (Carnival and Theatre: Plebeian Culture and the Structure of Authority in Renaissance England, 1985), Peter Stallybrass, Gail Paster, e outros. Como o novo historicismo, essa aproximação crítica olha para o chamado entretenimento de alta cultura, incluindo Shakespeare, em relação com as práticas da cultura popular, assim quebrando a distinção entre “alta” e “popular”. Textos literários e não literários são sujeitos à mesma forma de escrutínio sério. As origens populares do teatro recebem nova atenção, como em Shakespeare and the Popular Tradition in the Theater: Studies in the Social Dimension of Dramatic Form and Function (publicado na Alemanha em 1967 e em uma tradução para o inglês em 1978) de Robert Weimann.
O materialismo cultural, na Grã-Bretanha, tomou uma aproximação análoga de destronamento de textos canônicos e a ênfase na arte como profundamente implicada nas práticas sociais do seu tempo, porém difere dos novos criticistas americanos na questão da mudança. O novo historicismo é criticado, às vezes, por sua falta de um modelo de mudança e por sua crença relutante, em vez (na formulação de Greenblatt especialmente), que todas as tentativas de subversão pela arte estão destinadas a serem contidas pelas estruturas de poder da sociedade; a arte permite a expressão de pontos de vista heterodoxos, mas somente como uma forma de descarrego, e assim aliviando às pressões por mudanças atuais e radicais. O materialismo cultural inglês, em contraste, é mais declaradamente comprometido não somente com interpretações políticas radicais, mas também em mudanças políticas rápidas, parcialmente em resposta ao que é percebido como diferenças de classes profundamente enraizadas do que aquelas encontradas na América. Jonathan Dollimore em Radical Tragedy (1984) e Political Shakespeare (1985), editados por Dollimore e Alan Sinfield, empregam o dramaturgo do lado da luta de classes. Assim também o faz em Alternative Shakespeare, editado por John Drakakis (1985), Shakespeare and Society (1967) e Shakespeare (1986) de Terry Eagleton. Raymond Williams, que não foi um crítico de Shakespeare, foi reconhecido como o padrinho do movimento.
A Crítica Feminista
A crítica feminista é de um campo tão importante e diverso que ele necessariamente e produtivamente alcançou várias disciplinas relacionadas, como a antropologia cultural e sua riqueza de informação sobre as estruturas familiares. Em seu The Elementary Structures of Kinship (1949, traduzido em 1969) e outros livros, Claude Lévi-Strauss analisou o modo como os homens, como pais e como maridos, controlam a transferência da mulher de uma família para outra em um sistema marital “exogâmico” projetado para fortalecer os laços comerciais e de outras ordens entre homens. A crítica feminista recente tem muito a dizer sobre as estruturas patriarcais nas peças e nos poemas de Shakespeare, algumas delas construídas sob a análise da patriarquia de Lévi-Strauss; veja, por exemplo, de Karen Newman, “Portia´s Ring: Unruly Women and Structures pf Exchange in The Merchant of Venice”, Shakespeare Quarterly, 38 (1987), 10-33, e de Lynda Boose, “The Father and the Bride in Shakespeare” PMLA, 97 (1982), 325-47. Coppélia Kahn examinou a ideologia do estupro em The Rape of Lucrece, mostrando como a mulher estuprada é desvalorizada pela vergonha que se atribui a seu marido, mesmo se ela é inocente (Shakespeare Studies, 9, 1976, 45-72).
Outra importante fonte de compreensão para a crítica feminista é o trabalho antropológico sobre os ritos de passagem por Arnold Van Gennep (The Rites of Passage, traduzido por M. B. Vizedom e G. L. Caffe, 1960) e Victor Turner (The Ritual Process, 1969), entre outros. O foco aqui é sobre os perigos da transição nos períodos de nascimento, puberdade, casamento, morte e outros pontos de inflexão da vida humana. A crítica feminista, ao lidar com essas crises de transição, se preocupa não somente com os papéis das mulheres, mas também, mais abrangentemente, com relações de gênero, com estrutura da família e com os problemas que os homens encontram em sua busca por identidade sexual madura. Coppélia Kahn em Man´s Estate; Masculine Identity in Shakespeare (1981) olha particularmente para a dificuldade do homem em confrontar os obstáculos da maturidade. Robert Watson, em Shakespeare and the Hazard of Ambition (1984) também olha para o homem no contexto político da carreira e autoformação. Marjorie Garber em Coming of Age in Shakespeare (1981) se dedica detidamente à maturação.
Como esses títulos sugerem, os modelos são com frequência psicológicos, como também antropológicos. Um foco da crítica feminista é o papel da mulher no amor e no casamento. As críticas feministas não concordam consigo mesmas se o retrato pintado por Shakespeare e outros dramaturgos elisabetanos é otimista, como argumentou, por exemplo, Juliet Dusinberre em Shakespeare and the Nature of Women (1975, 1996), ou repressivo, conforme argumentado por Lisa Jardine, em Still Harping on Daughters: Women and Drama in the Age of Shakespeare (1983). Historicistas recentes adicionaram uma importante perspectiva, especialmente Lawrence Stone em seu The Family, Sex, and Marriage in England, 1500-1800 (1977). A ênfase Protestante no casamento como um relacionamento moralmente elevado e recíproco teve um efeito paradoxal de despertar nos homens uma maior hostilidade e prudência em relação à mulher e um resultante aumento da repressão e violência? Ou, como David Underdown sugere, nós devemos olhar para as explicações econômicas de hostilidade e prudência em relação à mulher no Renascimento? Os estudos dele indicaram que a repressão da mulher é maior em regiões do país onde o lugar delas na economia oferece a possibilidade delas terem algum controle sobre as finanças da família. (Veja Revel, Riot, and Rebellion: Popular Culture in England, 1603-1660, 1985, pp. 73-105, especialmente p.99).
Certamente, a crítica recente deu muita atenção às angústias masculinas sobre a mulher nas peças de Shakespeare, com vários protagonistas masculinos que resolvem ensinar às mulheres uma lição (The Taming of the Shrew), sucumbem à fantasias negras da infidelidade feminina (Much Ado About Nothing, Othello), ou são esmagadas pela revulsão misógina (Hamlet, King Lear). É como se Shakespeare, em suas peças e poemas, trabalhasse através dos problemas que os homens experienciam ao longo de suas vidas em seus relacionamentos com as mulheres, das inseguranças da côrte ao desejo de possessão e controle em um casamento, de medos ciumentos de traições ao anseio de escapar da aventura sexual de meia-idade (como em Antony and Cleopatra). As últimas peças mostram-nos a preocupação do envelhecimento masculino com o casamento de suas filhas (outra forma de traição) e com a aproximação da morte.
Recentemente, a crítica feminista começou a aumentar sua consciência histórica. Críticos como Gail Paster, Jean Howard, Phyllis Rackin, Dympna Callaghan, Lorraine Helms, Jyotsna Singh, Alison Findlay, Lisa Jardine e Karen Newman focam a construção do gênero no início da Inglaterra moderna em termos de condições sociais e materiais, abandonando o modelo psicológico não-histórico da crítica feminista anterior. Veja a bibliografia das críticas feministas, incluindo Catherine Belsey, Carol Neely, Peter Erickson, Meredith Skura, Marianne Novy, Margo Hendricks, Kim Hall, Philippa Berry, Frances Dolan, Mary Beth Rose, Valerie Traub, Susan Zimmerman, Lynda Boose e Ania Loomba. Os estudos de gênero relacionados com assuntos dos relacionamento de mesmo sexo fizeram importantes contribuições nos últimos anos, na obra de Bruce Smith, Laurie Shannon, Jonathan Goldberg, Stephen Orgel, Leonard Barkan, Mario DiGangi, e outros.
Pós-estruturalismo e Desconstrução
Uma importante influência hoje na crítica de Shakespeare, assim como em virtualmente toda a crítica literária recente, é a escola de análise conhecida como pós-estruturalismo ou desconstrução; os termos, mesmo que não idênticos, se sobrepõem semanticamente. Essa escola deriva sua inspiração originalmente das obras de certos filósofos e críticos franceses, o principal deles Ferdinand de Saussure, especialista em linguística, Michel Foucault, um historicista dos sistemas do discurso, e Jacques Derrida, talvez o mais visível expoente e praticante da desconstrução. As ideias desses homens foram pela primeira vez introduzidas na crítica literária Americana por acadêmicos de Yale, como Geoffrey Harman, J. Hillis Miller e Paul De Man. As ideias são controversas e difíceis.
O pós-estruturalismo e a desconstrução começaram com uma insistência que a linguagem é um sistema de diferença – nos quais os significantes (como palavras e gestos) são essencialmente arbitrários de certa forma que o “significado” e a “intenção autoral” são praticamente impossíveis de fixarem-se precisamente; isto é, a linguagem goza de uma subjetividade potencialmente infinita. Até certo ponto, essa aproximação à subjetividade do significado em uma obra de arte parece com a “nova” crítica em sua desconfiança da “mensagem” na literatura, mas o novo método vai mais longe. Ele resiste a todas as tentações de paráfrase, por exemplo, insistindo que as palavras de um texto não podem ser traduzidas em outras palavras sem alterar algo de vital; de fato, não há como saber se as palavras de um autor irão atingir dois leitores ou ouvintes da mesma maneira. O conceito mesmo de autor foi confrontado por Michel Foucault (“What Is an Author?” em Language, Counter-Memory, Practice, editado por Donald F. Bouchard, 1977). A desconstrução proclama que não há um autor único identificado no sentido tradicional; em vez de um único texto, nós temos potencialmente um número infinito de textos.
Ambas as teorias e práticas da desconstrução permanecem altamente controversas. Apesar do pós-estruturalismo e da desconstrução deverem à teoria filosófica geral dos signos e símbolos conhecido como semiótica, na qual a função dos signos linguísticos é percebida como sendo artificialmente construída, o novo método também põe em questão a distinção na qual a disciplina da semiótica está embasada. Derrida constrói sobre o trabalho de Saussure e vai muito além dele na insistência que as palavras (significantes) estão em jogo antes de estarem anexadas ao seus alegados significados. Frank Lentricchia (After the New Criticism, 1980) toma os críticos da escola de Yale como intérpretes de Derrida em um sentido muito formalista e político. Apesar dos desentendimentos entre os teóricos, entretanto, a aproximação influenciou profundamente a crítica shakespeariana como um todo por motivar os a críticos considerar a elasticidade com que as palavras (significantes) no texto de Shakespeare são convertidas pelos ouvintes e leitores em algo aproximado ao significado.
As ramificações do pós-estruturalismo e da desconstrução são sentidos cada vez mais em outras formas de crítica, mesmo aquelas ao menos nominalmente em desacordo com as suposições pós-estruturalistas. Alguns críticos textuais radicais, por exemplo, são fascinados pelas perturbadoras perspectivas do texto desconstruído. Como editar ou como alguém editaria quando as palavras são deixadas ao bel-prazer da peça, para a infinita regressão do significado? Os problemas são agudamente examinados em uma coleção de ensaios chamado The Division of the Kingdom, editado por Gary Taylor e Michael Warren, sobre os dois primeiros e divergentes textos de King Lear(1983). O método da análise linguística conhecido como a “teoria do ato de fala” desenvolvido pelo filósofo J. L. Austin como um modo de explorar como efetuamos certos atos linguísticos quando nós fazemos juramentos, afirmações ou similares, é uma variação agressiva com a premissa da descontrução sobre a correlação entre fala e significado pretendido, e ainda ele, pode nos ajudar a entender a instabilidade da linguagem falada e escrita em Shakespeare. Joseph Porter em The Drama of Speech Acts (1979), por exemplo, olhou para os modos os quais os personagens de Shakespeare nas peças Henry IV e Henry V revelam, através de suas linguagens de juramentos e quebra destes, afirmações e similares, suas adaptabilidade linguística ou falta desta na mudança histórica. Richard II resiste à mudança histórica na própria forma que ele fala; O príncipe Hal reconhece isso. Um terceiro campo de análise relacionado que está interessado na instabilidade do significado nos textos de Shakespeare é o da crítica meta-dramática, onde o foco está em como os textos dramáticos essencialmente falam sobre o próprio drama, sobre a expressão artística, e sobre a perseguição do artista pela imortalidade na arte. Shakespearean Metadrama (1971) de James Calderwood é um exemplo influente.
Em seu extremo, então, a crítica desconstrutiva chega próximo de minar todos os tipos de “significatividade” no discurso artístico e de se postar, assim, em guerra contra outros métodos de interpretação. Ademais, a desconstrução permanece influente, porque ela utilmente desafia formulações complacentes do significado e porque ela promove, por isso, uma sutil visão da complexidade linguística.
Em seu melhor, a crítica do final do século vinte transcende o efeito desagregador de uma tradição crítica heterogênea em alcançar a síntese que foi certa vez unificada e multiforme em sua visão. A aproximação pluralista aponta para um balanço total e o reforço de uma aproximação crítica através da metodologia de outra. Muitas das obras já citadas nessa introdução se recusam a serem limitadas por fronteiras metodológicas. A melhor crítica histórica faz uso de explicações próximas do texto onde apropriado; padrões de imagens podem certamente reforçar os padrões mitológicos; a interpretação tipológica, quando sensivelmente aplicada, serve à causa do estudo da imagem. Alguns bons livros são tão ecléticos em seus métodos que é hesitante aplicar o rótulo de qualquer escola crítica. Entre esses trabalhos estão King Lear in Our Time (1965), Something of Great Constancy: The Art of A Midsummer Night´s Dream (1966) de David Young, Shakespeare and the Comedy of Forgiveness (1965) de R. G. Hunter, The Common Liar: An Essay on “Antony and Cleopatra” (1973) de Janel Adelman, “The Avoidance of Love: A Reading of King Lear”, em Must We Mean What We Say (1969, reimpresso em Disowning Knowledge in Seven Plays of Shakespeare, 2003) de Stanley Cavell e Our Naked Frailties: Sensational Art and Meaning in Macbeth (1971).
No Século Vinte e Um
O senso de onde estamos no século vinte e um na crítica de Shakespeare reflete as incertezas e cuidadosas esperanças na profissão acadêmica como um todo. O período dos anos 1970 e 1980, descrito anteriormente, foi extraordinariamente agitado, trazido por uma série de acontecimentos: A Guerra do Vietnã e seu resultado, o assassinato de Kennedy e de Martin Luther King Jr., o impacto do pensamento da filosofia francesa e da linguística na escrita intelectual americana, as frustrações de muitos acadêmicos com a política econômica do presidente Reagan e o consequente fascínio com o marxismo inglês, as demandas emergentes no interesse das minorias e das mulheres, uma revolução nas convenções morais, sociais e sexuais, acompanhadas por um retrocesso em nome dos “valores da família”, conflito sobre a política externa americana no Oriente Médio (Israel, Iraque), e muito mais. O resultado é o que deve ser considerado como uma genuína revolução nos métodos da análise crítica e na leitura. O texto literário se tornou ambivalente, ambíguo, desconstruído, destronado como um artefato único, e foi visto, em vez disso, como um produto e contribuinte do seu meio-ambiente intelectual. O autor se tornou uma construção crítica e de um novo tipo de história literária.
Os estudos de Shakespeare tomaram a liderança em muitas dessas novas explorações. Embora uma das demandas pós-modernas tenha sido uma recanonização da literatura em favor de uma literatura mais nova, obras de mulheres e minorias, e obras de outros países além da Grã-Bretanha e dos Estados Unidos, em vez do cânone tradicional dos homens falecidos brancos e europeus, Shakespeare não somente sobreviveu a essa recanonização como também se tornou mais proeminente que nunca. Outros escritores renascentistas como Ben Jonson, John Webster, Thomas Dekker, Thomas Nashe, John Lily, Edmund Spencer, e mesmo Christopher Marlowe, John Milton e John Donne foram geralmente vítimas do declínio na matrícula em aulas, mas Shakespeare triunfa. Por quê?
Uma resposta persuasiva é que Shakespeare é simplesmente indispensável à investigação crítica pós-moderna. Seus textos são tão extraordinariamente receptivos que novas questões colocadas a eles – sobre a mudança do papel da mulher, sobre o cinismo no processo político, sobre a mutável quase indeterminação do sentido na linguagem – evocam compreensões que são difíceis de se duplicarem em outros textos literários. Shakespeare não parece estar desatualizado. O impulso de tantas críticas recentes a reivindicarem Shakespeare como “nosso contemporâneo”, em consonância aos nossos próprios ceticismos e desilusões e até desespero (como nos escritos de Jan Kott, por exemplo), atesta seu engajamento sem paralelo com os assuntos sobre os quais nós temos tanto cuidado. Mesmo aqueles que argumentam que Shakespeare exibe as obstruções masculinas de uma sociedade patriarcal e que ele é um esnobe social que glorifica a aristocracia e a guerra não veem Shakespeare como um escritor que se mantém intocado com os valores da nossa sociedade contemporânea mas, antes, como alguém que fornece um eloquente testemunho das estruturas que estavam vivas em nosso passado cultural e com as quais nós sentimos um contínuo hoje, mesmo se as circunstâncias ao redor tenham se alterado. O melhor academicismo não condena Shakespeare por acreditar na monarquia e por algumas vezes ele mostrar homens como vitoriosos na batalha dos sexos; em vez disso, aquela crítica está interessada no processo inteiro da participação do texto literário na criação da cultura. Mesmo quando o academicismo recente está preocupado em examinar assuntos de classe e gênero para clarificar alguma opressão sistemática da cultura moderna anterior, ele o faz geralmente em uma tentativa de negociar o relacionamento do presente com o passado, antes de assumir uma superioridade das nossas aproximações do mundo moderno a assuntos de classe, gênero e etnicidade.
De fato, várias peças de Shakespeare estão em dificuldade hoje porque elas nos deixam desconfortáveis acerca desses assuntos. The Merchant of Venice é, aos olhos de muitos, improdutível, porque as emoções anti-semitas que ela explora são desagradáveis. Ela é menos frequentemente apontada agora em sala de aula do que foi uma vez, mesmo se, quando é ensinada ou produzida em palco, ela pode levar a extraordinárias discussões de pesquisa de assuntos dolorosos mas reais. O mesmo é verdadeiro sobre The Taming of the Shrew, que está sendo retirada das prateleiras de muitas livrarias por causa da sua aparente exibição de comportamento sexista em relação à mulher. Othello ofende alguns leitores e espectadores por causa da sua linguagem racista e, na visão de alguns, estereótipos raciais. Ademais, o poder da linguagem de Shakespeare continua a exercer sua mágica apesar, e em parte por causa, desses dificultosos conflitos sobre o papel da arte dramática na sociedade moderna. O mundo da crítica de Shakespeare hoje, depois de duas décadas ou mais de revolução aparenta ser um de consolidação.
Em março de 1995 no encontro da Shakespeare Association of America em Chicago, muitos conferencistas se perguntaram: Para onde está indo essa profissão? Quais são os principais novos assuntos? Quem são os novos críticos que ninguém quer perder? E, de fato, parecia haver um pequeno excitamento dramático desse tipo, pouca concordância com qualquer nova tendência discernível. Para alguns, isso foi frustrante. Para onde se voltar em busca de criatividade real depois de uma revolução generalizada como a que experienciamos?
Para outros, um tempo para um levantamento é potencialmente saudável. Parece haver pouco interesse em ajustar o relógio para trás; o pós-modernismo e a indeterminação mudaram o horizonte crítico para melhor e pior. Agora que esse novo horizonte começa a se tornar mais familiar, entretanto, novos membros da profissão parecem menos ansiosos em resolver as suas próprias crises de identidade em termos de afiliação a alguma escola crítica ou outra. Os desafios da crítica estão lá, não tão estridentemente novos como eles eram há 10 anos, e adaptáveis a vários usos.
O resultado é uma crescente variedade de tipos de trabalhos críticos sendo feitos. Alguns deles são reconhecidamente tradicionais, lidando com a história do palco e as condições da performance durante a época de Shakespeare, como, por exemplo em Casting Shakespeare´s Plays: London Actors and Their Roles (1992) de T. J. King, The Business of Playing: The Beginnings of the Adult Professional Theater in Elizabethan London (1992) de William Ingram, From Text to Perfomance in the Elizabethan Theatre: Preparing the Play for the Stage (1992) de David Bradley, The Elizabethan Player: Contemporary Stage Representation (1991) de David Mann, The Development of Shakespeare´s Theater (1992) do editor John H. Astington, Playgoing in Shakespeare´s London (1987, Segunda Edição, 1996) e The Shakespearen Playing Companies (1996) de Andrew Gurr, The Repertory of Shakespeare´s Company, 1594-1613 (1991) de Roslyn Lander Knutson. Os estudos de pano de fundo e históricos das condições que ajudaram a produzir o teatro de Shakespeare podem às vezes ser informativamente revisionistas no sentido de derrubarem noções antigas estimadas sem serem, ao mesmo tempo, pós-modernas em suas aproximações. Exemplos aqui podem incluir Mastering the Revels: The Regulation and Censorship of English Renaissance Drama (1991) de Richard Dutton, The Queen´s Men and Their Plays (1998) de Scott McMillin e Sally-Beth MacLean e Politics, Plague, and Shakespeare´s Theater: The Stuart Years (1991) de Leeds Barroll.
Outros estudos são mais abertamente revisionistas em uma disposição pós-moderna, às vezes lidando com hipóteses sobre bibliografia e estudos textuais, como em Shakespeare Verbatim: The Reproduction of Authenticity and the 1790 Apparatus (1991) de Margreta de Grazia e Revising Shakespeare (1991) de Grace Ioppolo. A livraria New Folger Shakespeare, The Arden Shakespeare está recentemente trazendo novas edições críticas de todas as peças em volumes individuais (Arden 3) como também a New Cambridge Shakespeare e Oxford Shakespeare. Ocasionalmente uma reação conservadora é ouvida, como no divertido, erudito e irritantemente polêmico Appropriating Shakespeare: Contemporary Critical Quarrels (1993) de Brian Vicker. Um fórum de ensaios editados por Ivo Kamps, chamado Shakespeare Left and Right, nos dá uma chance de valorar argumentos de vários lados.
O que a cena crítica contemporânea faz melhor é libertar os críticos para serem quem são e escreverem sem prestar contas a qualquer afiliação particular. Os resultados são refrescantemente diversos. Entre os livros dos anos 1990 que mostram essas amplas aproximações críticas estão Fashioning Femininity and English Renaissance Drama (1991) de Karen Newman, Homosexual Desire in Shakespeare´s England (1991) de Bruce R. Smith, Suffocation Mothers: Fantasies of Maternal Origin in Shakespeare´s Plays, “Hamlet” to “The Tempest” (1992) de Janet Adelman, Faultlines: Cultural Materialism and the Politics of Dissident Reading (1992) de Alan Sinfield, Desire and Anxiety: Circulations of Sexuality in Shakespearean Drama (1992) de Valerie Traub, Licensed by Authority: Ben Jonson and the Discourses of Censorship (1993) de Richard Burt, Notorious Identity: Materializing the Subject in Shakespeare (1993) de Linda Charnes, Shakespearean Pragmatism: Market of His Time (1993) de Lars Engle, The Body Embarassed: Drama and the Disciplines of Shame in Early Modern England (1993) de Gail Kern Paster, Shakespeare the Actor and the Purposes of Playing (1993) de Meredith Anne Skura,Dangerous Familiars: Representations od Domestic Crime in England, 1550-1700 (1994) de Frances E. Dolan, Things of Darkness: Economies of Race and Gender in Early Modern England (1994) de Kim F. Hall, The Stage and Social Struggle in Early Modern England (1994) de Jean Howard, The Rest Is Silence: Death as Annihilation in the English Renaissance (1994) de Robert Watson, Inwardness and Theatre in the English Renaissance Drama (1995) de Katharine Eisaman Maus, The Purpose of Playing: Shakespeare and the Cultural Politics of the Elizabethan Theatre (1996) de Louis Montrose, Shakespeare from the Margins: Language, Culture, Context (1996) de Patricia Parker, Engendering a Nation: A Feminist Account of Shakespeare´s English Histories (1997) de Jean E. Howard e Phyllis Rackin e A Companion to Shakespeare (1999) editado por David Scott Kastan.
Essas mesmas qualidades de excelência em diversas aproximações críticas podem ser vistas em muitos estudos de Shakespeare na primeira década do século vinte e um. Como por exemplo, em Hamlet in Purgatory (2001) de Stephen Greenblatt, The Culture of Playgoing in Shakespeare´s England (2001) de Anthony B. Dawson e Paul Yachnin, Shakespeare and the Book (2001) de David Scott Kastan, Gender and Heroism in Early Modern Literature (2002) de Mary Beth, The Authentic Shakespeare (2002) de Stephen Orgel, Shakespeare, Race, and Colonialism (2002) de Ania Loomba, Sovereign Amity: Figures of Friendship in Shakespeare´s Contexts (2002) de Laurie Shannon, A Companion to Shakespeare´s Works, em 4 volumes, (2003) dos editors Richard Dutton e Jean E. Howard, Shakespeare, Law, and Marriage (2003) de B. J. e Mary Sokol, Imagining Shakespeare (2003) de Stephen Orgel, Shakespeare: For All Time (2003) de Stanley Wells, Will in the World: How Shakespeare Became Shakespeare (2004) de Stephen Greenblatt, Shakespeare After All (2004) de Marjorie Garber, The Shakespeare Company 1594-1642 (2004) de Andrew Gurr, Humoring the Body: Emotions and the Renaissance Stage (2004) de Gale Paster, A Year in the Life of William Shakespeare, 1599 (2005) de James S. Shapiro, Shakespeare and Women (2005) de Phyllis Rackin, e Seeming Knowledge: Shakespeare and Skeptical Faith (2007) de John D. Cox. Para outras sugestões, veja as entradas recentes na bibliografia desse volume.