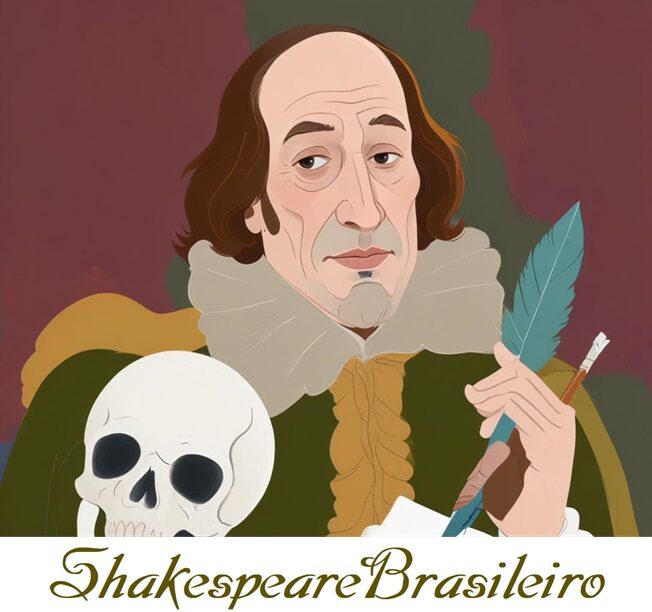Tradução do Sétimo Capítulo de: As Ideias de Shakespeare, Mais Coisas entre Céu e a Terra, David Bevington, 2008.
7
Aqui Termina Nosso Jogo
Ideias de Encerramento nas Peças Tardias
Ou Shakespeare estava consciente ao modelar um projeto global a sua carreira de dramaturgo e poeta, ou o intenso escrutínio crítico de séculos encontrou tal padrão para ele. Realmente não importa qual das duas opções se deu. Em qualquer caso, suas últimas peças parecem especialmente interessadas em como as coisas terminam: em como os seres humanos enfrentam o envelhecimento e a perda da força física, como lidam com a depressão, desespero e a misantropia, como buscam novas identidades e ocupações na aposentadoria, como reconciliam-se com as pessoas mais caras na vida pessoal, e como se preparam para a morte. Esses tópicos parecem bem planejados para responder aos intensos desafios filosóficos que exploramos no capítulo anterior. É como se Shakespeare trilhasse seu caminho através de uma dialética de tese e antítese até a síntese. Em um gesto artisticamente autoconsciente, ele parece interessado em como uma peça termina e como uma carreira de escritor deve terminar. Shakespeare parece sumarizar o que significa ser uma pessoa, homem, marido, pai, escritor, dramaturgo.
A possibilidade da morte, e a necessidade de preparar-se para este grande evento, é um lugar-comum no pensamento clássico e medieval pré-moderno. John Donne supostamente dormia em seu caixão para relembrar o que estaria por vir. Uma consciência da morte é onipresente em Shakespeare; a palavra é extremamente importante no léxico de Shakespeare. O crânio de um jurista relembra Hamlet da mortalidade humana; “Onde está agora as suas cavilações, os seus processos, as suas sutilezas, os seus truques, as suas trapaças?” (Hamlet, 5.1.99-100) Tais ruminações ubi sunt [Onde estão] eram elementos convencionais nas reflexões sobre a morte. “Crânio” ocorre mais frequentemente em Hamlet do que em qualquer outra peça do cânon. A certeza da morte é outra verdade onipresente. “A morte é o final de tudo”, opina a Aia em Romeu e Julieta para confortar Romeu de seu banimento (3.3.92). “A morte, como o Salmista disse, é certa para todos”, arrisca-se Shallow em 2 Henrique IV (3.2.38), talvez citando o Salmo 89, verso 48: “Que homem poderá viver e não ver a morte?” “Tu deves uma morte a Deus”, diz o Príncipe Hal para Falstaff quando eles esperam o começo da batalha de Shrewsbury (1 Henrique IV, 5.1.126), ao que Falstaff replica, “A letra ainda não está vencida; repugna-me pagá-la antes do termo.”
A morte é, às vezes, percebida como uma libertação do fardo da existência humana, como quando o Duque em Medida por Medida, disfarçado de frei, aconselha o condenado Cláudio com a reflexão que perder a vida é “perder uma coisa / Que ninguém a não ser os tolos mantém” (3.1.7-8). “Morte” ocorre nessa peça muito mais frequentemente do que em qualquer outra comédia de Shakespeare. Em outro lugar, a morte é comparada ao sono, “o mesmo sono / Que trança o fio fino do cuidado, / Morte diária, banho da labuta, / Bálsamo bom de mentes machucadas, / Pra natureza uma segunda via, / Alimento maior da vida” (Macbeth, 2.2.40-4). O sono é frequentemente personificado como um sinistro monarca, como quando o Bastardo em Rei João fala da “carcaça apodrecida da velha Morte” (2.2.457) ou quando o Rei Ricardo II lamenta o colapso de suas fortunas reais:
É que, no centro da vazia
coroa que circunda a real cabeça
tem a Morte sua corte, e, entronizada
aí, como os jograis, sempre escarnece
da majestade e os dentes arreganha
para suas pompas, dando-lhe existência
fugaz, somente o tempo necessário
para cena pequena, porque possa
representar de rei, infundir medo,
matar apenas com o olhar, inflada
de ilusório conceito de si mesma,
como se a carne que nos empareda
na vida fosse de aço inquebrantável.
E após se divertir à saciedade,
com um pequeno alfinete ela se adianta
fura a muralha do castelo e, pronto:
era uma vez um rei!
(Ricardo II, 3.2.160-170)
A morte é, assim, uma grande compensação para as tribulações da vida e um emblema do esforço infrutífero.
Em certos momentos, a aproximação da morte é uma ocasião de completo horror e esterilidade. Macbeth, tendo decaído até “a seca, a folha amarelada”, sabe muito bem que, a “honra, amor, obediência, um bando de amigos”, que os homens virtuosos podem esperar gozar, não serão para si: em seu lugar ele colherá “Maldições, não ditas mas profundas, honras só de bocas” (Macbeth, 5.3.22-8). Novidades sobre a morte de sua Rainha deixam-no com a impressão que “todo ontem conduziu os tolos / À via em pó da morte”, sugerindo que a vida não é nada além de uma “breve vela” iluminando nosso caminho através da existência sem sentido até o esquecimento da sepultura:
A vida é só uma sombra: um mau ator
Que grita e se debate pelo palco,
Depois é esquecido, é uma história
Que conta o idiota, toda som e fúria,
Sem querer dizer nada.
(Macbeth, 5.5.22-8)
Entretanto outros personagens sabem que a morte precisa ser encarada com resolução e calma, mesmo que eles nem sempre encontrem aquela força em si mesmos quando o momento chega. Júlio César acha “estranho que os homens temam, / Já que a morte, afinal, é necessária, / E que chega quando chegar” (Júlio César, 2.2.35-7). Brutus, derrotado em Philippi, lança-se em sua própria espada, endereçando o espírito de César com suas últimas palavras: “César enfim se acalma. / Não o matei com tanto empenho de alma” (5.5.50-1). Cláudio, em Medida por Medida, potentemente insiste que “Pois se eu devo morrer, / Enfrentarei a morte como noiva, / Tomando-a em meus braços.” (3.1.83-5), apesar de perder o controle quando lhe é oferecida uma esperança desesperada de escapar de sua sentença de morte. Antônio, recusando-se a “morrer da maneira mais baixa”, covardemente rendendo-se a Otávio César, escolhe ser “um Romano por um Romano / Valentemente conquistado” – isto é, por sua própria mão; Cleópatra, tendo estudado vários meios de suicidar-se, resolve morrer “com as pompas romanas, / Pra que a morte se orgulhe” (Antônio e Cleópatra, 4.15.57-60, 92-3).
Essas respostas variadas à morte são lugares-comuns da época, originais em Shakespeare apenas na notável elegância pela qual são formuladas. De forma cumulativa, elas ressaltam à importância do momento da morte em sumarizar a vida de uma pessoa. Morrer bem é completar e justificar a existência de alguém e sua esperança de ser relembrada como uma pessoa valorosa; morrer mal é pôr um selo em uma barganha má e conceder ao fracasso. A arte da morte sagrada, muito praticada na Idade Média e na Renascença, coloca ênfase na vitória espiritual e na esperança por vida eterna no paraíso. Shakespeare não exclui essa visão, como quando Horácio lamenta a morte de Hamlet com “Boa noite, doce Príncipe. E que os anjos / Venham em coro lhe embalar o sono!” (Hamlet, 5.2.361-2), ou quando a morte da Rainha Catarine em Henrique VIII é precedida por uma visão de seis “Espíritos de paz”, “com grinaldas de louro na cabeça e máscara de ouro no rosto; nas mãos trazem palmas de ouro” (4.2.82-3). Embora mais frequente, a arte de morrer bem em Shakespeare celebra a realização humana. A eternidade, desejada pelos seus heróis e heroínas, é geralmente uma que quer ser lembrada como notável e heroica. “Não há tumba no mundo que contenha / Par tão famoso”, declara Otávio César das mortes de Antônio e Cleópatra (5.2.358-9). A conclusão de Antônio sobre Brutus em Júlio César é que “Sua vida foi gentil, e os elementos / Tão misturados nele que a Natureza pôde erguer-se / E dizer para todo o mundo, “Isso foi um homem”” (5.5.73-5)
Mesmo aqueles que morrem em agonia espiritual estão preocupados em como serão lembrados. “Fale de mim como eu fui”, Otelo declara aos seus ouvintes:
Não deem desculpas
E nem usem malícia. Falem só
De alguém que, não sabendo amar, amou
Demais. De alguém que nunca teve fáceis
Os ciúmes; porém que – provocado –
Inquietou-se ao extremo; cujos dedos,
Como os do vil hindu, jogaram fora
Uma pérola rara, mais preciosa
Que toda sua tribo.
(Otelo, 5.2.352-8)
Assim o Fantasma do velho Hamlet diz, “Lembre-se de mim” (Hamlet, 1.5.92). Tal esperança de lembrança é consideravelmente mais dominante em Shakespeare do que a esperança de recompensa divina.
A velhice é um assunto de ansiosa preocupação em Shakespeare, e, não surpreendentemente, na maior parte das últimas peças. As frases “homem velho” e “velho” ocorrem com especial frequência em Rei Lear. “Ó, senhor, você está velho” Regan zomba de seu pai. “E a natureza, no senhor, encontra-se / No limite” (2.4.146-8). Regan e Goneril já concordaram entre si mesmas que a irritabilidade e o “pobre julgamento” de seu pai podem somente aumentar com os anos. “Veja quão caprichosa é a sua velhice”, Goneril diz a sua irmã (1.1.292-5). Lear, por sua parte, está furioso que, em sua velhice, ele não esteja recebendo a adulação a qual a senilidade deveria lhe outorgar. Ele selvagemente ridiculariza a noção que como um homem velho ele deveria implorar as suas filhas entendimento e ajuda: “Cara filha, confesso que estou velho: / A velhice é inútil. De joelhos, / Eu te imploro comida, roupa, abrigo” (2.4.154-6). Regan e Goneril recusam-se a reconhecer à força do sarcasmo de Lear. “Bom Senhor, sem mais”, diz Regan. “Isso é farsa barata” (157). Os pedidos de Lear aos deuses, em nome de seus anos avançados, não são menos ineficazes. “Oh, céus! / Se amai os velhos, e sua doce força / Aprova a obediência; se sois velhos, / Abraçai minha causa, meu partido!” (190-3). A velhice parece não ter concedido nenhum de seus benefícios a ele. Hamlet provoca Polônio ao citar um “satírico trapaceiro” que diz “que homens velhos têm barbas grisalhas, que suas faces são enrugadas, seus olhos purgam âmbar espesso e goma de ameixeira, e que têm completa falta de discernimento, a par de coxas fracas” (Hamlet, 2.2.197-201). O Bobo de Lear tem seu conselho aforístico para o Rei, muito tarde, é claro, para fazer algum bem: “Tu não deverias ter ficado velho antes de ficares sábio” (Rei Lear, 1.5.43-4). Como Bette Davis coloca a questão alguns séculos depois de Shakespeare, “A velhice não é lugar para covardes.” Ou Lillian Hellman: “A única coisa boa, é que você não está morto.”
Uma ansiedade particular dos homens em seus anos avançados pode ser o medo da decrescente potência sexual. As mulheres são mais aptas à preocuparem-se com a perda de seus atrativos aos homens. Os protagonistas em Antônio e Cleópatra exibem esses medos. Historicamente, Antônio era catorze anos mais velho que Cleópatra, e dezenove anos a mais, ou perto disso, que seu grande rival político, Otávio César. Sem mencionar números, Shakespeare pontua essas diferenças de idade. Antônio está dolorosamente consciente que está sendo desafiado por um jovem homem. “e pode ser / Que o César meio imberbe nos mandasse / Ordens duras para você”, Cleópatra provoca Antônio (1.1.21-3), não o deixando esquecer que o jovem homem que o ajudou na derrota de Brutus e Cássio em Philippi, está agora enviando ordens a Antônio para que se “Faça isso, ou aquilo; / Conquiste aquele reino, livre aquele; (23-4) como se os dois fossem iguais, com Otávio o mais forte do par. Antônio não necessita ser lembrado. “E agora / Tenho de implorar humilde ao rapazola, / Lidar com as cabriolas da baixeza”, lamenta após sua desastrosa derrota em Actium, “Eu, que podia brincar com meio mundo, / Dar bons e maus destinos.” (3.11.60-4). Sua raiva ciumenta na recepção equívoca de Cleópatra do presumidamente jovem e belo Thidias, como embaixador de César a ela, é alimentada pela preocupação que Cleópatra, em seus dias de juventude, dormiu com Gnaeus Pompeu e Júlio César, “e mais de outras / Horas de cio que, mesmo sem ter fama, / A luxúria gozou” (3.13.120-2), irá agora buscar a companhia do jovem homem que está ascendendo, Otávio César. Antônio não pode esquecer que os cabelos grisalhos “combinam-se com nossos marrons mais jovens” (4.8.20).
Antônio é somente de uma era, para suportar o que chamamos hoje de crise de meia-idade. Por alguns anos, intermitentemente, ele mantinha um caso extraconjugal, tendo, com culpa, deixado seu travesseiro “sem marca em Roma” e tendo “Deixado eu de gerar raça legítima, / Na joia das mulheres” (3.13.107-9). (De fato, Antônio viveu com Otávia em Atenas por alguns anos, e teve filhos com ela, mas isso somente faz de sua deserção a ela ainda mais repreensível.) Em sua preocupação errática que seu carisma masculino esteja acabando, ele teme a possibilidade de um rival mais jovem. Sua carreira está uma bagunça. A deserção ao dever obriga-o à retornar a Roma e desculpar-se, tão bem quanto pode, a César, pelas “horas envenenadas” que, como ele diz, “ataram-me / Do meu próprio conhecimento”. “Serei penitente / Na medida do possível.” (2.2.96-8). Tal apologia não vem fácil de um homem tão orgulhoso. O pior está por vir. Seu segundo-no-comando na Ásia, Ventidius, confidencia a um companheiro oficial que ele não ousa gabar-se abertamente de suas próprias vitórias, com medo de que ofenda Antônio, ao tirar o crédito das realizações que Antônio, com ciúme, acumulou para si mesmo. (3.1). Em Actium, Antônio desgraça a si mesmo como um líder militar, ao fugir para Cleópatra no auge da batalha. “De fato, eu perdi o comando”, ele confessa (3.11.23). “Eu / Perdi meu caminho para sempre” (3-4). “A autoridade derrete-se de mim” (3.13.91). Como muitos homens da sua idade, Antônio teme estar ficando sem opções.
Em seu mal humor, Antônio vê sua paixão por Cleópatra como um tipo de loucura, uma manifestação do que os Gregos antigos chamavam atë ou loucura cega. Na descrição de Antônio dessa loucura, de fato, podemos ver quão claramente Shakespeare compreende como a atë funciona, mesmo que o termo ele próprio presumivelmente seja estrangeiro a ele:
Mas quando em nossos vícios nos firmamos –
Maldita sejas! – os deuses nos cegam,
Juntam nosso critério e imundície,
Nos fazem adorar erros, e se riem
Da nossa confusão.
(3.13.113-17)
Essa loucura cega inicia com uma perda de vontade de poder e um deplorável enrijecimento do apetite em escravidão com prazer corrupto. Ela eleva-se a uma inconsciência cega do que está acontecendo. O indivíduo fica fora de controle; os “sábios deuses” estão determinando seu destino, induzindo-o a hubris ou o orgulho arrogante (outro termo não empregado por Shakespeare) que é o prelúdio a sua queda catastrófica. O processo é um de cumprimento de intenções divinas; a loucura arranja o indivíduo para uma queda na “confusão” ou destruição, através da perda total de autoconsciência, como se trouxesse uma retribuição merecida. Antônio vê tudo isso sobre si mesmo e ainda não pode, aparentemente, fazer nada para parar sua deterioração. Shakespeare apresenta essa perda de controle sobre as próprias ações como um sintoma doloroso do envelhecimento e da autoindulgência.
Cleópatra confronta o envelhecimento de uma forma que Shakespeare apresenta como sedutoramente feminina. Ela reconhece que ela é “como Febo, toda marcada pelo amor / E com rugas do tempo” (1.5.29-30). Já se foram seus dias de juventude [salad days], quando ela era “verde em julgamento” (76-7). Aquilo foi quando, com a idade de vinte e um anos (historicamente 47 a.C.), ela foi “um petisco para um monarca” (32), isto é, Júlio César; e ela ainda era jovem, gaba-se, quando podia incitar Gnaeus Pompeu a “Ficar com o olhar em minha fronte”, isto é, fixando seus olhos na face dela. (32-3). No momento da morte dela (historicamente 30 a.C.), ela tinha trinta e oito, catorze anos mais nova que seu amante de meia-idade. Novamente, Shakespeare não preocupa-se com data, e ele colapsa e antecipa o tempo, mas as impressões da diferença de idade estão em Plutarco. Cleópatra luta uma guerra defensiva contra o avanço dos anos através de uma deslumbrante variedade de estratagemas. Em seu famoso encontro com Marco Antônio no rio Cydnus no sudeste da Ásia Menor (historicamente em 41 a.C.), de acordo com o relato de Enobarbo, ela equipa-se com uma barcaça magnífica, magníficos servos bem-vestidos, um dossel e um vestuário de “brocado todo de ouro”, tudo designado para mostrá-la como “Mais bela do que a própria Vênus / Que, em sonhos, deixa pobre a natureza.” (2.2.201-28). Ela encena a si mesma naquela ocasião como uma obra de arte na qual o artifício pode conquistar o olho e emprestar seu esplendor a sua própria pessoa, a qual Enobarbo pode somente dizer que “Nenhum retrato a iguala”. Ela ainda sabe como alimentar o apetite masculino ao lidar com cada humor, cada desejo. “O tempo não a seca, e nem gastam-se / Com o uso seus infinitos encantos”, diz Enobarbo. “Outras mulheres cansam / O apetite que nutrem, porém ela / Afaima o satisfeito.” De fato, a essência dela é paradoxal: “O que há de vil / Cai-lhe tão bem que até os sacerdotes / A abençoam quando é mais devassa” (245-50). Ela é aquela maravilha da imaginação mítica, a Vênus de Lucrécio, ao mesmo tempo inocente e sensual. Ela é, em outras palavras, a encarnação da fantasia masculina em busca por aventura romântica, especialmente aventuras de meia-idade fora do casamento.
Cleópatra demonstra essas qualidades paradoxais em tudo que faz. Ela provoca Antônio em relação a sua masculinizada esposa Fúlvia. Ela instrui seus servos que, se eles encontrarem Antônio “triste” (isto é, pensativo), “Diz-lhe que danço; e, se alegre, diz-lhe / Que, num repente, adoeci.” (1.3.3-5). Quando Charmian aventura-se ao sugerir que ela, em vez disso, tente consolar Antônio ao consentir com seus humores e desejos, Cleópatra expressa seu altivo contentamento por tal conselho inocente: “Tu ensinas como um tolo: a maneira de perdê-lo” (10). Ela é profissional, instruindo seus servos como manter um homem desequilibrado. Ela recorda com encanto a piada prática que montou contra Antônio, ao pedir que seus criados amarrassem um peixe morto e salgado em seu anzol quando ele estava tentando impressioná-la com suas habilidades de pescador (2.5.15-18). Ela sabe como tirar a paciência dele com o riso e então reconduzi-lo à paciência. (19-20). Ela relembra como “de manhã / Antes das nove já o embebedava, / Então colocava meus adornos e mantos nele, / E eu usava sua espada Philippan” (20-3). A observadores romanos como Otávio, esses episódios de mudança de gênero são sinais de devassidão, mas para o envelhecido Antônio (e a Enobarbus) eles são fascinantes. Cleópatra é a “serpente do velho Nilo” para Antônio. (1.5.26). Ela é de fato como o Nilo, uma abundante fonte de vida que também traz consigo uma superabundância de lama e lodo.
Para o maduro Antônio, então, Cleópatra é uma força destrutiva e regenerativa. A carreira dele termina em ruínas e suicídio. Ele até mesmo erra sua morte, agindo de acordo com um falso relato de Cleópatra que ela cometeu suicídio, fere-se a si mesmo tão sem eficácia que agoniza por muito tempo em dores (4.14.27-34). De fato, ele deu a ela boas razões para enviá-lo aquele falso relato de suicídio, pela extremidade da raiva dele por ela. Ainda, apesar de suas falhas manifestas e auto-traições, Antônio e Cleópatra tornam-se, na morte, emblemáticos de um grande amor que ousou desafiar convenções com um sucesso espiritual e, até mesmo, mundano. Eles desafiaram Otávio César, o qual a cruel busca por poder e o visceral desgosto pelo prazer sensual definem os valores Romanos nessa peça como finalmente muito áridos e negadores de vida. A mais alta prioridade de Otávio, ao vencer Antônio e Cleópatra, parece, é levar Cleópatra de volta à Roma como uma pièce de résistance da sua entrada triunfal na cidade. Ele sente uma persuasiva necessidade de capturar essa mulher transgressiva e forçá-la à submeter-se ao controle masculino. Uma vez que ela aprende com certeza que o plano dele é de agrilhoá-la e mostrá-la “ante os gritos da plebe / Da Roma que me acusa” (5.2.54-6), ela sabe o que deve fazer. Ela irá vestir sua túnica e coroa e vencer a intenção de Otávio através do suicídio. À víbora que ela nina em seu peito, ela expressa suas “Ânsias imortais”: “Se pudesses falar eu te ouviria / Chamar César de asno ingênuo!” (280-308). “Ingênuo” quer dizer que ela foi mais esperta; ela vence César em seu próprio jogo.
Contrariamente, a imaginação poética de Cleópatra no Ato 5 modela um Antônio que simboliza grandeza mítica. Em seu melhor, ele sempre foi um soldado valoroso, um daqueles que o coração parecia tão grande que podia “arrebentar / As fivelas do peito” (1.1.7-8). Ele foi generoso, bravo, carismático, amado por aqueles que o seguiram. Mesmo seus erros foram aqueles de um espírito abrangente: excessivamente entregue ao prazer, despreocupado na guerra, imprudente em sua generosidade. Agora, na morte, ele torna-se um deus no momento em que Cleópatra conjura sua imagem:
Suas pernas montavam mares, e o braço
Erguido coroava o mundo. A voz
Tinha o som das esferas pros amigos;
Mas se queria abalar toda a terra,
Era como o trovão. Seu gosto em dar
Não conhecia inverno; era um outono
Que ficava mais rico ao ser colhido.
Seu prazer, qual delfim, mostrava o dorso
Acima do seu mundo. A seu serviço,
Coroas, diademas, reinos, ilhas
Caíam-lhe dos bolsos, qual moedas.
(5.2.81-91)
Como Cleópatra insiste, o Antônio dela “é maior que o sonho” (96). A grandeza dele é elementar e cósmica: ele eleva-se sobre terra e mar, levanta-se do oceano, estremece o mundo com um Trovão como o de Zeus, encarna o movimento das estações do ano, canta as músicas das esferas. Ele é uma fonte de vida, e assim também ela. Eles são Ìsis e Osíris (3.6.17), Vênus e Marte (1.5.19), a lua e o sol (5.2.79, 240-1). Ele é um “semi-Atlas dessa terra” (1.5.24), um devoto de Hércules (4.3.21); ela é “fogo e ar”, que deram a ela outros elementos para “romper com a vida” (5.2.289-90). Antônio imagina a ambos, depois da morte, nos Campos Elísios, “Onde almas encostam-se em flores”. Lá eles irão “Juntos pro jardim das almas, / A provocar o olhar de outros espectros. / Dido e Enéas perderão seus séquitos, / E o campo será nosso” (4.14.50-4). Mesmo Otávio César concede que “Não há tumba no mundo que contenha / Par tão famoso” (5.2.358-9).
A realização de Shakespeare aqui, no reino das ideias, é extraordinária. A figura mágica que ele cria de um caso de amor de meia-idade desafia todas as expectativas. Antônio e Cleópatra ousam tornarem-se um como o outro, e cruzam todos os arriscados limites das diferenças de gênero que Otávio insiste serem invioláveis. Antônio aprende como se tornar suave, chorar, ser vulnerável, ceder autoridade para a mulheres que ama – às vezes, é claro, com consequências desastrosas. Ela, escolhendo morrer de acordo “com as pompas Romanas” (4.15.92), declara finalmente que “Estando eu resolvida, nada resta / De feminino. Da cabeça aos pés / Sou mármore constante. A fútil lua / Não é planeta meu (5.2.238-41). Esse apagar da barreira do gênero traz consigo uma dissolução da ordem social e do controle, como Otávio teme, ou é liberalizante? Shakespeare coloca essas ideias em debate, como gosta de fazer.
Ele o faz aqui, ademais, no contexto mais amplo de seu estudo sobre o conflito sexual nas grandes tragédias. A misoginia é profunda nessas peças. “Frivolidade, o teu nome é mulher!” exclama Hamlet, esgotado pela velocidade a qual sua mãe esqueceu-se como “seguiu o enterro de meu pai, / Como Níobe em prantos” (Hamlet, 1.2.146-9). A peça dentro da peça apresentada para Cláudio e toda a corte da Dinamarca, a qual Hamlet evidentemente contribuiu com “umas doze ou dezesseis linhas” (2.2.541-2), é intensamente focada na questão se uma rainha permanecerá verdadeira à memória de seu falecido marido. “Um novo amor seria uma traição, / Só se casa outra vez quem mata o esposo”, insiste a Atriz Rainha, a qual Hamlet adiciona seu próprio comentário irônico, “Amargo, amargo” (3.2.177-9). O irromper da misoginia de Hamlet contra Ofélia (“Vá para um convento” etc., 3.1.122ff.) é, talvez, um efeito colateral infeliz de seu profundo desapontamento em relação às mulheres, e a maioria dos homens também, incluindo ele próprio. Iago, em Otelo, usa uma premissa misógina para anular a confiança de Otelo na lealdade de sua esposa. “Conheço os hábitos de nossa pátria”, diz Iago a Otelo. “Em Veneza elas deixam Deus ver coisas / Que não ousam mostrar a seus maridos: / O feito só não pode ser sabido (3.3.215-18). Emília sabe muito bem que o medo de Iago por sua suposta infidelidade a ele não é nada além do produto de sua imaginação enferma e seu ódio às mulheres. Rei Lear, em sua loucura, está obcecado com o corpo sexual da mulher como uma imagem dos portões do inferno:
Da cintura pra baixo são centauros,
mesmo sendo mulheres mais para cima.
Deuses são só uma ilharga para cima;
pra baixo só há demos, negro inferno; a fonte do enxofre –
queima, escalda, fede e consome; é só vergonha; pah!
(Rei Lear, 4.6.124-9)
A misoginia é, em um sentido, surpreendente aqui, pois Lear não foi vulnerável à traição sexual em sua própria vida, até onde sabemos, mas a ideia certamente ressoa na peça como um todo, especialmente no desejo de ambas suas filhas de serem possuídas sexualmente por Edmundo.
Lady Macbeth nos apavora quando chama os espíritos “Das ideias mortais” “tirai-me o sexo: / Inundai-me, dos pés até a coroa, / De vil crueldade”. O convite dela para esses mesmos “ministros do assassinato” para “Tornai, neste meu seio de mulher, / Meu leite em fel” (Macbeth, 1.5.41-50) sugere que ela está pensando em incubuses, ou seja, espíritos malignos que fazem sexo com mulheres adormecidas. Timão de Atenas, em seu ódio contra toda humanidade, ironicamente encoraja Timandra e Phrynia, as amantes de Alcibíades, a serem “Fortes na prostituição” para assim infectar com doenças venéreas todos aqueles homens que buscam prazer sexual com elas: “Com sua fumaça dominem seu fogo / Os ocos ossos dos homens… Abaixem os narizes, / Cubram seus telhados / Já finos com os cabelos dos que morrem” (Timão de Atenas, 4.3.144-62). Um nariz decaído e a perda do cabelo são sintomas de sífilis. A mãe de Coriolano, Volúmnia, é uma formidável matrona que celebra as realizações militares do filho como um tipo de amor ofertado e intencionado para ela. “Se meu filho fosse meu marido”, ela discursa a sua nora “eu acharia mais fácil alegrar-me com a ausência que lhe trouxesse honra do que nos abraços de seu leito, onde ele mais amor demonstraria” (Coriolano, 1.3.2-5). A possibilidade de seu filho retornar da guerra com uma fronte sangrenta não consterna Volúmnia nem um pouco: “O seio de Hécuba / Amamentando Heitor não foi tão belo / Quanto a testa de Heitor a cuspir sangue / Na espada grega que menosprezava” (41-4). Há uma pequena surpresa quando Coriolano finalmente compreende que deve conter-se em destruir a Roma que o exilou como um inimigo público, porque assim proceder seria destruir sua mãe também, ele vê como está preso e sufocado pela mulher que o trouxe ao mundo. “Ó, mãe, mãe!” ele exclama. “O que fez? Veja como os céus se abrem, / E os deuses, vendo esse quadro anormal, / Se riem dele.” (5.3.182-5).
A ameaça colocada pelas mulheres intimidadoras e castradas nas grandes tragédias é sintomática de uma desordem mais ampla. A ordem é restaurada à Escócia em Macbeth, somente quando a ameaçadora presença maternal encarnada em Lady Macbeth e nas Estranhas Irmãs são eliminadas; Macduff, a nêmeses que chama Macbeth a justificar-se, nasceu por Cesárea, tendo sido “arrancado / Fora do tempo ao ventre de sua mãe” (5.8.15-16), e é assim, como a realização do enigma da segunda profecia da Aparição, não “nascido de mulher” (4.1.80). Por essas razões, a ousadia de Antônio e Cleópatra é ainda mais extraordinária. Cleópatra é uma mulher transgressiva que às vezes parece determinada em inverter à estrutura da autoridade em seu relacionamento com Antônio. A história deles termina em derrota militar e morte. Apesar de Antônio ascender a uma nova dimensão de grandeza através de seu relacionamento com Cleópatra. Ela é uma personalidade essencial do debate de Shakespeare, nas últimas peças, em relação ao papel da sexualidade na vida adulta.
Nos chamados romances tardios ou tragicomédias – Péricles, Cimbelino, O Conto do Inverno, A Tempestade e, de forma mais periférica, Os Dois Nobres Parentes e Henrique VIII – Shakespeare move-se para além da imagem aterrorizante da mulher devoradora, para um retrato mais esperançoso e reconstrutivo da família. A mãe é uma figura instável, às vezes inteiramente ausente, em outras perdida para a história e eventualmente recuperada, às vezes transformada em uma perversa madrasta. A heroína dessas peças é a filha, infinitamente cara ao pai, mas usualmente exilada ou, pelo contrário, separada dele por muitos anos até que sejam eventualmente reunidos. O pai é uma figura central, usualmente afligido pela culpa e com remorsos pelas coisas imperdoáveis que fez a sua família, mas finalmente perdoado por aqueles que prejudicou. Um filho ou filhos podem ou não fazerem parte da figura.
Genericamente, os romances tardios parecem representar uma mudança de consciência da parte de Shakespeare, dos opressivos desafios existenciais das grandes tragédias para um Cosmos melhorado, no qual o perdão e a reunião são possíveis. A capacidade humana em auto-infligir infelicidade não é menor em algumas dessas peças, mas é arrebatada por um contra-movimento mais benigno. O gênero tem muito a ver com isso: a estrutura do romance ou da tragicomédia necessariamente move o protagonista através da separação e perda para uma eventual felicidade. Até esse importante ponto, as ideias não são exclusivamente Shakespearianas; John Fletcher e outros escreviam tragicomédias durante esses mesmos anos, de 1607 até 1613. Ao mesmo tempo, precisamos perguntar porquê Shakespeare escolhe esse gênero nesse ponto de sua carreira. Uma possibilidade convidativa é que ele o fez porque ele provê um veículo útil para o encerramento no sentido arquitetônico mais amplo de término e conclusão de uma carreira artística no teatro. As similaridades óbvias desses últimos romances com as primeiras comédias de Shakespeare (veja o Capítulo 4 sobre as definições desses gêneros) faz com que a roda gire na totalidade para Shakespeare: em seu final há seu início. Ao mesmo tempo, a inclusão nos romances de mais circunstâncias potencialmente trágicas empresta à empresa uma perspectiva mais genérica e inclusiva, e provê a Shakespeare uma rica oportunidade de mover-se da comédia para uma nova e final direção.
É possível sentir também uma conexão autobiográfica nas últimas peças, como se Shakespeare tentasse também organizar padrões e crenças em sua própria vida. Explorar tais possibilidades é uma atividade necessariamente especulativa, porém é, entretanto, convidativa. Um tema de comoção especial, em relação a isso, tem a ver com a aparição ou não-aparição de um filho ou filhos nos últimos romances.
Devemos assumir que Shakespeare importava-se muito com o amor de um pai, e sua necessidade, em relação a um filho. Seu único filho homem, Hamnet, irmão gêmeo de Judith, morreu aos onze anos, em 1596. Nós não sabemos a causa, ou se o pai esteve com seu filho quando essa coisa terrível aconteceu; Shakespeare estava vivendo em Londres enquanto sua família residia em Stratford, uma longa e árdua viagem naqueles dias. Shakespeare mostra em seus escritos uma notável habilidade de dramatizar à angústia de um pai em relação à perda de um filho, como em 1 Henrique VI, quando o bravo Lord Talbot, cercado pelos Franceses na região de Bordeaux, é alcançado pelo seu filho John e deve então decidir como prover à segurança do jovem homem. John recusa a preservar sua vida através da luta covarde e morre em batalha. Seu pai, segurando John nos braços, dirige-se com tocante eloquência: “Morte, jogral infame!”: Ligada por nós de perpetuidade / dois Talbots, alados pelo flexível céu / a teu despeito conseguindo, unidos, / escapar à mortalidade” (4.7.18-22). O pai então morre também. Em 3 Henrique VI um pai aprende que, involuntariamente, matou seu próprio filho na carnificina da guerra civil e amargamente lamenta-se do ocorrido: “Ó, garoto, teu pai deu-te a vida muito cedo, / E lhe despojou da vida muito tarde!” (2.5.92-3). O problema é, em termos de possível explicação biográfica, que essas peças pré-datam a 1596. Assim também, talvez, Rei João, com sua esquisita litania da angústia de uma mãe ao ser separada de seu único filho sob circunstâncias que ameaçam a vida dele:
A dor tomou o lugar do meu filhinho,
deita-se no seu leito, anda ao meu lado,
assume aquele olhar, repete apenas
suas palavras, traz-me a todo o instante
à memória seus dons inefáveis,
reveste a forma dele com os vazios
trajes que lhe são próprios.
(3.4.93-7)
Shakespeare, então, não precisou de nenhuma experiência pessoal para escrever com beleza sobre a morte de filhos.
Mas como, se o faz, Shakespeare respondeu ao horror da morte de Hamnet quando esta ocorreu? Ele usa seu principal veículo de expressão, o drama, para refletir sobre o que esta morte lhe diz? Ele certamente usou a forma do soneto para encorajar em seu cortês amigo a vital importância de gerar um filho, apesar de, novamente, esses escritos talvez precederem à morte de Hamnet, em Agosto de 1596. Nós sabemos que em Outubro de 1596 Shakespeare instituiu procedimentos para obter um Brasão de armas para seu pai John Shakespeare, para que seu pai (que morreria em 1601) pudesse autodenominar-se cavalheiro. Apesar da aparente grande importância da relação pai-filho para Shakespeare, nada emerge nas peças de 1596 e imediatamente posteriores. O Mercador de Veneza, Muito Barulho por Nada, As Alegres Comadres de Windsor, Como Gostais, 1 Henrique IV, Henrique V, Júlio César: nenhuma dessas interessa-se pela morte de um filho. 2 Henrique IV, em cerca de 1598, oferece um possível exemplo, quando a viúva de Hotspur critica o pai de Hotspur, o Conde de Northumberland, por não ter voltado para ajudar seu filho na batalha de Shrewsbury. Por outro lado, não antes de Noite de Reis, somente em 1600-2, encontramos uma história sobre gêmeos, um jovem homem e uma jovem mulher, ambos náufragos em circunstâncias que levam à jovem mulher, Viola, a pensar que seu irmão gêmeo, Sebastian, afogou-se. Ao adotar um disfarce masculino, Viola ocupa o papel de seu irmão até que, através da mágica da comédia romântica, ele de fato volta à vida.
Se isso é uma obra posterior de devaneios da parte de Shakespeare, lidando com a dolorosa realidade da morte ao reunir a garota e o garoto gêmeos em um imaginado final feliz, a fantasia não termina aqui. As últimas peças lidam com o tema de um filho perdido de várias maneiras. A história de Péricles não inclui um filho em sua saga de separação e união familiar, como se Shakespeare relutasse em enfrentar a questão nesse ponto (e, de fato, sua história fonte não tinha um filho em seu rol de personagens). Mas em Cimbelino, os dois irmãos da Princesa Imogênia, um deles o príncipe e herdeiro ao trono de Cimbelino, foram há muito tomados como mortos; a eventual descoberta que eles estão vivos, recupera não apenas um mas dois filhos perdidos. O Conto do Inverno triste mas realisticamente aceita a morte de um filho como final e irrevogável: Mamillius, o único filho do Rei Leontes e irmão mais velho da heroína, Perdita, morre uma infeliz morte como resultado da crueldade de seu pai. A Tempestade conclui o espectro das possibilidades imaginadas com ainda outro par de opções: o jovem Ferdinand é restaurado a seu pai, Rei Alonso de Nápoles, filho que supostamente havia se afogado, enquanto que, simultaneamente, como o pretendente de Miranda, Ferdinand torna-se o genro perfeito de Próspero e então o “filho” que Próspero nunca teve. É como se Shakespeare fizesse uma incursão deliberada no sentido do romance e da tragicomédia em seus últimos escritos para fornecer algum encerramento em relação à perda de seu único filho e também em relação ao final iminente de sua própria carreira artística.
Essas últimas peças são intensamente cônscias dos desafios existenciais colocados pelas grandes tragédias – o ciúme sexual, as ansiedades do envelhecimento, preocupações sobre a perda de poderes, os medos masculinos de castrar a mulher, e um resultante aumento do ceticismo, melancolia, depressão, misoginia e misantropia. Ainda que a estrutura essencial da tragicomédia, movendo-se através da proximidade da falha trágica por um prolongado período de tempo, até uma eventual restauração e perdão, provê a Shakespeare os meios de completar uma progressão de ideias da tese até antítese e síntese. A tragicomédia o permite alcançar a visão transcendental da felicidade, uma tal que é presidida pelos deuses. Esses deuses são pagãos em vez de Cristãos; ademais, suas apresentações beiram continuamente o cético ao sugerir que eles são criações da arte de Shakespeare. Uma metateatralidade intensificada convida-nos a estar em consonância com o artifício autoconsciente da dramaturgia tardia de Shakespeare. Mesmo assim, o senso de algo em último caso providencial paira por sobre a cena. A visão é instável, mas assim é o teatro de Shakespeare em sua própria natureza. Tal teatro é, como Próspero diz, “não são mais que espíritos” que “não deixam rastros”. “Nós somos do estofo / De que se fazem sonhos; e esta vida / Encerra-se num sono” (A Tempestade, 4.1.155-8). Se a própria vida é um sonho, como poderia o teatro ser menos do que isso?
Juntamente com a perda de um filho, as circunstâncias biográficas da vida de Shakespeare mais potencialmente em questão nas últimas peças, e que aparentemente necessitavam de encerramento artístico, estão relacionadas com casamento e família. Ele casou-se com Anne Hathaway no final de 1582, aos dezoito anos. Ela era oito anos mais velha e estava grávida de três meses quando o casamento ocorreu. A necessidade de obter uma dispensa da igreja para casar rapidamente, sem a costumeira leitura das proclamações do casamento (o anúncio da intenção de se casar) em três Domingo sucessivos, claramente sugere que a gravidez não foi planejada. A filha deles, Susanna, foi batizada em 26 de Maio de 1583, presumivelmente logo após seu nascimento. Os gêmeos, Hamnet e Judith, foram batizados em 2 de Fevereiro de 1585. Depois disso, Shakespeare e sua esposa não tiveram mais filhos, apesar de permanecerem legalmente casados até a morte dele em 1616, com 53 anos. Anne viveu até os 67 anos, morrendo em 1623. Em algum momento entre 1585 e 1592, Shakespeare mudou-se para Londres e iniciou seu caminho no mundo do teatro profissional. Ele alugou quartos e nunca trouxe sua família para Londres, apesar de os sustentar elegantemente em Stratford. Ali ele comprou uma bela casa para sua família e outra para Susanna, quando ela se casou com um médico bem-sucedido, Dr. John Hall, em 1607. Em 1613 ele comprou uma casa no distrito Blackfriars de Londres, apesar de não ter morado nela, pois ele provavelmente aposentou-se e mudou-se para Stratford nesse momento. Ele fez investimentos em imóveis ali, tornando-se rico em sua profissão. Sua filha Judith casou-se com Thomas Quiney, em 1616. Como era o relacionamento de Shakespeare com Anne? Não temos informações confiáveis. Nós somente temos as peças, e qualquer tentativa de conectá-las com a escassa informação biográfica é obviamente especulativa. Ao mesmo tempo, as últimas peças oferecem um terreno fértil para investigar às ideias do autor, ou ao menos suas fantasias artísticas, sobre a aposentadoria, reunião com a família e preparação para a morte.
Péricles não é inteiramente de Shakespeare, e seu texto é, às vezes, corrupto. Por essas razões, talvez, a peças foi excluída da primeira coleção completa de suas peças em 1623, editadas pelos seus companheiros atores, John Heminges e Henry Condell. Apesar de defeituosa em detalhes de linguagem e situação, Péricles utilmente estabiliza o padrão do romance ou tragicomédia que transpassa as outras peças tardias do gênero. O herói da peça empreende uma série de aventuras ao longo do Mediterrâneo oriental, primeiro para a corte de Antíoco, onde ele compete pela mão da bela filha do Rei. Os termos da competição necessitam que ele resolva um enigma:
Eu vivo, sem ser serpente,
Da carne minha semente.
Quis marido, e em meu labor,
Encontrei bom genitor.
Ele é pai, filho e esposo,
Eu, mãe, filha, e até seu gozo.
Como, em dois, pode isso ser,
Resolve tu, pra viver.
(1.1.65-72)
Conforme o enigma dá-se, este não é difícil. Péricles percebe imediatamente que a filha do Rei é uma parceira sexual incestuosa de seu próprio pai. Compreendendo que sua vida está em perigo por ter encontrado a resposta para o enigma, Péricles empreende uma impetuosa retirada. Esse é o único exemplo em todo Shakespeare de incesto aberto, e é claramente intencionado como um aviso instrutivo.
Quando Péricles está naufragado na costa de Pentapolis e dirige-se à corte daquele país, ele encontra uma situação que é o oposto virtuoso do perigo que ele acabou de escapar. O Rei Simonides também preside uma competição pela mão de sua filha, e brevemente finge ser cauteloso com o atraente novo candidato que emergiu do mar, mas a raiva é apenas fingimento (como é posteriormente com o tratamento de Próspero do namoro de Ferdinand e Miranda) e dura somente um breve momento. Simonides é o modelo do que um pai deveria ser: amoroso com sua filha, rico, generoso, acessível e ávido para ver sua filha casada com um jovem homem que é a escolha certa para ambos, para ela e seu pai. O casamento procede aceleradamente e em breve resulta em uma gravidez. Quando, entretanto, Péricles e sua mulher Thaisa empreendem uma jornada de barco durante a última etapa da gravidez dela, outra temerosa tempestade torna a história deles em uma aparente tragédia. Thaisa aparentemente morre ao dar à luz, incitando os marinheiros a insistir que o corpo dela está comprometido com as profundezas; de outra forma, eles dizem, a tempestade “não descansará até que o barco seja limpo da morte” (3.1.48-9). Supersticiosamente, eles não vão desistir. Péricles, afligido, coloca Thaisa em um baú firmemente vedado, e entrega a criança, Marina, aos cuidados de sua ama. Entretanto Thaisa não está de fato morta, ou é revivida da morte por um cavalheiro de Éfeso (Cerimon) que é versado na arte de “aplicar infusões / Que habitam em vegetais, em metais, em rochas” (3.2.38-9). A Thaisa é condicionada a um santuário em Éfeso, no templo de Diana, onde ela torna-se uma devota daquela deusa.
O relacionamento pai-filha está no coração do restante da peça, a maioria dela geralmente pensada como obra de Shakespeare. Um dispositivo comum do drama romanesco é que ele permite um considerável lapso de tempo no meio da peça, entre o “tragi” e a “comédia” da tragicomédia, suficiente nesse caso para Marina crescer para tornar-se uma jovem mulher. Ela encontra numerosos contratempos e desventuras no caminho, sendo atacada pela esposa ciumenta de Cleon de Tarsos, a quem é confiada por um tempo, e por piratas que a vendem como escrava de prostituição em Mytilene (no Egeu), onde ela consegue manter sua virgindade ao converter possíveis clientes para um modo de vida virtuoso. Péricles, nesse ínterim, jurou manter seu cabelo “sem corte” (3.3.31) até o momento do casamento de sua filha. Ele chega eventualmente no porto de Mytilene como um homem muito reprimido, em roupas grosseiras e com um longo cabelo e barba, não tendo “por três meses” conversado com uma alma e recusando qualquer alimento “exceto para prorrogar sua dor” (5.1.25-7). Sua principal angústia, seus criados e seguidores acreditam, “nasce da perda / De uma querida filha e esposa” (30-1), as quais ele supõe estarem mortas. O “desastre” de “uma noite mortal” no mar “o levou a isso” (38-9). Ele experiencia culpa por ter abandonado a ambas, não importando a pressão das circunstâncias? O texto da peça não deixa isso claro, mas a extremidade de sua isolação muda sugere que sua aflição espiritual é profunda e não resolvida. Somente quando Marina é trazida para seu navio no porto, para ver se, como alguém que empreende milagres, ela pode fazer alguma coisa por Péricles, ele responde ao som de uma voz humana. “Minha cara esposa era como esta dama”, ele diz, “e tal qual esta / Minha filha poderia ser” (110-11). Uma chorosa e feliz reunião segue-se após a aparição de Diana a Péricles em uma visão, ordenando que ele visitasse o templo dela em Éfeso. Ali ele encontrará sua esposa há muito tempo perdida.
Nessa versão do que tornou-se um cenário recorrente das últimas peças, Shakespeare imagina o que seria para um marido reunir-se com a esposa a qual ele abandonou anos atrás, em algum obstáculo, mas com um sentido prolongado de culpa que somente aumenta com o tempo. A restauração da esposa e da filha perdidas é apresentada como um milagre em Péricles, tão irresistível em sua felicidade imerecida que Péricles pede a um seguidor para golpeá-lo, “Pra que o mar de júbilo que me arrasta / Não vença as praias da mortalidade, / E me afogue em doçura” (5.1.196-9). Extasiada e paradoxalmente, sua filha lhe deu uma segunda vida, assim como ele foi o primeiro autor do ser dela: Marina é alguém que “geraste aquele que a gerou” (200). A família é reconstituída com sucesso; o único elemento misógino é encontrado em Dionysa, a esposa de Cleon, que, como uma madrasta perversa, tenta liquidar a vida de Marina por eclipsar os méritos da própria filha de Dionysa, Philoten (4 Coro 15-45). Nenhum filho toma parte nessa narrativa, assim como nenhum filho é encontrado nas fontes da peça, Confessio Amantis, de John Gower e O Padrão de Aventuras Dolorosas, (cerca de 1594-5, segunda edição em 1607), de Laurence Twine.
Cimbelino dá uma assustadora centralidade à madrasta assassina vista de relance em Dionysa de Péricles. O Rei Cimbelino, recentemente viúvo, está agora casado com uma mulher que é uma caricatura de uma bruxa madrasta do folclore. A Rainha em Cimbelino tem intenção de casar seu filho estúpido Cloten (“uma coisa / Muito mal para que se reporte mal”, 1.1.16-17) com a filha do Rei, Imogênia. Quando Imogênia escolhe, entretanto, casar-se com um virtuoso cavalheiro bem abaixo de sua classe social chamado Póstumo Leonatus, ela causa a cólera de seu pai e o ódio homicida de sua madrasta. No final da peça, o Rei Cimbelino aprende, para sua perplexidade e consternação, a “falsa grandeza” da Rainha (isto é, a ânsia de avanço social) ao casar-se com o Rei. Ela “casou-se com sua realeza”, o Doutor Cornélius diz a Cimbelino, “era esposa do seu lugar, / Abominando sua pessoa” (5.5.38-40). Ademais, a Rainha confessou que somente fingiu amar Imogênia, que “Era um escorpião a seus olhos” e que a vida, “A não ser pela fuga, ia tirar-lhe / Com um veneno.” Cimbelino admira-se, “Ó, demônio mais delicado! / Quem pode ler uma mulher?” (43-8). Por dentro dessa criatura de malícia, Shakespeare criou um bode expiatório de cada ansiedade imaginável em relação à figura maternal, gerencial e sufocante no mundo de pesadelos de sua imaginação trágica. A derrocada e a derrota dessa terrível Rainha sinalizam em termos negativos o final regenerativo dessa tragicomédia.
Imogênia é cobiçada e invejada por Clóten e a Rainha, por sua importância política. Ela é filha única e aparentemente a herdeira do Rei Cimbelino, desde que seus dois irmãos foram roubados na infância (um com três anos, o outro nas fraldas) de sua ama, e “até essa hora” “não é conjectura ao conhecimento / De como eles se foram” (1.1.58-61). Nós, como audiência, presumivelmente afinados com as convenções do contar de histórias românticas, podemos supor que esses filhos irão eventualmente aparecer, desde que a menção a eles, tão no início da peça e nessas circunstâncias misteriosas, podem parecer de outra forma inexplicáveis, mas essa compreensão é negada a Cimbelino e sua filha. A razão da raiva desmoderada em relação ao casamento socialmente imprudente de Imogênia é que ela frustra os planos de sucessão dele. Em vez de ligar-se a si mesma com o filho da nova rainha de Cimbelino, assim consolidando as duas dinastias, Imogênia teimosamente escolheu alguém que é inaceitável para Cimbelino como um cônjuge potencial para Imogênia no trono Inglês. “Tu tomaste um mendigo”, ele a acusa, “fizeste do meu trono / Um assento do mais baixo” (143-4). Imogênia não parece ser ambiciosa por poder real; ela parece muito alegre quando finalmente seu irmão reaparece, permitindo ao mais velho entre os dois, Guidérius, assumir sua posição como príncipe da coroa, enquanto Imogênia resume seu próprio casamento há muito interrompido com Póstumo.
A árdua jornada de Imogênia no País de Gales em busca de seu separado e exilado marido provê o necessário lapso de tempo para essa peça tragicômica afastar-se de seu início trágico no sentido da restauração. As dimensões trágicas da saga dela são tão marcadas como são os elementos da aventura. Tendo sido falsamente acusada pelo imoral Italiano, Iachimo, de falta de fidelidade com seus votos de casamento, Imogênia aprende que seu marido ordenou que ela fosse executada. O servo real encarregado dessa lúgubre tarefa, Pisanio, não consegue fazer como lhe foi ordenado, e então Imogênia pôde viver, porém com a necessidade de adotar um disfarce masculino e encontrar alguns meios de sobrevivência no montanhoso Gales, para onde ela viajou ao comando de Póstumo. Por sua parte, Póstumo interpreta o papel do herói trágico enganado e errante. Como Otelo e Leontes, ele é iludido com ciúmes insano em relação a uma mulher verdadeiramente virtuosa. Mesmo que o tentador Iachimo seja um vilão experienciado, como Iago, a disposição de Póstumo em arriscar apressadamente a virtude de Imogênia e então acreditar no pior dela é, em último caso, responsabilidade dele. Em solilóquio, ele soa tão torturado e miserável como o mais infeliz dos protagonistas trágicos:
Não nasce um homem sem que uma mulher
Faça a metade? Nós somos bastardos,
E o respeitável homem que chamei
De meu pai, estava não sei aonde
Ao me cunharem. Algum moedeiro
Me fez moeda falsa, mas mamãe
Parecia a Diana de seu tempo:
(2.5.1-7)
A misoginia desse discurso, a insistência em culpar a mulher por sua tristeza, a desconfiança e o ódio, o anseio por “vingança, vingança” (8), tudo testemunha o mesmo medo de traição pela mulher que encontramos em Hamlet, Otelo, Rei Lear, Macbeth, Timão de Atenas e Coriolano. Póstumo está totalmente chocado com a aparente sagacidade de Imogênia, pois ela pareceu tão hesitante para entregar-se a ele, seu marido: “Ela retinha o meu prazer legal, / Pedindo compreensão; e o fazia / Com pudicícia rosa, doce aspecto / Que esquentaria até o velho Saturno. / E eu a julgava casta como a neve” (9-13). O mais profundo medo dele é que as mulheres sejam enganadoras, e que sua esposa seja somente como todas as restantes.
Desses dilemas trágicos as figuras centrais de Cimbelino são resgatadas por uma série de eventos tão improváveis quanto metateatralmente autoconscientes. Imogênia, disfarçada de jovem homem desesperadamente necessitando de ajuda, encontra-se com um velho homem e dois mais jovens, habitantes de uma caverna e vivendo em seu habitat montanhoso como caçadores. Esses jovens homens acabam por ser, eventualmente, os irmãos perdidos de Imogênia, é claro, tendo sido retirados da corte há muitos anos por um cortesão insatisfeito e alienado chamado Belarius. Os irmãos e a irmã (ela ainda disfarçada de homem) permanecem não identificados um ao outro. Mais improbabilidades seguem-se. O repugnante Cloten, filho da Rainha, vestido com alguns trajes de Póstumo (obtidas para ele por Pisanio) e buscando por Imogênia para estuprá-la e matar Póstumo ante os próprio olhos dela (3.5.138-9), encontra Guiderius (conhecido pelo nome de Polydore) e é decapitado por aquele bravo jovem homem por sua insolência. Imogênia, aflita com algum tipo de doença, toma um remédio dado a ela por Pisanio que, de fato, é uma poção do sono inventada pelo Doutor Cornélius como um meio de virtuosamente ludibriar à perversa Rainha, que lhe pediu um verdadeiro veneno. Imogênia, aparentemente morta, é preparada para o enterro pelos seus tristes irmãos, quando acorda encontrando-se a sós, caindo desconsolada ante o corpo sem cabeça de Cloten que ela toma como sendo de seu marido, pois o corpo está vestido com as roupas de Póstumo, e é encontrada nessa situação por Lucius, comandante das forças Romanas tentando trazer a Bretanha de volta sob o controle do império Romano. O Póstumo real, tendo retornado da Itália para a Bretanha com a intenção de terminar com sua própria miserável existência, remove seu hábito Romano por uma roupa de um camponês Bretão, mas então reverte para um traje Romano para que seja aprisionado e executado pelas forças Bretãs vitoriosas. Ele é trazido ante o Rei para a sentença, assim como Lucius e “Fidele” (Imogênia), que, tendo sido capturados em batalha, são conduzidos sob escolta. O vilão Iachimo está entre os Italianos que vieram para a Bretanha e agora estão reunidos pelos seus captores para a determinação de seus destinos. Assim, todos os personagens da peça, exceto o morto Cloten e sua mãe, são reunidos para um grande final.
Por que Shakespeare dá ênfase na improbabilidade da narrativa ao tecer seu conto tragicômico? Em parte, a resposta pode ser que o gênero do romance e da tragicomédia pede por esses dispositivos. Então, também, alguns desses mesmos dispositivos são essencialmente como Shakespeare os encontrou em sua fonte principal, uma história do segundo dia, história nove, do Decameron, de Giovanni Boccaccio, juntamente com as Crônicas da Inglaterra, Escócia e Irlanda (Edição de 1587) de Raphael Holinshed. Uma razão mais profunda pode ser que Shakespeare tem a intenção de ressaltar o que é maravilhosamente inesperado e miraculoso no resgate de Cimbelino, Póstumo, Iachimo e outros de suas próprias piores individualidades. A salvação divina de Póstumo toma um caráter abertamente mítico. Ele está na prisão, agradecendo sua servidão; ele ainda acredita que Imogênia está morta, mas a perdoou pelo imaginado adultério, e deseja somente sofrer a punição pela coisa imperdoável que ele pensa ter feito a ela. Nesse estado receptivo da mente ele é visitado em seu sono pela aparição da sua família, rezando a Júpiter pela sua ajuda. Júpiter responde ao descer “com relâmpagos e raios, sentado sobre uma águia” e lançando um raio (5.4.92 SD). A consolação que ele oferece é afirmar que “Persigo a quem mais amo pra que, adiado, / Seja mais doce o bem” (101-2). Ele reafirma a eles, em outras palavras, que os sofrimentos deles estão sob sua supervisão, e tem sido designados para ensiná-los a recompensa da paciência. Suas tribulações passadas somente farão o final feliz de suas histórias mais inesperado e jubiloso.
Essa ideia é a fórmula da tragicomédia. Júpiter é o gênio que preside aquele gênero em Cimbelino. Ele é, ademais, a criação, nessa peça, do dramaturgo, assumindo o papel de deus ex machina com o objetivo de guiar a peça para seu final feliz. Ele é deus ex machina em um sentido quase literal e técnico; o termo deriva da prática do drama Grego antigo de rebaixar o deus para uma cena no final de uma peça por meio de uma “máquina” ou guindaste. Aqui Júpiter emerge de uma abertura no “céu” acima do palco Jacobino e é baixado por cordas e polias até que, tendo encenado sua parte, ele “Ascende” (a direção original de palco na linha 113). Shakespeare usa essa descida dos “céus” apenas raramente, e somente em suas últimas peças; o outro exemplo é no baile de máscaras dos deuses em A Tempestade. Novas tecnologias, algumas delas importadas da Itália para os bailes da corte, ofereciam oportunidades expandidas para efeitos de bravura desse tipo no teatro do início dos anos 1600. A manifestação do próprio Júpiter para os mortais é patentemente teatral, chamando atenção ao artifício do palco e do evento em si mesmo. Ele é tão teatralmente auto-ciente, no estilo das tragicomédias Jacobinas de dramaturgos como John Fletcher, que as produções modernas às vezes interpretam-na com afetação e uma diversão estranha.
Podemos ser inclinados, à primeira vista, a não levarmos o episódio seriamente, e, entretanto, a cena é vital como um comentário sobre a natureza do encerramento na tragicomédia. Visto da perspectiva do que Júpiter nos diz, toda a história retrospectivamente faz sentido: o sofrimento humano tem um propósito no esquema transcendental das coisas. Ele nos ensina a sermos humildemente conscientes da nossa própria propensão por um comportamento autodestrutivo, e oferece uma visão artística de como nossas tribulações terminarão em harmonia se nós nos submetermos a um plano providencial maior. “Seja contente”, Júpiter nos pede. Como o sábio Pisânio disse, “O destino traz alguns botes que não são conduzidos” (4.3.46). Shakespeare, como um dramaturgo Jacobino, preside finalmente sobre esse mistério teatral; os deuses pagãos são dele, e eles supervisionam a conduta de uma peça tragicômica conforme o dramaturgo deseja.
O Conto de Inverno termina com uma cena de artifício teatral tão autoconsciente quanto a de Cimbelino. Primeiramente, Shakespeare nos deixa, na maior parte da peça, com a falsa impressão que a Rainha Hermione está morta, como consequência dela ter sido posta sob julgamento por seu marido, por um adultério que ela certamente não cometeu. Em nenhum outro lugar do cânon Shakespeare tão deliberadamente ilude sua plateia sobre uma matéria importante. O espírito de Hermione aparece em uma visão para o cortesão Antígonus como um dos “espíritos dos mortos”, “Em túnicas brancas puras / Como a própria santidade”, pedindo a ele para cuidar do bebê o qual Hermione deu à luz. Então, “com um grito agudo, / Ela fundiu-se ao ar.” Antígonus pode tirar somente uma conclusão: “Eu acredito / Que Hermione sofreu a morte” (3.3.15-41). A peça não dá dicas de salvação final, como o faz Cimbelino quando nos conta, precocemente, sobre os dois filhos do rei que estranhamente desapareceram da corte. Nós temos toda razão em acreditar que Hermione está morta. O engano é essencial para a grande surpresa da cena final da peça, quando o ainda aflito Rei Leontes é convidado a ver uma nova estátua terminada da Rainha Hermione, dezesseis anos ou mais depois da suposta morte dela. A estátua torna-se viva; o marido culpado e sua inocente esposa são reunidos finalmente, pois a estátua é a própria Hermione, que ficou escondida por todo esse tempo até que o que estava perdido seja encontrado (3.2.135-6, 5.1.40), isto é, a filha perdida deles, Perdita. (“Perdita” quer dizer “a desaparecida”; as palavras “perder” e “encontrar” têm uma proeminência especial nessa peça.) Novamente, Shakespeare escolhe terminar uma tragicomédia com um evento que é maravilhosamente improvável e altamente metateatral.
O Conto do Inverno é tragicomédia quintessencial. É dividida em duas metades no início do quarto ato, no momento da aparição do velho pai Tempo, gabando-se da sua habilidade de “saltar / Dezesseis anos”, para “quebrar leis, e de um´hora pra outra / Criar e mudar hábitos.” O Tempo nos pede para sermos pacientes como se “a cena mudasse após / Um longo sono” (4.1.5-17). Essa figura córica e alegórica ostenta o artifício teatral da sua intervenção, como o Coro em Péricles. Nós estamos em suas mãos, necessariamente submissos a sua quebra das unidades clássicas de tempo e lugar e sua insistente lembrança que nós estamos assistindo uma peça no teatro. A peça, até esse ponto, teve profunda preocupação com os eventos trágicos: o ciúme insano do Rei Leontes da Sicília, a inocência de sua Rainha e seu melhor amigo (Polixenes, Rei da Bohemia) que é falsamente acusado de adultério, a aparente morte de Hermione após seu julgamento, a morte real do príncipe da coroa, Mamillius, e a determinação do Rei que a filha recém-nascida da Rainha seja morta. A morte de Mamillius é uma consequência especialmente comovente do mundo decaído da Sicília; ele não pode ser trazido de volta à vida, mesmo em uma tragicomédia, como se fosse uma forma de reconhecimento, por parte do dramaturgo, que a morte de um filho pode, de fato, ser final e irrecuperável. Na segunda metade da peça, conforme a ação move-se da gélida corte da Sicília para o reino de faz-de-conta da Bohemia (completa com sua costa marítima fictícia), nós entramos em um mundo de floração primaveril, de festivais de tosa de ovelhas, de música e dança, e de pessoas jovens apaixonando-se. Quando as complicações do enredo inevitavelmente atacam os jovens amantes da Bohemia, essas complicações são do tipo que poderíamos esperar em uma comédia romântica: um pai que opõe-se ao noivado de seu filho real com uma aparente pastora, a necessidade de uma fuga dos amantes, as incertezas de uma jornada a bordo de um barco, a mistura de identidades quando os jovens alcançam a Sicília, e todo o resto.
Leontes é, mais do que qualquer marido nas últimas peças, terrivelmente culpado do ódio causado pelo ciúme. Sua convicção que Hermione e Polixenes são amantes é baseada em nenhuma outra “evidência” do que o fato de Hermione estar grávida de nove meses e que a visita de Polixenes à Sicília durou exatamente aquele período de tempo. Nenhum cortesão suporta o Rei em sua paranoia; todos pedem que ele acredite na inocência de Hermione. Sua inabilidade de assim o fazer é claramente um produto de sua própria imaginação doentia, seu medo de ser traído, sua desconfiança em relação às mulheres. Leontes sofre do ciúme que destrói a vida de Otelo, ou de Iago. As ruminações de Leontes em solilóquio são tão eloquentes como aquelas de qualquer protagonista trágico em Shakespeare:
Já houve
(Se não me engano) cornos antes de hoje,
E muito homem (até mesmo agora,
Enquanto falo) dá o braço à esposa
Sem saber que, na ausência, ela molhou-se,
E que o vizinho pescou em lago seu,
Aquele, o Sorridente; é um consolo,
Ver abertos os portões de outros homens,
Como o meu, a contragosto. Sem freio,
Todo marido de infiel, dez por cento
De toda a humanidade se enforcava.
Não há remédio: o planeta é obsceno
E age onde domina; manda, creia,
Em norte, sul, leste e oeste; em resumo,
Sem defesa pra barriga. Pois saiba,
Deixa entrar e sair o inimigo,
De mala e cuia: e muitos milhares
Têm a moléstia sem saber.
(1.2.190-207)
Como outros protagonistas trágicos, como Otelo especialmente, Leontes aprende muito tarde que sua esposa foi verdadeira e casta. Ela morre como um resultado direto do seu terrível ciúme. Ou assim o parece, até o momento que nos vemos ante uma tragicomédia, onde uma miraculosa segunda chance, finalmente, está disponível.
A reunião de Leontes, depois de dezesseis anos de separação, com sua filha Perdita, a quem ele ordenou ser abandonada em sua infância em “algum local remoto e deserto”, (2.3.176) onde certamente ela morreria, é chorosamente alegre, como as reuniões de Péricles com Marina e Cimbelino com Imogênia. Ao equivocado protagonista é dada uma miraculosa e não merecida segunda chance. Observadores na corte da Sicília são golpeados com a maravilhosa qualidade desse evento. É “tão parecido com um antigo conto que sua verdade está sob forte suspeita”, diz um. É uma visão “que tem que ser vista, não pode ser falada”, diz outro (5.2.28-44). A história de Antígonus, que carregou a criança a Bohemia e perdeu sua vida para um urso saqueador ao fazê-lo, é “Também como história que conta fatos mas não tem crédito, nem encontra ouvidos alerta” (62-3). O próprio título da peça, O Conto do Inverno, carrega a impressão dessa ideia. A volta à vida de Hermione, assim como quando a estátua de Pigmalião torna-se viva, é um mistério ainda mais surpreendente e inexplicável. A aparente explicação é que a esposa de Antígonus, Paulina, sequestrou Hermione por dezesseis anos para permitir que a penitência fizesse seu trabalho, em último caso, restaurador em Leontes e para dar tempo para Perdita crescer. Mas esse relato parece implausível à primeira vista. Como poderiam Paulina e Hermione saber que em dezesseis anos a desaparecida Perdita voltaria à corte da Sicília? Por que elas desejam esperar tanto, negando à Hermione e Leontes a felicidade que eventualmente lhes é restaurada? Como é concebível que Leontes tenha “representado / Uma angústia de santo” (5.1.1-2) por todo esse tempo, implorando a Paulina relembrá-lo incessantemente do que ele fez?
Uma explicação alternativa assim sugere a si mesma, que Hermione é miraculosamente trazida de volta da morte para a vida. Paulina fala dela como um tipo de ilusionista, capaz de “fazer a estátua se mover de fato”, apesar dela insistir que ao assim fazer ela não é “ajudada / Por poderes malignos” (5.3.87-90). O que ela fará é um milagre. “É necessário / Que você acorde sua fé”, ela diz (94-5). O acordar cumpre à intenção dos deuses, que pairam sobre essa peça como autoridades acima de sua forma tragicômica, com Paulina como agente deles. O oráculo de Apollo, em Delphi, falou anteriormente na peça, e em termos que são notavelmente não ambivalentes para um oráculo: “Hermione é casta, Polixenes sem culpas, Camillo um sujeito verdadeiro, e o Rei deve viver sem um herdeiro se aquilo que está perdido não for encontrado” (3.2.132-6). Essa predição crítica estrutura a mudança narrativa de O Conto do Inverno, da tragédia para a comédia. Mais uma vez, Shakespeare escolheu os deuses pagãos para personificarem os princípios de sua dramaturgia tragicômica. Novamente, os deuses são sua criação como dramaturgo; Paulina é sua substituta como ilusionista do teatro. A autoconsciência de uma teatralidade altamente planejada torna perfeitamente claro ambos o artifício e o profundo e comovente mistério da cena final da peça.
Autobiograficamente, O Conto do Inverno pode ser aplicável, com uma especial relevância, a uma fantasia autoral em relação ao marido, esposa e filha. Um marido culpado destruiu sua felicidade ao eliminar sua esposa inocente. Depois de uma dolorosa ausência de muitos anos, durante os quais ele sofreu infinitos espasmos de remorso, o marido é restaurado a sua esposa como se por um milagre imerecido. Ela envelheceu, porque o gênio do escultor “deixou-se levar por dezesseis anos e a fez / Como se vivesse agora”, “enrugada”, “envelhecida”, não como se ela fosse uma mulher mais jovem (5.3.28-32). Ela está mais velha agora, assim como o marido, e ele compreende que ama e deseja ela agora pelo o que ela é. “Ó, ela está quente!” Leontes exclama, quando Hermione desce de seu pedestal, permitindo a eles tocarem-se e abraçarem-se. “Ela prendeu-se em torno do pescoço dele”, observa Camillo (109-13). A reunião do pai com a filha há muito desaparecida não é menos preciosa. Se Shakespeare pensou nisso no contexto de sua longa separação de sua família enquanto trabalhava em Londres, o fato de ele não ter tido filhos com Anne por vinte e cinco anos, e a iminência, por volta de 1610, de sua aposentadoria em Stratford, não podemos dizer com certeza, mas a ideia é atraente. Ela reúne muitas ideias de encerramento: como terminar uma carreira, como concluir uma vida familiar, como recuperar um casamento, como terminar uma peça. O filho inexoravelmente se foi, mas outras compensações permanecem.
A Tempestade parece ainda mais intencionada em reunir os elementos do drama e da vida que resultam em um final apropriado. À peça foi dado o orgulho do primeiro lugar no Primeiro Fólio de 1623, como se os editores, Heminges e Condell, colaboradores há muito de Shakespeare na companhia do Rei, vissem A Tempestade como um resumo e uma demonstração das coisas que Shakespeare fez com habilidade suprema. Isso ajuda a explicar porquê A Tempestade foi por muito tempo considerada como a peça de aposentadoria de Shakespeare. Ele continuou a escrever posteriormente, colaborando com John Fletcher, seu sucessor como dramaturgo chefe para os Homens do Rei, em Dois Nobres Parentes e Henrique VIII, mas A Tempestade pode ter sido seu último evento solo. Ela repetidamente mostra uma consciência que a carreira de seu autor está terminando.
Em sua relativamente curta duração – A Tempestade tem aproximadamente três-quintos da duração de Cimbelino – essa peça é um verdadeiro banquete de dramaturgia Shakespeariana. Desprovida de uma única fonte de enredo, ela volta-se, em vez disso, para as obras anteriores de Shakespeare em busca de modelos. Ela é uma comédia romântica, de certa forma da maneira dos escritos anteriores de Shakespeare: “romântica” em seu relato de uma jornada pelo mar, de separação e perda e eventual reunião, de naufrágio (como em A Comédia dos Erros, Noite de Reis e Péricles); “romântica” também ao centrar um dos seus enredos no amor de dois jovens que, como vimos no Capítulo 2, aderem ao idealismo de prorrogar à satisfação sexual até o casamento e são encorajados nisso pelo pai da jovem. Como muitas das comédias anteriores (Os Dois Cavalheiros de Verona, Sonho de uma Noite de Verão, Muito Barulho por Nada, Noite de Reis, etc.), A Tempestade apresenta personagens altamente cômicos os quais as tiradas hilárias ocupam um subenredo ou um substrato da peça que é, também, primorosamente conectado com a história principal. Ao mesmo tempo, A Tempestade compartilha com outras peças tardias os elementos sombrios característicos da tragicomédia. A história de uma cruel maquinação política no continente, na Itália, apesar de ser narrada como se tivesse ocorrida por volta de doze anos atrás (1.2.53), é uma história de injustiça social, de irmão contra irmão, de banimento forçado até uma morte quase certa. Mesmo na ilha no momento presente, duas tentativas são feitas de assassinato político e tomada do poder. O tema da penitência paira fortemente sobre a peça. Alonso, como Leontes em O Conto do Inverno, é um monarca afligido pela culpa, certo que a aparente morte por afogamento de seu único filho é a consequência de sua própria culpabilidade. O perdão figura com centralidade no desenlace da peça, e é associado durante todo o tempo com eventos maravilhosamente improváveis.
Próspero é muitas coisas: um mago, um exilado, o único e futuro Duque de Milão, um pai cuidadoso, um sogro esperançoso, um mestre de dois escravos, um colono (em um sentido limitado), um professor exigente dado a homilias, um dramaturgo, um aposentado, e talvez, de algumas formas, um substituto do dramaturgo. Ele é, ao mesmo tempo, autoritário e sábio, vingativo e compassivo, dogmático e disposto a ouvir. Às vezes, hoje, ele é representado como autocrático e mesmo sádico; nossa cultura moderna tem suspeita de figuras de autoridade, e Próspero está certamente no comando da ilha de A Tempestade. Esse capítulo argumentará, por outro lado, que ele pode ser visto como um personagem bem-sucedido, mesmo que com falhas e autocrítico, e que sua realização contribui com um tipo de resumo do que um artista e pai como Shakespeare pode ter esperado realizar em sua carreira e em sua vida.
Como um pai, Próspero é bem-sucedido em alcançar uma felicidade doméstica que escapou a praticamente todos seus predecessores nas peças tardias – e na maior parte de Shakespeare, de fato. O velho Egeus, em Sonho de uma Noite de Verão, recusa deixar sua filha Hérmia casar-se de acordo com a própria escolha dela, mesmo quando o jovem homem, Lisandro, pode dificilmente ser distinguido da escolha arbitrária de seu pai, Demétrius. Shylock, em O Mercador de Veneza, perde sua filha Jéssica ao ter “muito respeito pelo mundo”. “Eles perderam o que compraram com muito cuidado” (1.1.74-5), diz Graciano. A frase é oferecida como um conselho amigável para Antônio, mas ela adequa-se bem a Shylock. Brabantio, em Otelo, consternado pelo o que toma como sendo a deserção de sua filha Desdêmona dele, em sua fuga com Otelo, desaparece da peça, como um homem arrasado. Desdêmona aprende depois que seu pai está morto: “Tua boda lhe foi mortal: pura dor / Cortou-lhe o alento”, o tio dela, Graciano, lhe diz. (5.2.211-13). Para o Rei Lear, a quieta recusa de Cordélia em adular seu pai em termos hiperbólicos, que ele aprendeu a esperar, equivale a uma traição: “Melhor seria / Não nasceres do que não me agradares”, ele a acusa (1.1.237-8). O laço incestuoso entre o Rei Antiochus em Péricles e sua bela filha, mas marcada pelo pecado, é somente uma manifestação exterior de uma potencial e doentia falta de disposição da parte de muitos pais, em Shakespeare, em deixar suas filhas irem com homens mais jovens. A natureza sexual dessa rivalidade entre pai e possível genro parece evidente na intensa desaprovação de Cimbelino de Póstumo Leonatus como um parceiro para a filha do Rei, Imogênia, mesmo que haja, também, razões políticas para a raiva do Rei. O Rei Polixenes, em O Conto do Inverno, um personagem admirável, não pode ser reconciliado com a ligação romântica de seu filho com a aparente pastora Perdita, apesar do fato de o conselheiro leal do Rei, Camillo, estar muito do lado dela.
Próspero sabe bem o suficiente como interpretar o papel de um pai ciumento. Uma comédia romântica exige complicações de enredo desse tipo, e Próspero, como autor/mago/diretor da sua própria peça, condescende. Quando o jovem Ferdinand, o príncipe da coroa de Nápoles, é carregado pela tempestade de Próspero e imediatamente encontra Miranda e Próspero, o pai sujeita o jovem homem a um duro interrogatório. Como ele ousa oferecer insolentes avanços sobre Miranda, como perguntá-la se ela é “dama ou não” – isto é, uma jovem mulher humana ou alguma deusa, e também se ela é casada ou não? “O que serias, se te ouvisse Nápoles?” pergunta Próspero (1.2.430-6), sugerindo que o pai de Ferdinand ficaria surpreso ao ver seu filho e herdeiro usurpando o lugar do pai e então comprometendo-se a uma ligação romântica com uma estranha à primeira vista. Próspero sabe que Alonso, Rei de Nápoles, está vivo em outra parte da ilha; Ferdinand tristemente supõe que seu pai afogou-se. Miranda está entristecida pelo tom áspero de seu pai: “Por que fala meu pai de modo rude?” (449). Próspero está longe de ceder, ao que parece: estigmatizando Ferdinand como um “traidor”, o pai (como vimos no Capítulo 2) jura agrilhoar o pescoço e os pés de Ferdinand. “Beberás água salgada; e a comida / Serão lesmas, raízes secas, cascas / De antigas pinhas” (464-8). Quando Ferdinand saca sua espada em oposição, Próspero o encanta, tornando-o imóvel e então o insulta como um covarde que mostra bravura mas não ousa atacar porque sua consciência “Está muito possuída pela culpa”. Próspero é extremamente brutal com Miranda. “O quê? Meu pé me ensina?” Isto é, como você ousa, como minha humilde subordinada, instruir-me como minha cabeça? “Saia e largue a minha roupa. Silêncio!” (472-9). Posteriormente, vemos Ferdinand “carregando lenha” em uma miserável servidão física que relembra o trabalho escravo que Calibã é obrigado a fazer. Miranda fica chocada que um trabalho “de tal baixeza” está sendo forçado a um príncipe; trabalhos subalternos desse tipo “Jamais coube a um nobre” (3.1.1-13)
Entretanto, desde o início Próspero torna claro a nós como plateia ou leitores que ele está apenas interpretando um papel, presumivelmente para o benefício último dos jovens. Ferdinand encontrou Miranda porque Próspero, através de Ariel, arranjou as coisas dessa maneira. Próspero quer que o casamento ocorra, por razões dinásticas (unindo os reinos de Milão e Nápoles) e como um meio de ver sua única filha felizmente casada. Ele nos expressa à parte a natureza do seu motivo para ser tão rude: “Estão presos um ao outro. Mas tal pressa / Eu devo perturbar, pois o que é fácil / Desvaloriza o prêmio” (1.2.454-6). Esse motivo opera simultaneamente em um nível pessoal e dramatúrgico: ele reforça o insistente ensinamento da peça, que a satisfação sexual não deve preceder o casamento, e ele provê à A Tempestade uma complicação de enredo. Toda história de amor necessita que uma dificuldade seja superada, ou não há enredo. “Ele funciona” (497), diz Próspero à parte, congratulando-se como um dramaturgo que o enredo procede de acordo com um script. Quando ele tem a oportunidade, posteriormente, de testemunhar Ferdinand carregando as lenhas e Miranda clamando por compaixão, Próspero torna-se coro de sua própria obra. Ele é ora “invisível” ora despercebido e inaudito pelas pessoas jovens. “Pobre verme”, ele diz à Miranda, “tu estás infectada!” (3.1.31). Ele cumprimenta a troca de votos deles com aprovação jovial: “Um belo encontro / De duas das mais raras afeições! / Que os céus chovam graças / Sobre o que nasce entre eles!” (74-6). Uma vez que eles deixam o palco, ele nos traz essa cena a uma conclusão córica ao dizer, para si mesmo e para nós, “Tão feliz como eles não posso estar, / Assim surpreendidos; porém nada / Me alegraria tanto” (93-5)
Nós não precisamos assumir que esse desprendimento é fácil para Próspero. Os sinais de um confronto emocional são, provavelmente, evidentes em sua necessidade de reproduzir sua própria relutância dessa forma. Sobretudo, ele viveu doze anos com Miranda como sua única companhia, para além de Calibã. Próspero e Miranda foram parceiros, como Brabantio e Desdêmona; sem mãe ou esposa retratada, eles foram emocionalmente dependentes um do outro a um grau extraordinário. Eles mantiveram o ambiente doméstico juntos. Entretanto, Próspero deixa estar, e aceita seu futuro genro como uma vital nova parte de sua própria felicidade. Essa é uma importante maneira a qual A Tempestade provê encerramento, não somente para si mesma como uma peça, mas para o cânon de Shakespeare como um todo, e para o conceito encarnado no cânon referente à conduta pessoal correta.
O papel que Próspero interpreta em relação a Alonso e os outros náufragos Italianos toma uma forma similar. Como se fosse o próprio espírito da tragicomédia, como Júpiter em Cimbelino, Próspero sujeita seus companheiros compatriotas à visões dolorosas, desapontamentos, angústias e tentações que somam-se para gerar o enredo dessa porção de A Tempestade. Ele deliberadamente ilude, permitindo a Alonso supor que seu filho afogou-se. Por intermédio de Ariel ele atormenta o grupo de Italianos com visões de uma abundante mesa de banquete que some perante os olhos deles quando, famintos, alcançam à comida. Em vez de prover um banquete, ele sujeita-os a uma homilia sobre os seus múltiplos pecados, proferido por Ariel disfarçado de harpia – isto é, um monstro fabuloso com face de mulher, seios, e um corpo de abutre, personificando, na mitologia Grega e Romana, a retribuição divina que alguns desses homens merecem (3.3). Eles estão todos “distraídos” (5.1.12), esgotados, pasmos. Próspero é incitado por um desejo de vingança? Certamente seu irmão Antônio o deu amplos motivos, por ter retirado o ducado de Milão de Próspero, por volta de doze anos antes, com a ajuda de Alonso, Rei de Nápoles e seu irmão Sebastian (veja 5.1.73-4). Próspero, de fato, sente-se instigado à vingança, até que Ariel, o espírito que o auxilia em todas as coisas, oferece a observação que ele, Ariel, sente alguma afetuosa preocupação por esses homens “se eu fosse humano” (5.1.20). Próspero é tocado, por esse exemplo, a fazer o que lhe é aconselhado:
Se você, que é só ar, fica afetado
Por suas aflições, não hei de eu,
Que sou da espécie deles, e que nutro
Paixões iguais, sentir mais que você?
Os crimes deles me tocaram fundo,
Mas co´a razão, mais nobre, contra a fúria
Tomo partido: a ação mais rara
´Stá na virtude, mais que na vingança:
Se estão arrependidos, meu intento
Não franze mais o cenho.
(5.1.21-30)
Próspero vê seu desejo por vingança como um produto da natureza humana corrupta, a qual, como um mortal, ele está propenso. Ele vê também que tem o poder para fazer alguma coisa em relação a essa pecaminosa fraqueza, ao subordiná-la à razão humana. Ao fazer isso, ele alinha-se com o espírito de perdão que é um elemento essencial da estrutura e da ideia das peças tardias de Shakespeare.
Se Próspero tem um valioso motivo ao enganar Alonso a acreditar, na maior parte da peça, que Ferdinand afogou-se, a intenção é, presumivelmente, a de conduzir Alonso através da angústia e da penitência para a gentil e alegre reunião experienciada por Péricles, Cimbelino e Leontes – como Júpiter diz em Cimbelino, para fazer o presente da felicidade “Quanto mais demorado, mais deleitado” (5.4.102). O plano parece funcionar com Alonso. Com Sebastian e Antônio o prognóstico é decisivamente menos otimista. Eles são vilões, e permanecem assim até o final, mantendo-se cínicos ao serem brevemente atemorizados pelas estranhas visões de Ariel. Dada essa antipatia de Antônio e Sebastian, o dispositivo de enredo de Próspero para os vilões é totalmente diferente do que ele planeja para Alonso. A Antônio e Sebastian é fornecida uma oportunidade de vislumbrarem o que eles fariam se a tentação estivesse em seu caminho. Quando Ariel coloca Alonso e outros para dormirem com sua mágica, Antônio conspira imediatamente com Sebastian para assassinar seus companheiros, incluindo o Rei, assim confiscando em suas mãos poder absoluto (2.1.188-310). Ariel está, é claro, assistindo a tudo isso, e acorda o Rei a tempo de abortar o enredo revolucionário. O esquema de Próspero nesse exemplo não pode ser o despertar da consciência, pois Antônio e Sebastian não têm consciência; em vez disso, busca-se expor a vileza pelo que ela é, e demonstrar um poder supervisor benigno no mundo da comédia Shakespeariana, encarnada em Próspero e Ariel, que não deixarão tal vileza prosperar. Próspero e Ariel fazem exatamente a mesma coisa com os personagens bufões, Trínculo e Stéphano: dada uma aparente oportunidade de assassinar Próspero e assim ganhar o controle sobre a ilha, os palhaços aceitam a oportunidade, somente para serem expostos e ridicularizados. Eles são incorrigíveis da mesma forma que Antônio e Sebastian são incorrigíveis. A peça sugere que tais tipos não podem ser reformados, mas eles podem ser assistidos, desarmados e sujeitados ao riso satírico. Calibã é de um tipo diferente: como uma criatura do mundo natural, ele está acima do alcance da maior parte da instrução (ele permanece impenitente em relação a sua tentativa de possuir Miranda sexualmente), mas suas percepções de beleza natural são notavelmente sensíveis. Ele pode ser perdoado e deixado para trás, no local o qual ele pertente, quando os outros retornarem para a Itália.
A Tempestade assim circunscreve à história de Shakespeare de maneiras que parecem bem adequadas para um dramaturgo à beira da aposentadoria do palco, e, ao seu próprio tempo, da própria vida. O feliz relacionamento que Próspero molda para si mesmo, com Miranda e Ferdinand, pode representar, a alguma distância do mundo dos sonhos ou da fantasia, as esperanças do autor por Susanna, no casamento dela com John Hall. (Judith não se casará com Thomas Quiney até 1616, bem depois da escrita de A Tempestade e próximo do momento da morte de Shakespeare.) A ausência de uma mãe para Miranda e de uma esposa para Próspero pode ressoar uma nota mais melancólica; nada que relembra a envelhecida mas amada Hermione de O Conto do Inverno, com quem Leontes é tão agradecidamente reunido, é acrescentado em A Tempestade. Por outro lado, o filho perdido de O Conto do Inverno talvez reemerja em vários disfarces em A Tempestade: Ferdinand, que é tido como morto, é restaurado ao seu pai Alonso enquanto também toma o lugar do filho que Próspero nunca teve. Ferdinand é um genro muito satisfatório. “Deixe-me viver aqui para sempre!” ele exclama maravilhado com o esplêndido baile de máscaras que Próspero e Ariel arranjaram para o benefício do casal de noivos. “Pai e esposa tão raros e maravilhosos / Torna esse lugar o Paraíso” (4.1.122-4; “esposa” (wife) é, às vezes, lida como “sábia” (wise), pois o “s” alto, das primeiras impressões modernas, relembra um “f”). Como é agradável para Próspero, e, somos tentados a imaginar, para Shakespeare, ao menos em seus sonhos, ter um genro que tanto admira e ama o pai da noiva!
O momento é ainda mais gratificante porque é parte de um desfecho no qual Próspero também aposenta-se de sua arte de criador de visões dramáticas. Com a ajuda de Ariel e seus companheiros espíritos “Escureci o sol do meio-dia, / O tumulto dos ventos conclamei”, e abriu as tumbas para libertar os que dormiam através de sua “arte tão potente” (5.1.41-50). Agora é o momento de dissolver as festividades que criou, os atores que comandou, e “o grande globo ele próprio” e “Sem deixar rastros” (4.1.148-56). O “grande globo” aparentemente aponta para o próprio teatro de Shakespeare, o Globo, ao sul do Rio Tâmisa, defronte a Londres, e também ao grande globo do universo. O momento do desfecho nessa peça é de aposentadoria de uma carreira, de afundar um livro de magia, de dizer um carinhoso adeus ao espírito Ariel, que criou os shows de Próspero para ele, de reconciliação com os inimigos, de renunciar à filha a um homem mais jovem, e de preparação para a morte. Como Próspero diz de sua frustrante aposentadoria, “Onde hei de pensar muito na morte” (5.1.315).
Henrique VIII e Os Dois Nobres Parentes são consequências, no sentido que elas parecem seguir o adeus oficial de Shakespeare e são o produto de um trabalho colaborativo. Em ampla medida, elas também são tocadas com o espírito da tragicomédia e libertação imprevisível maravilhosa, elas parecem apropriadas a uma carreira artística no ponto de conclusão. Henrique VIII conta uma história, como vimos no Capítulo 5, de poderosos assuntos de estado, os quais os participantes contribuem sem saber para um evento abençoado – o nascimento da futura Elizabeth I – que dá sentido, sob outras circunstâncias, a uma desconcertante confusão de acidentes históricos. Em Os Dois Nobres Cavalheiros, como em outros romances tardios de Shakespeare, deidades pagãs provêm uma resposta teatralmente sensacional às solicitações dos humanos sob o controle deles. No altar de Diana, Emília recebe a resposta de qual dos dois pretendentes ela deve casar-se. As reivindicações rivais de Marte (Arcite) e Vênus (Palamon) são reconciliadas no final tragicômico da peça.
Uma palavra a mais sobre A Tempestade. Por todas suas harmonias de reconciliação, essa peça permanece, a um nível pelo menos, a obra de um dramaturgo interessantemente humanista e mesmo cético. As forças que guiam essa peça até sua conclusão estão sob o controle do dramaturgo. Os deuses pagãos que descem no Ato 4, para abençoar as núpcias de Ferdinand e Miranda, são criações do dramaturgo, como eles o são em Péricles, Cimbelino e O Conto do Inverno. O fato deles serem pagãos é uma maneira de evitar, talvez, a blasfêmia de trazer o Deus Cristão ao palco; também sinaliza para nós que a presença supervisora em A Tempestade é o próprio Próspero, e, por detrás dele, Shakespeare. Isso não é negar que a Providência, no sentido religioso mais tradicional, necessita ser justificada. A peça reconhece à ajuda da Providência duas vezes. A primeira é quando Miranda pergunta como ela e seu pai chegaram à ilha; Próspero replica, “Pela Providência divina” (1.2.159-60). Ele então continua explicando o que quer dizer em termos humanos: um gentil Napolitano, Gonzalo, “Por caridade”, supriu o barco furado deles com alimentos, água fresca, ”Trajes ricos, roupa branca e o necessário”, não esquecendo-se dos preciosos livros de mágica de Próspero (61-9). A segunda é quando Ferdinand, perguntado pelo seu pai se Miranda é “a deusa” que separou os Italianos uns dos outros e então os uniu, responde, “Senhor, ela é mortal, / Mas pela Providência imortal ela é minha” (5.1.189-91). A Providência, assim, tem discutivelmente um papel no destino humano, apesar de em uma ampla distância e por meios indiretos. Sem alguns dos trabalhos cósmicos além do alcance de Próspero, o barco cheio de Italianos nunca teria vindo para a órbita do artista/mago isolado nessa ilha. Próspero reconhece essa circunstância quando diz à Miranda que “Por estranho acidente a boa Fortuna, / trouxe a esta praia / Meus inimigos” (1.2.179-81). Mesmo aqui, claro, Próspero identifica à força controladora como “Fortuna” em vez de Providência no sentido religioso aceito, assim nós somos deixados como uma incerteza em relação à natureza do grande invisível. De qualquer forma, na ilha, Próspero é realmente semelhante aos deuses, mesmo que ele seja mortal também. O mundo da arte dramática de Shakespeare é tal que o grande árbitro do comportamento humano e o grande presidente sobre o destino humano é o próprio dramaturgo.
Nas peças tardias de Shakespeare, então, o encerramento é, ao mesmo tempo, um dispositivo teatral, uma meditação sobre a aposentadoria, a aproximação da morte e um tipo de resposta filosófica aos terrores existenciais que assombraram às peças problemas e às tragédias dos anos 1600. A resposta não é uma “resposta” no sentido de corrigir uma impressão equivocada; dizer que um tipo de providencialismo toma o lugar do terror apocalíptico não é argumentar que a fé é restaurada no triunfo eventual da bondade. O gênero da tragicomédia requer que os perigos produzam um final feliz. O gênero é auto-evidentemente metateatral em seu amor por surpresas e improbabilidades. Os deuses das tragicomédias são as criações do dramaturgo como um artista-mago; eles fazem o papel dele, para que tudo esteja, finalmente, sob seu controle. A extensão a qual essas peças podem também encarnar um tipo de fantasia ou devaneio da parte de Shakespeare, repetidamente contando uma história de uma perda ou de uma família abandonada a qual os membros são, às vezes, restaurados ao protagonista e às vezes não, novamente sugere à extensão a qual essas peças são fábulas de ilusão dramática. Elas convidam a uma leitura cética no sentido que as suas profundas verdades não dependem da nossa aceitação, como uma verdade filosófica, que o destino humano esteja sobre o controle de Júpiter, Juno, Ceres, Íris, Diana, ou qualquer outra deidade. Shakespeare é o criador e a autoridade suprema de suas notáveis visões teatrais.