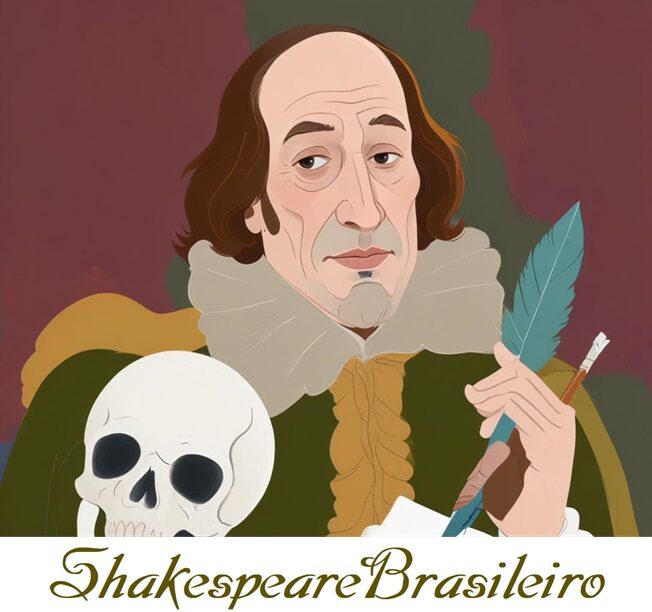Tradução do Terceiro Capítulo de: As Ideias de Shakespeare, Mais Coisas entre Céu e a Terra, David Bevington, 2008.
3
O Que é a Honra?
As Ideias de Shakespeare sobre Política e Teoria Política
Durante a década de 1590, conforme Shakespeare escrevia comédias românticas em um ritmo de quase uma por ano (dez ao todo, de A Comédia dos Erros, Os Dois Cavalheiros de Verona e Trabalhos de Amor Perdidos, em cerca de 1589-94, até Como Gostais e Noite de Reis por volta da virada do século), ele também devotou grandes energias para escrever peças de história Inglesa. Cerca de nove peças abrangem à década, das primeiras peças sobre Henrique VI, em três partes, e Ricardo III, Rei João e então uma sequência de quatro peças, de Ricardo II até as duas partes de Henrique IV e concluindo com Henrique V, em 1596-9. Ele também escreveu Titus Andronicus em algum momento por volta de 1590 e Romeu e Julieta no meio da década, mas mesmo essas aparentes exceções tendem à confirmar o padrão de dois gêneros predominantes, desde que Romeu e Julieta incorpora muitos dos ideais sobre sexualidade e gênero que exploramos no capítulo anterior, enquanto Titus Andronicus é uma peça histórica extravagante com um profundo interesse nas consequências trágicas do conflito civil.
Ao longo dos anos 1590, então, Shakespeare estava comprometido principalmente com dois gêneros predominantes. Por que esses dois gêneros em particular, e quais são as implicações para um estudo sobre o desenvolvimento do pensamento de Shakespeare? Uma resposta possível é que os dois gêneros agradavam-no de formas diferentes porém relacionadas de explorar os dilemas da existência humana de uma perspectiva relativamente juvenil e esperançosa. As comédias lidam com problemas e potenciais da sexualidade e do gênero. As peças de história Inglesa examinam o conflito político em uma tentativa de entender suas origens e modos de operação. Os insights a serem ganhos de um exame desse tipo são cheios de significações potenciais para o povo Inglês que somente aos poucos emergiu de um prolongado período de conflito civil e religioso no início da nação moderna. Esse discernimento também ilumina à carreira do mais bem-sucedido e carismático rei da Inglaterra, Henrique V. Conforme aborda questões de masculinidade nas peças de Henrique IV, o Príncipe Henrique, ou Hal, é um jovem encarando o desafio de suceder seu pai como rei. As consequências políticas e filosóficas desse rite de passage são aqueles que um jovem autor poderia muito bem querer resolver em seu próprio caminho para encontrar os assuntos filosóficos mais sombrios que irão confrontá-lo nos últimos anos. Como as comédias românticas, as peças de história Inglesa, especialmente aquelas da última metade dos anos 1590 são, em última análise, otimistas no retrato amplamente admirador de Shakespeare do rei herói Inglês, Henrique V. Contudo problemas e ambuiguidades são também manifestos.
Shakespeare aproxima-se como um dramaturgo da política, e a teoria política é essencialmente encorajadora para o jogo de ideias em uma série de debates históricos que são amplamente relevantes para sua própria cultura. Se ele toma partido nos debates é frequentemente incerto. O que está claro é que ele genuinamente tenta representar os assuntos competidores com justiça e extraordinária profundidade. Shakespeare não é um teórico político, mas suas aptidões analíticas são formidáveis, e assim também sua habilidade como dramaturgo em trazer assuntos vivos ao palco através de palavras e ações de personagens inesquecivelmente vívidos. O resultado é ao mesmo tempo instrutivo e divertido para suas audiências. As peças suportam valores os quais aquela própria geração de cidadãos Ingleses importava-se profundamente, e eles são valores que nos interessam hoje, apesar da passagem de aproximadamente quatrocentos anos.
Permita-nos tomar como exemplo central a representação do conflito político em Ricardo II (cerca de 1595-6) e 1 Henrique IV (1596-7), duas das mais excelentes das peças históricas de Shakespeare. O assunto é a guerra civil, em um momento do início do século quinze, quando a Inglaterra estava no limite de completar um século inteiro de guerra civil. Desde que aquela guerra acabaria somente com a ascensão ao trono de Henrique VII, em 1485, fundador da dinastia Tudor e avô da rainha que governava a Inglaterra durante os primeiros trinta e sete anos da vida de Shakespeare, o conflito era profundamente significativo para os súditos de Elizabeth. Eles geralmente o viam como um julgamento de fogo no qual a Inglaterra, como a lendária fênix, finalmente ergue-se em um renascimento místico de suas cinzas. Dolorosa como a guerra foi, ela levou à criação da nação Inglesa moderna.
O que levou ao conflito prolongado, e de quem foi a falha? Em Ricardo II, Shakespeare distribui à responsabilidade com notável equidade. Ricardo é um monarca fraco e irresponsável, mas ele é indubitavelmente o rei legítimo da Inglaterra, e ele realiza esse ofício com um carisma majestoso. Tendo herdado o trono de uma época anterior perigosa (historicamente, Ricardo tinha dez anos quando seu pai, Edward, o Príncipe Negro, morreu em batalha em 1376), Ricardo encontrou-se rodeado de tios poderosos e ambiciosos. O costume feudal da primogenitura, especificando que o filho mais velho deveria herdar na morte de seu pai, significava que Ricardo era agora Rei, em vez de um membro mais velho e experienciado de sua família. O resultado prático dessa ocasião foi que John de Gaunt, Duque de Lancaster, o tio mais velho de Ricardo, assumiu uma posição dominante nos assuntos de estado durante a menoridade de Ricardo, enquanto um tio mais jovem, Thomas de Woodstock, o Duque de Gloucester, foi uma constante fonte de irritação para o jovem rei. Historicamente, Woodstock liderou um esforço bem-sucedido em culpar e condenar cinco dos partidários de Ricardo (1385). Esse incidente não é reportado em Ricardo II, mas as consequências pairam pesadamente sobre a peça, pois quando Woodstock é morto em Calais enquanto em custódia de Thomas Mowbray, o Duque de Norfolk, Ricardo é amplamente suspeito de ter subornado Mowbray para liquidar um tio incômodo. Se Ricardo assim o fez ou não, seus oponentes políticos não têm dúvidas de sua culpa. Como a viúva de Woodstock diz a seu cunhando Gaunt, “Oh, que os erros de meu marido se acomodem na lança de Hereford / Que entre afiada no peito de Mowbray!” (1.2.47-8). “Hereford” é o filho de Gaunt, Henrique Bolingbroke, Duque de Hereford, que desafiou Mowbray (o Duque de Norfolk) para um duelo com a acusação de ter tramado a morte do Duque de Gloucester (1.1.100).
Com aquele desafio, o conflito político intensifica-se, pois Ricardo deve agora presidir sobre o duelo na qual Mowbray é manifestamente um bode expiatório para Ricardo ele mesmo. Não há sentimentos de admiração entre Ricardo e seu primo mais velho, Bolingbroke, o filho e herdeiro de John de Gaunt. Porém, Ricardo não ousa proceder muito abertamente contra Bolingbroke, pois Ricardo ele próprio está implicado na morte de Woodstock. A solução do jovem rei é de exilar ambos os antagonistas. Ele bane Mowbray para sempre, mas assente à pressão política ao sentenciar Bolingbroke a dez anos de banimento e então reduzir o número para seis (1.3.140-212). A decisão é apresentada na peça como legítima, pois é relutantemente acordada por John de Gaunt e outros membros do conselho do Rei (124), mas é claramente também uma matéria de interesse, senão de completo desespero da parte de Ricardo, e pressagia mais problemas.
As respostas dos vários membros da família real para o duelo abortado e os banimentos são curiosamente variados. A viúva de Woodstock, como vimos, quer sangue. A ética dela é a da vingança, tão antiga quanto as demandas das Erinyes ou Fúrias de Ésquilo (nas Eumenides) pela morte de qualquer pessoa culpada de um crime contra os laços de sangue familiar. Como a Duquesa de Gloucester insiste para seu cunhado,
Ah, Gaunt, o sangue dele era seu! Aquela cama, aquele útero,
Aquele metal, aquele próprio molde que te modelou,
Fez dele um homem; e apesar de tu viver e respirar,
Mesmo assim tu o destruiu.
(1.2.22-5)
Ela fala com o mesmo apelo ao código de vingança que o fantasma do pai de Hamlet emprega ao encorajar seu filho à vingança contra um “fétido e mais artificial assassinato” cometido pelo tio de Hamlet. O código é arcaico; ele sempre coloca um problema para a sociedade civil ao investir à autoridade da vingança não no estado mas na família do indivíduo assassinado, levando inevitavelmente a um ciclo de vingança e contra vingança. Ainda, o código de vingança tem sua própria lógica ética, e é uma que apela fortemente àqueles os quais os parentes foram ultrajados. O desejo de vingança e contra vingança torna-se uma força motriz da guerra civil no século quinze, uma força que Shakespeare vê em termos quase apocalípticos. Retornaremos a esse problema posteriormente nesse capítulo, quando olharmos para as primeiras peças históricas de Shakespeare sobre Henrique VI.
John de Gaunt repudia o chamado de sua cunhada por vingança pessoal. Ele é muito claro que a vingança deve proceder somente através da intervenção direta de Deus Todo-Poderoso, o grande juiz de todas as coisas:
É de Deus a questão, porque essa morte
foi causada por seu representante,
o mensageiro ungido em seu conspecto.
Se um crime cometeu, que Deus o puna,
porque eu jamais levantarei o braço
vingador para ir contra o seu ministro.
(1.2.37-41)
Isto é, o substituto de Deus, Ricardo, causando à morte de Woodstock, sofrerá punição divina se ele o fez injustamente. Gaunt não tem dúvida que Ricardo é responsável pela morte de Woodstock, mas Gaunt recusa-se a julgar à retidão ou incorreção daquela ação e recusa qualquer argumento que ele deve agir pessoalmente contra Ricardo.
Ao menos dois grandes locais-comuns políticos unem-se nesse discurso: o princípio do direito divino dos reis, e aquele da passiva obediência à autoridade real. O primeiro postula que um monarca adequadamente constituído é a cabeça, na terra, de uma hierarquia divinamente ordenada que deriva sua autoridade de ter sido criado por Deus à Sua própria imagem. A autoridade real, nessa visão, não é derivada de qualquer contrato social ou consenso do governado; ela é a mais pura representação que temos na Terra de uma retribuição dada a nós pelos céus. O segundo princípio de Gaunt depende do primeiro: desde que o monarca é investido de autoridade divina e sanção, seus súditos não podem removê-lo ou forçosamente puni-lo de qualquer forma. O rei é o ministro de Deus, e opor-se ao ministro com força é rebelar-se contra Deus ele mesmo. Deus saberá, em Seu próprio tempo, quando punir os malfeitores; duvidar disso é questionar à distribuição de Deus da justiça na história humana. Como Gaunt diz anteriormente na mesma cena:
Mas, como o castigo
se acha nas mãos que a falta cometeram,
que punir não podemos, à vontade
do céu entregue fica nossa causa.
Quando vir que é chegada a hora oportuna
sobre a terra, vinganças esbraseantes
ele fará chover nos criminosos
(1.2.4-8)
Não podemos esperar conhecer todas as intenções dos céus, e então não podemos saber quando os erros serão vingados pelos poderes divinos, mas duvidar que a vingança virá eventualmente é abraçar à heresia. Tomar um problema pelas próprias mãos equivale a cometer o mesmo sacrilégio; é uma manifestação de impaciência, orgulho e arrogância e só pode tornar as coisas piores.
Essa é uma filosofia política profundamente conservadora, se por “conservadora” queremos dizer uma filosofia designada à reforçar à estrutura de poder existente como sacrossanta e repudiar qualquer tentativa de mudança estrutural. Alguém pode argumentar, de fato, que as doutrinas do direito divino e da obediência passiva foram evoluindo pelas elites governantes através das eras, como um tipo de mitologia com o objetivo de preservar o status quo. Essa é uma interpretação a qual John de Gaunt discordaria. Mas e Shakespeare? As peças históricas dele convidam, ou pelo menos permitem essa visão cética e secular sobre a história? A resposta não é fácil de se atingir, mas podemos pelo menos começar pela observação que John de Gaunt não é o porta-voz de Shakespeare em Ricardo II. A filosofia política de Gaunt é apresentada lúcida e compreensivamente. Também arranja o debate com visões contrárias, principalmente com o raciocínio político (ou manobra, em qualquer caso) de seu próprio filho, Henrique Bolingbroke.
O lado compreensivo de John de Gaunt é encontrado, em primeiro lugar, em sua magnífica retórica, a qual Shakespeare, é claro, merece o crédito. O famoso discurso da “Ilha Real”, de Gaunt, em 2.1, descrevendo a Inglaterra em uma série de imagens vívidas como “esse assento de Marte”, um segundo Éden, uma “semiparaíso”, uma “fortaleza feita pela própria Natureza / Contra infecções e a mão da guerra”, uma “pedra preciosa colocada no mar prateado”, etc., e agora “comprometida com a vergonha, / Com máculas de tintas e unida a podres pergaminhos” (2.1.40-64), é merecidamente um dos grandes discursos para atores e plateias também. Ele caracteriza Gaunt como uma patriota genuíno, preocupando-se mais com seu país do que com sua própria vida. Mostra sua nobre integridade e compromisso com as mais altas tradições do serviço público. Não menos atraente é sua crença insistente que um conselheiro real como ele mesmo, apesar de proibida a opção de ameaçar o rei com força, está sob uma obrigação sagrada em oferecer severos e honestos conselhos ao trono, mesmo se às custas de seu próprio bem-estar político. Para Gaunt, o conselho honesto é concomitante com a doutrina da obediência passiva: ninguém pode opor-se ao rei através da força, mas como conselheiro, é necessário criticar onde a crítica se impõe. O fato que o Gaunt de Shakespeare possui consideravelmente mais integridade nesses aspectos que o Duque de Lancaster histórico, que se ocupou em manipular os sentimentos anticlericais para seus propósitos e provavelmente intentou à sucessão real, ressalta o modo o qual Shakespeare teve problemas ao representar Gaunt como alguém de princípios e decente. Shakespeare precisa de um defensor eloquente da filosofia política conservadora, para que a peça possa assim demonstrar como a história está se afastando das ideologias tradicionais do passado medieval da Inglaterra. O Gaunt de Shakespeare é um representante nobre da ordem antiga.
O filho de Gaunt, Henrique Bolingbroke, pertence a uma nova geração. Ele nunca teoriza. Nunca ouvimos ele defendendo ou atacando à ideia do direito divino dos reis. Ele é um pragmatista, respondendo ao presente imediato e nunca revelando suas intenções em planos de longo prazo. Seu primeiro movimento é o de questionar Mowbray sobre as acusações de traição envolvendo a morte de Thomas de Woodstock. Ele empreende isso como uma cruzada sagrada, apostando sua vida na honra da causa. Quando é banido juntamente com Mowbray, a resposta de Bolingbroke é aquela de um patriota o qual o país nativo significa tudo; “Por qualquer lugar que eu vagar, gabar-me disso eu posso: / Apesar de banido, ainda um Inglês de nascimento” (1.3.308-9). A plateia de Shakespeare pode bem considerar Bolingbroke certo até aqui. Historiadores modernos concordam que Mowbray foi culpado da morte de Woodstock. De fato, Shakespeare fala bem também de Mowbray, com uma generosidade pelos dois lados que lhe é característica. A última coisa que ouvimos de Mowbray é que ele escrupulosamente observou os termos de seu banimento e devotou suas energias ao lutar “Por Jesus Cristo em campos Cristãos gloriosos” antes de morrer em Veneza (4.1.94-9). Qualquer coisa que pensamos hoje sobre as Cruzadas, esse relatório dos anos finais de Mowbray retrata-o como um soldado corajoso e Cristão leal.
Bolingbroke também foi banido, de acordo com a sentença imposta, mas em breve aprendemos coisas sobre ele que nos convidam a perguntarmo-nos sobre seus objetivos não mencionados. Quando, na morte do velho Gaunt, o Rei Ricardo confisca o tesouro real “As pratarias, moedas, rendas, e móveis / Pertencentes ao nosso tio Gaunt.” (2.1.161-2), o fazendo sem nenhuma justificação legal, o filho de Gaunt e herdeiro fica compreensivelmente indignado. Também o tio de Bolingbroke, o irmão mais novo de Gaunt, o Duque de York, que insiste que Bolingbroke tem o direito, pela lei medieval e o costume, de adicionar ao seu atual título de Hereford, o ducado de Lancaster, mantido pelo seu pai. Bolingbroke, por sua parte, responde ao confisco de Ricardo do ducado de Lancaster, retornando para a Inglaterra para clamar sua herança. A ação é ilegal, pois ele foi banido, mas ele é suportado pelo Conde de Northumberland e outros nobres que se irritaram com a arrogância de Ricardo. Bolingbroke clama que retornou para a Inglaterra com nenhuma outra razão além de tomar posse de sua herança. Quando perguntado pelo seu tio York porque ousou violar os termos de seu banimento, e, mais seriamente, em retornar com poder militar contra o Rei Ricardo, Bolingbroke tem sua resposta, franca e simples: “Quando eu fui banido, fui banido Hereford; / Mas quando retorno, retorno por Lancaster” (2.3.113-14). Northumberland suporta essa alegação: Bolingbroke retornou à Inglaterra “Mas por si só” (148-9). Ainda que tenhamos boas razões para acreditar que Northumberland e seus aliados tenham suas próprias razões ao reforçar o retorno de Bolingbroke, e devemos nos perguntar, também, se Bolingbroke pode realmente acreditar que ele pode opor-se à coroa militarmente sem consequências significantes. York, por sua parte, está indiferente pela aparente simplicidade da defesa de Bolingbroke da sua ação. “Bem, bem”, diz York, “Eu vejo a questão dessas armas” (152).
O Duque de York é uma figura oscilante nesse conflito. Suas tendências políticas aparecem como aquelas de seu irmão Gaunt: uma firme crença no direito divino dos reis e nos deveres da obediência passiva imposta sobre os súditos do rei, juntamente com uma solene obrigação de oferecer conselhos francos à coroa. Gaunt emprega seus últimos suspiros tentando incutir algum senso em seu irresponsável sobrinho-rei. York confronta um desafio ainda mais severo quando Ricardo confisca o ducado de Lancaster do filho de Gaunt e herdeiro. York não pode permanecer quieto; ele precisa explicar a Ricardo por quê esse ato ilícito da parte do rei desfaz a própria base a qual a monarquia medieval ela mesma foi fundada:
Não morreu Gaunt? Não vive, ainda, Hereford?
Não era honesto Gaunt, assim como leal sempre foi Harry?
Herdeiro não merece ter aquele?
Não é um filho digno o seu herdeiro?
Espoliar Hereford de seus direitos
equivale a tomar do tempo as cartas
de privilégio e o seu direito usual.
Desse modo impedis que o dia de hoje
tenha por sucessor o de amanhã.
Por que sois rei, senão por descendência
legal e sucessão?
(2.1.191-9)
York é bom em ver as consequências mais amplas dos atos realizados por ambos, Ricardo e Bolingbroke. York argumenta logicamente e com base em uma teoria política coerente. Se a monarquia medieval é baseada na ideia essencial da integridade da propriedade e no direito de todos os detentores de propriedades de passarem suas posses para seus filhos primogênitos, e se a monarquia ela própria é entendida como sujeita às leis da hereditariedade, então o ataque de Ricardo aos direitos de propriedade de Gaunt devem ameaçar não somente Gaunt e Bolingbroke, mas outros iguais do reino também, e, na verdade, a própria instituição da monarquia. Similarmente, se o conceito de direito divino dos reis e da obediência passiva devem ser mantidos sagrados e invioláveis, qualquer uso da força militar contra o rei, para obrigá-lo a dar de volta o que ele tomou, não importando quão insensata essa retirada tenha se processado, equivale a um ataque à estrutura inteira da monarquia medieval. York, da forma que ele entende a lei Inglesa, está no direito em ambas as ocasiões. Ele está certo também ao entender que outras pessoas compartilham de sua profunda preocupação e não irão tolerar o que Ricardo fez, mesmo que a resistência deles necessariamente os coloquem em oposição aos conceitos divinamente sancionados de regras de ordem.
O que York pode fazer? Seu problema é que suas teorias de direito divino e obediência passiva funcionam bem para manter uma sociedade em ordem adequadamente, na maior parte das circunstâncias, mas são essencialmente indefesas contra os eventos extraordinários que estão ocorrendo agora. Nenhuma apelação mais elevada é possível em um reinado governado pelos princípios do direito divino; o Rei é o último juiz. Se ele quebra a lei, nenhum recurso adequado está disponível para seus discípulos para além da obediência passiva que Gaunt explanou tão claramente: os súditos devem esperar por Deus punir ou perdoar, pois Ele certamente o faz em seu tempo. Mas e se os súditos não querem esperar? Bolingbroke claramente não quer. Ele não tenta teorizar em resposta às ideias da obediência passiva; ele simplesmente age, justificando suas ações na maior especificidade possível de buscar de volta o ducado que lhe foi injustamente e ilegalmente retirado.
York entende e mesmo simpatiza com a posição de seu sobrinho. Ele também entende as consequências assustadoras da intervenção armada de Bolingbroke. A escolha de York em lidar com esse dilema é ditada, em grande parte, pela conveniência: ele faz o seu melhor para persuadir Bolingbroke à desistir, mas York também sabe que seu próprio poder militar, como governador deputado na Inglaterra durante a expedição de Ricardo para a Irlanda, em um momento errado, não é suficiente para oferecer resistência efetiva para Bolingbroke. York não tem escolha prática, mas somente a de ir juntamente com a nova ordem das coisas. A conveniência é frequentemente uma posição inglória de se tomar, e York parece, de fato, um pouco ridículo. Ele não é inconsistente ao proclamar a doutrina do direito divino e então colapsar no que ele sabe ser uma posição moralmente indefensável? Pode ser dito que York exemplifica um tipo de pragmatismo que pode ser capaz de salvar a Inglaterra até o próximo dia, pelo menos no curto prazo. A vida política da Inglaterra deve seguir em frente, e se uma mudança de regime é inevitável, que assim seja. O pragmatismo de York pode não ser internamente consistente em termos teóricos mas é, ao menos, viável.
As consequências que York temia de fato acontecem. Por mais que Bolingbroke insista que seu retorno à Inglaterra seria apenas para o propósito de recuperar seu ducado, ele deve com efeito tomar o Rei Ricardo como refém, se quiser atingir seu objetivo. O confronto dá-se no Castelo de Flint, onde Bolingbroke finalmente captura Ricardo e o cerca nessa fortaleza. Bolingbroke faz um grande show de submissão a Ricardo como seu rei, mas Bolingbroke entra nas negociações com uma demanda não negociável. Ele irá, com ambos seus joelhos, “beijar a mão do Rei Ricardo” e enviar “aliança e verdadeira fé de coração / A sua mais real pessoa”, abaixando suas armas e poder, “Desde que meu banimento seja repelido / e as terras restauradas novamente sejam livremente concedidas” (3.3.36-41). Aquela palavra “Desde” [Provided] fala alto. Se, e somente se, aquela condição se dar, Bolingbroke oferecerá sinais de lealdade. “Senão”, ele continua, “Usarei a vantagem do meu poder, / E depositarei no pó do verão os banhos de sangue / Chovidos dos ferimentos de Ingleses massacrados” (42-4). Bolingbroke insiste que isso é a última coisa que ele desejaria que acontecesse, mas se Ricardo não o der alternativa, então a destruição militar se seguirá.
Ricardo é tão presciente quanto Bolingbroke é obstinadamente relutante em encarar as questões mais amplas. Ricardo sabe que assentir aos termos de Bolingbroke é uma rendição, não importando o quanto pode estar disfarçado pela farsa política de Bolingbroke ao ajoelhar-se em um gesto de submissão. O que é um rei quando ele deve obedecer a um súdito? Toda a teoria da monarquia colapsa sob o peso da absurda autocontradição. Quando Ricardo é então publicamente acusado e “indagado” à resignar por sua “própria boa vontade” (4.1.178), o que é isso senão outra charada? Ricardo interpreta seu próprio papel nesse julgamento como ambos: protagonista e vítima da zombaria da justiça; ele sabe que não tem escolha a não resignar como rei, mas ele não o fará sem mostrar a todos que coisa desprezível é isso. Ele inventa uma cerimônia de um rei despojando-se de sua coroa sagrada e do cetro, de uma forma que dramatiza à natureza blasfema do evento. Ele profetiza sua própria morte, sabendo que Bolingbroke deve saber mas não pode admitir, que um rei deposto será um ponto de reunião da oposição ao novo regime e que sua eliminação tornar-se uma necessidade política.
Rei Henrique, como é agora conhecido, contorce-se com a perspectiva de um assassinato político. Sua solução é dizer alto, para que os outros ouçam, “Eu não tenho amigo que me livrará desse medo vivo?” (5.4.2). Então, quando um certo Sir Pierce de Exton age na deixa e despacha o miserável Ricardo para o Castelo de Pomfret, Rei Henrique responde com protestos devotos. “Quem recorre ao veneno, só proveito dele entende tirar, / Não te amo”, ele diz a Exton. “Muito embora eu a morte de Ricardo almejasse, ora abomino, quanto lhe tenho amor, seu assassino.” (5.6.38-40). O novo rei bane Exton, de forma parecida que Bolingbroke e Mowbray foram anteriormente banidos por Ricardo. O rei Henrique espera que “A culpa da consciência” (41) pode ser expiada em Exton. Mesmo quando o Rei compara Exton a Caim, o primeiro assassino da história humana (Gênesis 4:1-16), a culpa daquele crime claramente retorna a Henrique ele próprio, como assassino de seu primo real.
A tentativa do rei Henrique do que chamaríamos hoje de “negação”, isto é, tentar arranjar as coisas para que subordinados sejam culpados pelos crimes de alguém, nos chega como covardice e desonestidade. Por outro lado, Ricardo parece cada vez melhor aos nossos olhos conforme sua sorte declina. Não importando quão nesciamente e injustamente ele tenha se comportado como rei, suas tentativas de auto compreensão amável e honesta emergem em seu pesadelo de aprisionamento. Confinado dentro das “paredes esfarrapadas da prisão”, sozinho e sem amigos, Ricardo tenta lidar com suas próprias falhas e com os ensinamentos do Evangelho Cristão. Ricardo começa a entender o que Jesus quis dizer quando disse: “Venham, pequenos” para as crianças que foram levadas a ele, e quando ele diz que é tão difícil para um homem rico entrar no reino dos céus “quanto para um camelo / Passar através de um buraco de agulha” (5.5.14-17; confira Matheus 19: 14 e 24). Ao ponderar essas lições dos Evangelhos, Ricardo luta para ser uma pessoa melhor e sentir algum remorso pelos modos os quais os privilégios do reinado tornaram-no esquecido em relação aos sofrimentos de seus súditos. Vemos aqui uma insinuação da loucura de Rei Lear porém uma relevante confissão que ele “tomou / Muito pouco cuidado” com aqueles que, em suas “excêntricas e abertas imperfeições”, não podem defender-se por si sós das tempestades da fortuna (Rei Lear, 3.4.28-33). A própria morte de Ricardo é para ele um momento de profundo paradoxo no qual as recompensas do poder e da riqueza na terra afundam em insignificância: “Monte, monte, minha alma! Teu assento é lá acima, / Embora minha carne nojenta afunde para baixo, para aqui morrer” (111-12).
Assim a competição de poder entre Ricardo e seu sucessor mantém-se em balanço delicado e antitético na peça. Ricardo é insensato porém inefavelmente real, enquanto Bolingbroke é sagaz porém sem princípios. Ricardo encarna um ideal bonito porém não prático de monarquia medieval; Bolingbroke, como Henrique IV, é um pragmatista que nunca realmente é bem-sucedido em coletar para si a aura e o mistério da monarquia. Como veremos brevemente, sua filosofia política significantemente antecipa aquela de Nicolau Maquiavel. Ele é um rei de fato; a legitimidade escapa dele, pois ele conquistou o poder por vias irregulares. Mesmo os variados nomes e títulos os quais ele é conhecido no curso da peça – Bolingbroke, Hereford, Lancaster, Rei Henrique – testemunham um sentido no qual sua identidade política está em um constante fluxo. Aos seus defensores no final, ele é rei Henrique, enquanto para seus oponentes ele continua a ser Hereford (4.1.135), pois na visão deles os seus outros títulos foram tomados pelos processos da lei. Quem pode dizer o que é ser rei? Ainda a história deve seguir em frente, e Bolingbroke é o homem da hora. Shakespeare recusa-se a dar um julgamento final, mesmo que ele apele livremente para nossas simpatias conforme a histórias se desdobre. Seu trabalho como dramaturgo é o de apresentar lados opostos com simpatia e profundidade, convidando sua plateia a iluminar-se e entreter-se com o choque de ideologias.
1 Henrique IV procede paralelamente um curso similar. O Rei Henrique continua infectado pelas consequências de seu confisco irregular do poder. Na cena de abertura da peça, ele está “abalado” e “débil em cuidados” (1.1.1), ansiando por uma cessação das hostilidades que o atormentam no norte e no oeste; os Escoceses e os Galeses, sentindo a fraqueza da Inglaterra em um tempo de crise política e troca de regime, estão atacando em duas frentes. Mais sério é o problema que em breve surge entre os clãs Henry e Percy. Henry Percy, o Conde de Northumberland, e seu filho Harry Percy, conhecido como Hotspur, estão defendendo-se dos Escoceses ao norte com considerável sucesso. Edmund Mortimer, o irmão da esposa de Hotspur, está batalhando no oeste, apesar de um relatório, que chega à corte Inglesa, dizer que ele acabou de ser capturado pelo Galês Glendower (38-40). Northumberland foi líder entre os lordes que ajudaram Henrique Bolingbroke a depor Ricardo. Seu filho, Hotspur, foi bem-sucedido na batalha de Holmedon (historicamente Homildon Hill, 1402) e fez alguns importantes prisioneiros. O problema é que Hotspur, incitado pelo seu tio, o Conde de Worcester, recusa-se a entregar os prisioneiros ao rei, com exceção de Mordake, Conde de Fife, o qual a linhagem real significa que Hotspur não pode clamar por ele de acordo com a lei das armas; os outros “Para seu próprio uso os mantém” (92-4), querendo dizer que ele coletará o dinheiro do resgate sozinho. Alguém pode supor que essa dificuldade pode ser resolvida por homens que se mantiveram juntos contra Ricardo, mas a boa vontade que eles compartilharam uma vez parece ter sido dissipada. Hotspur agora insiste que o Rei resgate seu cunhado, Mortimer, de seu cativeiro Galês. Novamente, isso soa razoável o bastante para si mesmo, mas em breve aprendemos que o Rei Henrique considera Mortimer como alguém que “traiu / As vidas daqueles que ele levou à lutar / Contra aquele grande mago, amaldiçoado Glendower”. Como evidência da deserção de Mortimer, os relatórios do Rei ouviram que Mortimer casou-se com a filha de Glendower (1.3.80-5).
O fato que o Rei chama Mortimer de o “Conde de March” (1.3.84) é significante. Historicamente isso representa uma união de dois Mortimers, um o cunhado de Hotspur que de fato casou-se com a filha de Glendower, o outro o sobrinho desse homem que era o quinto Conde de March. A justaposição de Shakespeare dos dois, com ou sem intenção, tem o efeito de produzir nesse indivíduo uma séria ameaça ao trono ocupado por Henrique IV. Não tendo filho, Ricardo II nomeou um segundo primo seu, Roger Mortimer, o quarto Conde de March, como seu herdeiro. Quando aquele cavalheiro morreu, o quinto Conde tornou-se o presumível herdeiro da coroa Inglesa, de acordo com essa linha de sucessão ricardiana. Ele pode clamar descendência direta de Eduardo III através de Philippa, esposa do terceiro Conde de March, pois Philippa era filha de Lionel Duque de Clarence, o mais velho filho de Eduardo III, uma vez que Eduardo, o Príncipe Negro, e outro filho chamado WIlliam morreram. Lionel era o primogênito de John de Gaunt, o pai de Henrique IV. Isso é presumivelmente o motivo de Ricardo ter proclamado Roger Mortimer herdeiro; se alguém conceder que sua reivindicação pode traçar sua validade através de uma mulher na pessoa de Philippa, ele foi descendente de Eduardo III por uma linha genealógica com precedência sobre àquela a qual Henrique IV e seu pai pertencem.
Não surpreende, então, que o Rei Henrique deva estar relutante em resgatar tal homem, especialmente um (no relato justaposto de Shakespeare) que casou-se com a filha do próprio chefe dos Galeses, que ele supostamente deveria estar lutando. Não surpreende, também, que Hotspur deva reagir à intransigência do Rei com desdenhosa provocação. “Mas, brando, eu lhe rogo, o Rei Ricardo / Proclamou meu irmão Edmund Mortimer / Herdeiro à coroa?” ele pergunta excitadamente, acabando de saber de seu pai e seu tio Worcester sobre a nomeação de Ricardo de Mortimer como “o próximo de sangue” (1.3.145-57). Talvez nos perguntemos sobre a inocência de Hotspur em aprender agora, pela primeira vez, esse importante fato sobre seu cunhado, mas isso acontece com o caráter de um homem que é tão motivado pelo idealismo cavalheiresco. Em um instante, Hotspur vê o porquê de ele ser tão desconfiado dos motivos do Rei: é claro, seu Rei autocentrado está recusando ter qualquer relação com o homem que ele injustamente excluiu do trono Inglês! “Não, então eu não posso culpar seu primo rei, / Que desejou-o nas montanhas áridas morrendo de fome”, Hotspur exulta (158-9). A palavra “primo” [cousin] faz trocadilho artificioso com “cozen”, “trapaça”. Como pode o pai e o tio de Hotspur, ele se pergunta, sendo homens de honra e nobreza, comprometerem-se “Em derrubar Ricardo, aquela rosa amavelmente doce, / E plantar esse espinho, esse câncer, Bolingbroke?” (173-6). Hotspur altera entre ser um bravo e irritadiço guerreiro contra os Escoceses, representando Henrique, para ser um verdadeiro fiel, não somente na retidão da reivindicação de Mortimer ao trono, mas também na veneração do próprio reinado de Ricardo II. Para Hotspur, o Rei Henrique é agora não mais do que um usurpador. E o que é pior, desonrado.
Hotspur é um personagem enormemente atrativo por causa de sua franqueza, sua bravura e seu idealismo. Ainda, nós somos convidados para vê-lo como jovem, inocente e facilmente iludido. Seu pai e tio parecem prontos para explorar essa inocência dele. Por que eles são tão desconfiados agora do Rei Henrique, e este deles? O que aconteceu ao espírito de cooperação entre eles que levou à instalação de Henrique como rei? Uma resposta, aparentemente, é que Henrique não tornou-se o tipo de rei que seus aliados anteriores esperavam. O clã dos Percy apoiou à insurgência de Henrique Bolingbroke porque eles estavam irritados com as políticas de taxações irresponsáveis do Rei Ricardo que ameaçavam o bem-estar deles e a independência como barões medievais. Henrique, eles esperavam, seria mais tratável e os deixaria em paz em seus burgos independentes ao norte assim como da corte Inglesa. Agora que ele é rei, entretanto, Henrique parece ter uma ideia muito diferente do que seria o melhor para a Inglaterra e para si mesmo como monarca. Henrique deseja centralizar o poder no trono Inglês. Essa é a maneira de Shakespeare, talvez, de dramatizar o que os historiadores descrevem como um conflito entre uma declinante ordem medieval e feudal e o que tornar-se-á um estado mais centralizado no início da era moderna. Esta era ainda está a alguns anos à frente, mas os instintos políticos de Henrique, como Shakespeare os retrata, são aqueles dos monarcas Tudor sobre os quais Shakespeare e seus compatriotas viveram no século dezesseis. Henrique é um homem da nova ordem. Os Percy, e especialmente Hotspur, encarnam os valores que associamos com os costumes medievais.
Shakespeare dramatiza o processo de mudança histórica com múltiplas simpatias. Ele permite que se diga muito de ambos os lados. Nós podemos ver porque o Rei Henrique deseja disciplinar Hotspur no caso do resgate dos prisioneiros: Henrique gosta e admira o espírito do jovem homem mas deseja tornar claramente entendido quem está no comando. Hotspur não terá nada disso, voltando-se com repugnância pessoal contra o rei a quem ele agora rejeita como “esse vil político, Bolingbroke” (1.3.240). Ele interpreta a antiga gentileza do Rei aos Percy como um tipo de hipocrisia esperada de “políticos” – querendo dizer daqueles que são conspiradores, trapaceiros e patifes. Ele ansiosamente aceita à responsabilidade da liderança colocada sobre ele pelo seu sagaz tio e pai, que o adulam em torno de um ponto de vista rebelde porque eles precisam de sua liderança carismática na guerra civil que eles estão perto de iniciar. A ironia é que Hotspur não pode ver à extensão a qual seu tio e pai são tão astuciosos em manobras políticas assim como é o Rei.
A justiça de Shakespeare em relação aos dois lados nos convida para ver ironias adicionais. Esses homens têm interesses comuns e preocupações políticas, e ainda assim a tendência no sentido do conflito civil parece inevitável. Os Percy sabem que os riscos da guerra são pesados, porém eles também sentem que, ao menos que imponham resistência, o futuro deles é inseguro por causa da animosidade clara do Rei; ele já baniu Worcester da corte. Como Worcester disse depois, depois da derrota dos Percy em Shrewbury, “O que eu fiz foi minha segurança que motivou” (5.5.11). Foi conveniente aos Percy “salvar nossas cabeças ao levantar uma cabeça” (1.3.282), isto é, ao levantar o estandarte da rebelião. O Rei, por sua parte, teme que se conceder a esses poderosos barões, eles tenderão crescentemente para fora de seu controle.
A guerra é uma consequência inevitável, e é uma guerra na qual as ironias de uma esperança de paz perdida tornam-se mais e mais insistentes. Mais dolorosa de todas, talvez, é a decisão de Worcester em não informar seu sobrinho Hotspur da “liberal e gentil oferta do Rei” (5.2.2), nas negociações antes das batalhas, em desculpar os rebeldes e reconciliar-se com eles (5.1.103-8). Quando Worcester e Sir Richard Vernon retornam ao campo rebelde dessas negociações, Worcester explica a Vernon seu medo que o Rei não mantenha a palavra; ele pode de fato perdoar Hotspur, porém ele irá suspeitar ainda dos barões, mantendo-os fora dos conselhos do poder. Sem dúvida Worcester está certo, mas sua insistência que eles não informem Hotspur das ofertas do Rei, como Vernon preferiria fazer, significa que Hotspur vai à guerra com uma mentira de seu próprio tio. Hotspur morre pelo que pensa ser uma causa valente e honrada, sem saber da rivalidade política e dos compromissos com a verdade que ocorreram dos dois lados.
Em seu retrato do relacionamento do Rei com seu filho, o Príncipe Henry (ou Hal), e ainda mais importante, do relacionamento de Hal com Falstaff, Shakespeare manifesta a mesma imparcialidade que o capacita a realçar os assuntos políticos e indagar questões difíceis sem propor respostas dogmáticas. O relacionamento de Hal com Falstaff é saudável e deve continuar? Hal deve considerar mais a chamada para o dever como o filho e herdeiro do Rei, ou ele está aprendendo algo inestimável sobre si mesmo e sobre seus futuros súditos ao socializar com Falstaff e suas vulgares companhias? O príncipe percebe o que está fazendo, ou ele está abrindo mão das responsabilidades da vida adulta ao fingir que uma desocupada vadiagem pode ser chamada de recreação vantajosa? Ele quer crescer? Diretores, atores e críticos têm optado por quase todas as possibilidades imagináveis. Hal foi variadamente apresentado com playboy, alcoólatra, um jovem com uma profunda dependência emocional por Falstaff, um pensativo político jovem que sabe exatamente para onde está indo, e como um sarcástico observador da natureza humana que desde o início julga Falstaff. Falstaff, por outro lado, pode ser visto como um divertido e amável velhaco, um alcoólatra irresponsável com um severo problema de peso, um ladrão das estradas, um defensor calculador e ambicioso do Lord Chefe de Justiça, e um cínico que adota um estilo extravagante para adular o futuro rei da Inglaterra. O Rei Henrique pode ser interpretado como um monarca ansioso amaldiçoado por dificuldades políticas e militares, um pai menosprezado, um estudante de Maquiavel o qual cada gesto tem intenção política e um pai autoritário que falha completamente em compreender seu filho. A transparência do texto de Shakespeare é tal que qualquer uma dessas interpretações pode funcionar.
A competição de pontos de vistas entre várias interpretações emerge na primeira cena de Hal com Falstaff. Por toda a vivacidade de suas conversas, eles discutem um tópico significativo. “Haverão forcas na Inglaterra quando tu fores Rei?” Falstaff pergunta ao Príncipe, “E a resolução assim roubada como o enferrujado cabresto do velho pai Grotesco, a lei?” (1.2.57-9). Hal defende-se da questão com um trocadilho, mas o assunto é muito sério. Quando Hal ascender ao trono, manterá Falstaff ao seu lado, e a justiça será pervertida pela motivação pessoal? Falstaff é capaz de “emendas” (100)? A decisão de Hal nessa mesma cena, de ir para uma expedição para roubar com Falstaff e seus comparsas, dificilmente nos dá uma razão para esperar que a lei e a ordem prevalecerão em seu reinado. Ainda que Shakespeare tente bravamente terminar a cena com um solilóquio do Príncipe, que nos assegura e talvez a si mesmo que ele eventualmente “imitará o sol” ao “cortar através das falhas e feias névoas / De vapores que parecem estrangulá-lo” (191-7). Ao associar a si mesmo com a imagem convencional de um futuro rei como sol e também (nesse caso), filho de seu pai, Hal menospreza Falstaff e seu bando como “falha e feia névoa”. Essas companhias são úteis a ele, alega, somente para prover contraste com sua grandeza quando ele emergir como rei da Inglaterra. “Minha reforma, brilhando sobre minha falta”, ele diz, “Deve mostrar mais bens e atrair mais olhos / Que aquela que não tem lâminas para distingui-la”, como uma joia colocada em frente a uma “lâmina” de metal para aumentar sua beleza (206-9). O solilóquio assim parece caracterizar o Príncipe como totalmente cônscio de como ele pode usar Falstaff e o resto do bando para propósitos políticos ulteriores. Ainda, para que nós não o julguemos como um manipulador cínico e sem coração, precisamos reconhecer que esse solilóquio pode ser lido de várias maneiras, do cálculo autocentrado a um ato de bravura apesar dos próprios medos. Hal parece estar aproveitando da companhia de Falstaff imensamente; o jogo de argúcia é intensamente divertido, presumivelmente para ele como para nós. Precisamos também considerar que Shakespeare pode ter seus próprios propósitos como dramaturgo ao terminar a cena com esse solilóquio: de reafirmar a nós como plateia que Hal não é irremediável.
Na grande cena da taverna em 2.4, Falstaff está no seu melhor como uma companhia interessante. Sua narrativa comicamente ultrajante do assalto na Colina de Gad primorosamente transforma dois trapaceiros vestidos com entretelas em onze oponentes, que ele clama ter assassinado todos sozinho. Hal e Poins exaltam-se ao pegarem Falstaff mentido. Mas quem está enganando quem? Se, como parece mais provável, Falstaff imaginou como Hal e Poins deixaram o grupo de ladrões um pouco antes do assalto se dar, e depois voltaram-se aos ladrões para levar o espólio destes, a mentira de Falstaff é sua maneira de elevar-se como o alvo cômico da piada de descoberta de Hal. Essa interpretação o torna não simplesmente um extravagante mentiroso mas alguém que deseja tornar-se estimado pelo Príncipe ao ser engraçado. Quando os dois tomam parte em interpretar o Rei Henrique e o Príncipe em antecipação do encontro de Hal com seu pai na próxima manhã, Falstaff novamente oferece a si mesmo como um tema rude da conversa deles: ele é, na linguagem afetuosamente insultante de Hal, “aquele tronco de humores, o receptáculo da bestialidade, aquela inchada parte de um edema, aquele grande bombardeiro de saco”, e ainda mais (2.4.444-6). A charada que eles estão improvisando rapidamente toma um caminho mais sombrio quando Falstaff usa o momento para fazer um sumário do caso de o Príncipe manter a companhia amável de Falstaff: “Se saco e açúcar são faltas, Deus ajude os perversos! Se ser velho e feliz é um pecado, então muitos anfitriões velhos que conheço estão danados!” O Príncipe, ao ser pedido diretamente para que “não o bana da companhia de Harry,” reconhece que ele deve: “Eu o faço, eu o farei” (465-76). Se o diz com melancolia ou debochando, ou abruptamente, depende do ator. O debate continua sobre o que fazer com Falstaff, mas o assunto está claro.
Na batalha de Shrewsbury Falstaff é, ao mesmo tempo, supremamente irresponsável e um crítico incisivo da insensibilidade da guerra. Por outro lado, ele corrompe o processo de recrutamento para seus próprios fins, envia seus homens pobremente equipados para a morte com jovial despreocupação, dá ao Príncipe Henrique uma garrafa de vinho quando o Príncipe pede uma espada, finge-se de morto para evitar ser morto pelo Escocês Douglas, e clama crédito por ter assassinado Hotspur, esfaqueando o corpo na virilha e então jurando ao Príncipe, “Vou levar comigo até minha morte que eu fiz esse ferimento na coxa” (5.4.148-9). Isso é covardice, mesmo se for divertido. Dadas as exigências da batalha, as piadas são inapropriadas. Por outro lado, o catecismo de Falstaff sobre a honra, perguntando se a honra pode retirar a “mágoa” ou dor de um ferimento, e concluindo sarcasticamente que a honra deve ser o “ar” ou a reputação que provê nenhum conforto aos mortos e não ficará com os vivos pois a “difamação” ou a calúnia não permitirão (5.1.127-40), é o mais fino comentário da peça sobre a absurdidade da batalha na qual tantas mortes ocorrem em torno dos desentendimentos e enganos de homens orgulhosos. A própria preferência de Falstaff pela vida em vez da morte parece, da sua forma, admirável. Alguém tem muito mais opções quando está vivo do que quando está morto. “A melhor parte do valor é a discrição”, ele triunfantemente conclui, “na qual a melhor parte é que salvei minha vida” (5.3.119-21).
Shakespeare nos convida a considerar se algumas guerras podem ser evitadas através de um melhor entendimento, especialmente quando os competidores são todos do mesmo país. Ele descreve a honra e o cavalheirismo, exemplificados em Hotspur, como inspiracionais, e ainda interroga o que a “honra” frequentemente pode significar. Ele entende a necessidade de um príncipe por companhia e diversões, e ainda parece sensível também à forma a qual a educação de um futuro rei necessariamente o coloca a parte dos seus amigos mortais. Ele considera o fenômeno da rebelião política com grande prudência: entende seus motivos e complexidades, enquanto, ao mesmo tempo, nunca minimiza a ameaça à ordem pública. O Príncipe Henrique considera isso quando, referindo-se a seu oposto em batalha, Harry Percy, como “Um muito valente rebelde do nome” (5.4.62). “Eu sou o Príncipe de Gales”, insiste. Dois jovens homens chamados Henrique [Henry] ou Harry devem batalhar para determinar o futuro político da Inglaterra. O Príncipe Henrique reafirma à legitimidade como sua melhor demanda própria contra à rebelião. Shakespeare não nos deixa esquecer a ironia sólida, que Hal é ele próprio o filho de um antigo rebelde e regicida. De qualquer forma, Hal é o ganhador, e nesse respeito ele é, e muito, filho de seu pai. O futuro não pertence a Hotspur, mas a Hal.
A percepção que Hal é filho de um rebelde nunca deixa-o. Nas vésperas do que será a maior vitória sobre a França, em Agincourt, ele implora a Deus para que esqueça àquela circunstância sobre a qual esse jovem rei não tem controle: “Não hoje, Ó Deus, / Ó, não hoje, não pense na falta / Que meu pai cometeu ao apossar-se da coroa!” (Henrique V, 4.1.290-2). Pode o tempo e a sucessão das gerações apagar essa culpa? O novo Rei Henrique V reenterrou o corpo do Rei Ricardo com muitas lágrimas de remorso, e construiu dois altares “onde os triste e solenes padres / Cantam ainda para a alma de Ricardo” (293-300). Ele mostrou-se ser filho leal da igreja, buscando apoio eclesiástico para sua guerra contra a França. Posterior a sua grande vitória ele promulga uma proclamação por toda a tropa que a morte será distribuída a qualquer soldado tão insolente “Em gabar-se disso ou tomar aquele louvor a Deus / Que é Dele apenas” (4.8.114-16). Ele ordena que “todos os ritos sagrados” sejam realizados e que “Non nobis” e “Te Deum” sejam cantados, o primeiro deles (um verso do Salmo 115) ressaltando o ponto do Rei Henrique que Deus somente é a vitória: “Não a nós, Ó Deus, não a nós, mas a teu nome dar glória.” O Coro exalta a piedade de um rei que, quando perguntado se o seu elmo e sua espada seriam carregados em sua frente na entrada triunfante em Londres diz, “proíba isso, / Sendo livre de futilidades e orgulho auto glorioso” (5.0.19-20). Esse rei é apresentado, então, não apenas como temente a Deus, mas como um firme fiel de uma visão providencial da história. Ele vê sua vitória como uma confirmação que Deus de fato perdoou o ato de regicídio de seu pai.
Isso, ao menos, é a auto apresentação do Rei Henrique. Ele certamente fará uso da piedade como uma parte essencial da sua imagem como um rei Cristão. Na abertura de Henrique V (1599) ele habilmente orquestra suporte para impedir à guerra. Com o uso de uma lei proposta no Parlamento que prevê à retirada de muitas das terras da igreja, ele incita seus bispos à oferecerem como contraoferta “uma maior soma / Do que as dadas até hoje pelas ordens / religiosas a seus antecessores.” (1.1.80-2). Ele recebe um reforço vociferante de seus nobres antes de chamar o embaixador Francês. A justificação para a guerra, como recitada pelo Arcebispo de Canterbury, parece uma intrincada peça de tolice (frequentemente hilária em performance) sobre a lei Sálica e se esta aplica-se à França, porém a intenção de Henrique em ter o assunto expressado publicamente é clara o bastante. “Posso eu com direito e consciência fazer essa reivindicação?” ele pergunta ao Arcebispo, e recebe exatamente a resposta que espera: “O pecado acima de minha cabeça, teme a soberania!” (1.2.96-7). A igreja assumiu responsabilidade, como Henrique desejava; a guerra é proclamada uma guerra justa.
O jovem Rei Henrique aprendeu muito com seu pai, apesar da prudência de um em relação ao outro. O filho mostrou, ao salvar a vida de seu pai na batalha de Shrewsbury (1 Henrique IV, 5.4.39-57), que ele importa-se profundamente com seu pai, e lamenta amargamente que o velho rei pareça suspeitar que Hal queira seu predecessor morto e fora do caminho. Quando pai e filho têm a última e chorosa reconciliação no momento em que Henrique IV está morrendo, o velho homem tem uma última peça crucial de conselho para oferecer a seu sucessor: “ocupe as mentes frívolas / Com conflitos externos” (2 Henrique IV, 4.5.212-13). Em outras palavras, encontre um inimigo estrangeiro para atacar, como o caminho mais certo de unir as pessoas Inglesas por detrás de seu líder. Henrique IV ele próprio desejou conduzir uma cruzada para a Terra Santa com esse mesmo propósito no início de 1 Henrique IV, para que ele e seus súditos pudessem “Marchar por todo o caminho e não ser oposto / Contra conhecidos, parentes, e aliados” (1.1.15-16), mas foi impedido de assim o fazer por causa das exigências das invasões Escocesas e Galesas. Seu conselho eterno a seu filho é Maquiavélico, no sentido mais verdadeiro no qual propõe a buscar a guerra, menos por razões inerentes do que como meio de solidificar suporte político em casa. A guerra deve ser um instrumento da política real. Se Shakespeare realmente leu Nicolau Maquiavel para estudar suas lições de pragmatismo político não podemos ter certeza, pois os escritos daquele odiado estadista foram banidos da Inglaterra como declarações de um ateísta e relativista moral, mas Shakespeare deve ter tido alguma consciência do que aqueles escritos continham. Henrique IV e especialmente seu filho Henrique V representam um novo tipo de pragmatismo brutal e preocupam-se com a construção da imagem como um meio de consolidar o poder que é associado ao nome de Maquiavelismo. Nada inflama mais efetivamente as emoções patrióticas do que uma guerra contra um inimigo estrangeiro, e, no caso da Inglaterra, sobretudo a França. O jovem Rei Henrique V vai para a guerra principalmente por essa razão? Esse motivo acentua sua rivalidade pessoal com o Delfim Francês? Ele nunca o diz, e o Coro provê um incessante ritmo de tambor de entusiasmo pela guerra, mas Shakespeare permite que nós vejamos por detrás das cenas da forma mais impressionante.
Se Shakespeare aprova ou desaprova a beligerância pragmática de Henrique V contra a França (e, por extensão, se ele aprova ou desaprova o que entende ser os princípios da governança Maquiavélica) não é realmente o ponto. Interpretações positivas e negativas de Henrique V tem sido fortemente aventadas em produções e análises críticas. Liberais como George Bernard Shaw e William Hazlitt geralmente deploram o belicismo de Henrique. O Coro da peça, por outro lado, é um despudorado reforço, mesmo se aceitemos que o Coro não necessita ser identificado inteiramente com a visão do autor sobre o tema. Sem dúvida Henrique V foi considerada por muitos Ingleses do tempo de Shakespeare como um rei modelo, provavelmente mais do que qualquer outro rei da história Inglesa, mas mesmo essa grande evidência faz pouco para estabelecer a posição de Shakespeare como a favor ou contra a visão consensual. Suas peças históricas foram muito populares em seu próprio tempo, e Henrique V, especialmente, tem sido usada nos anos recentes para acentuar o patriotismo nacional durante períodos de crises militares, notavelmente na versão do filme de Laurence Olivier, de 1944, criado em parte pelo governo Inglês para reforçar a moral durante a Segunda Guerra Mundial. Ainda a mesma peça foi filmada, de forma mais desiludida, por Kenneth Branagh, em 1989, sob o peso da irritação pública em relação à Guerra do Vietnã e a intervenção nas Falklands, em 1982.
O que podemos talvez dizer é que Shakespeare está fascinado pela complexidade do processo político. Ele vê o que a manipulação da opinião pública pode fazer por um governante. Ele estuda as artes do governo e da liderança militar em todos seus detalhes pragmáticos. Sem dúvida encontramos nessas peças uma considerável admiração pela habilidade de Henrique V de conseguir o que ele deseja. A história está do lado de Henrique, mesmo se alguém considerar isso como uma coisa boa ou má. Henrique é um rei bem-sucedido, não importando o que alguém pense sobre reinado e sucesso. Concomitantemente, a visão da história que emerge dessas peças é que a qualidade da liderança pessoal importa crucialmente. Nascer com o poder real não basta, como Ricardo II abundantemente ilustra com sua falha. Ser flexível e inteligente, por outro lado, pode possibilitar algumas pessoas a superarem obstáculos formidáveis, como ser o filho de um rei rebelde os quais os inimigos são agora inimigos do filho e cujas culpas podem agora recair sobre o filho. A história tem seus altos e baixos. Muito depende do homem da hora. Em nenhum lugar esse ponto está mais claramente ilustrado do que no fato de Henrique V ser sucedido pelo seu filho, Henrique VI.
Henrique VI tinha menos de um ano quando chegou ao trono Inglês. Ele provou-se ser diferente de seu pai de todos os modos: indeciso, improvidente e tão profundamente comprometido com uma vida de piedosa devoção que preocupou-se pouco com as artes do governo. Durante sua longa menoridade, o país foi gerido por membros poderosos da família real, cujas as distintas facções aumentaram grandemente pela sombra da ilegalidade que continuava pairando sobre Henrique IV com a tomada do trono de Ricardo II. A reivindicação do quinto Conde de March, nomeado herdeiro presumido por Ricardo, foi reforçada pelo casamento de seu irmão Anne com Ricardo, Conde de Cambridge, o filho do Duque de Aumerle que era filho do Duque de York em Ricardo II e que conspirou contra a dinastia Lancastre de Henrique IV. O Conde de Cambridge e o filho de sua esposa, conectada com os Percy, Anne, era Ricardo Plantagenet, posteriormente Duque de York, que fundou à dinastia Yorkista. Plantagenet e seus filhos montaram um desafio militar ao reinado de Henrique VI, no que é conhecido como Guerra das Rosas, a rosa branca de York versus a rosa vermelha de Lancastre. Eventualmente os Yorkistas vencem, colocando Eduardo (o filho primogênito de Ricardo Plantagenet) no trono Inglês em 1461 como Eduardo IV. A luta continuou, em um perde-ganha (Henrique VI foi de fato restaurado no trono em 1470 por seis meses) até que os Yorkistas ganhassem controle decisivo. Quando Eduardo IV morreu, em 1483, ele foi sucedido, em uma série de sagazes manobras, pelo seu irmão mais novo Ricardo, como Ricardo III. Os dois jovens filhos de Eduardo, Eduardo e Richard, foram negados à sucessão real pelo seu tio, e foram, talvez, secretamente assassinados sob as suas ordens na Torre de Londres. Ricardo III governou até 1485, quando foi derrubado por Henrique Tudor, cuja fraca reivindicação dinástica ao trono como Henrique VIII dependia de sua mãe ter descendido de uma linha dos Beauforts que foram desprovidos da sucessão real (desde que John Beaufort nasceu fora dos laços matrimoniais de John de Gaunt e sua amante, Catherine Swynford). Do lado de seu pai, Henrique Tudor tinha igualmente uma reivindicação tênue ao trono: ele era neto de Owen Tudor, que se casou com Katherine de Valois depois que seu marido, Henrique V, morreu em 1422.
Essa é a história que Shakespeare escolheu dramatizar em sua primeira série de quatro peças históricas, as três partes de Henrique VI e Ricardo III (cerca de 1589-94). Ele escreveu essas peças antes de escrever Rei João (cerca de 1594-6) e antes de se voltar para peças que já discutimos, de Ricardo II a Henrique V (cerca de 1595-9).
Por um número de razões, as lições políticas práticas parecem mais afinadas nas primeiras peças históricas sobre Henry VI do que nas últimas séries. Os eventos do século quinze, resultando em 1485, estavam mais pertos no tempo para os súditos elisabetanos, e mais angustiados em suas avaliações das atrocidades da guerra civil. Ademais, aqueles anos culminaram na ascensão ao trono de Henrique VII, o avô de Elizabeth e fundador da dinastia Tudor. Aquele evento precisou ser apresentado como uma celebração da emergência da Inglaterra ao final de quase um século de guerra civil. De maneira similar, as próprias guerras civis têm que ser contadas como uma história de terror de irmão contra irmão e família contra família. As peças sobre Henrique VI de Shakespeare não tentaram minimizar a carnificina que se deu e a anarquia que insistentemente ameaçou-se. O melhor que pode ser dito da guerra civil foi que eventualmente ela trouxe a dinastia Tudor.
Uma manifestação de medo da anarquia que perpassa essas peças é vista no relato de Shakespeare da Rebelião de Cade, de 1450. Historicamente, o evento foi um protesto espontâneo de homens de Kent contra a incompetência do governo de Henrique VI; foi a maior revolta popular da Inglaterra desde a chamada Revolta dos Camponeses, de 1381. A peça 2 Henrique VI de Shakespeare retrata o evento da forma mais pejorativa possível. Jack Cade, o líder, é um bufão com pretensões absurdas de descendência ancestral de Lionel, Duque de Clarence, irmão mais velho de John de Gaunt (3.1.359, 4.2.38-41), em uma paródia tola do título genealógico avançado por Ricardo Plantagenet da casa de York. Cade está rodeado de Dick, o açougueiro, Smith, o tecelão, um carpinteiro e outros artesãos cujas pretensões à competência em matéria de governança são ridículas. Mesmo eles riem privadamente da linhagem pomposa de Cade: quando Cade proclama que ele é “descendente dos Lacys”, Dick faz um trocadilho sutil que: “Ela foi, de fato, a filha de um traficante, e vendeu muitas rendas [laces]” (4.2.43-5). O “campo” [field] de Cade, ou brasão de armas, Dick nos garante privadamente, sugere um “campo” de uma forma absurdamente mundana: Cade nasceu em um campo, “debaixo de uma sebe” (48-50). Cade promete a seus seguidores um mundo de preços baixos e bens abundantes sem trabalho: “Haverá na Inglaterra sete pães de meio penny vendidos por um penny, o pote de três argolas deve ter dez, e eu farei o beber de cerveja fraca um crime grave” (querendo dizer que todos devem tomar cerveja forte). Não haverá dinheiro. Em vez disso, todas as pessoas comerão e beberão nas custas de Cade, e todos vestirão-se com um uniforme “que eles concordarão como irmãos e adorarão a mim como seu senhor” (63-74). O chamado Canal da Urina em Cheapside “não passará nada que não seja vinho claro nesse primeiro ano de nosso reinado” (4.6.3-4). Como muitos reformadores radicais na literatura paródica utópica, Cade eliminará os ricos em seu estado comum enquanto atribui toda a riqueza e a hierarquia real para si mesmo.
Por toda essa bobagem, Cade é uma ameaça perigosa, especialmente para a classe comercial de Londres e para a elite rural governante do país. No que se tornou hoje a linha mais conhecida dessa peça, Cade e seus seguidores planejam “matar todos os advogados” (4.2.75). Um soldado é sumariamente assassinado por referir-se ao grande líder como “Jack Cade” em vez de “Lord Mortimer”; o soldado ofensor não teve tempo de ouvir a proclamação dessa proibição, porém não importa (4.6.7-8). Um clérigo de Chartham (isto é, Chatham, perto de Rochester) é enforcado simplesmente porque “Ele pode escrever e ler e numerar” (4.2.83-4). O dano a Londres, a seus palácios, suas lojas, suas instituições legais, é amplo. “Derrubem o Savoy”, Cade ordenada; “outros para os Inns da Corte” (4.7.1-2). “Acima para a Rua do Peixe! Abaixo a esquina de São Magno! Matem e derrubem! Jogue-os no Tâmisa!” (4.8.1-2). O apelo de Shakespeare é para sua própria plateia de Londres, sem dúvida contendo muitos donos de lojas, mercadores, advogados, escreventes, e os tipos de pessoas as quais a revolta popular era repugnante.
Shakespeare é geralmente cuidadoso com movimentos populares. Os aristocratas são frequentemente responsáveis por iniciar a contenda, para ser franco. Ricardo Plantagenet gaba-se em solilóquio que seu plano é o de desencadear violência por todo lugar através de Cade: “Esse demônio aqui deve ser meu substituto” (2 Henry VI, 3.1.371). Plantagenet entra em uma conspiração com o Duque de Suffolk para acabar com a vida de “bom Duque Humphrey” (1.1.160), o Duque de Gloucester, o tio e Lord Protetor do Rei Henrique, porque, na visão cínica deles, Humphrey é muito amado pelo povo e assim inclinado a lidar justamente com suas reclamações. Uma vez que essa figura mediadora esteja fora do caminho, esses oportunistas e seus aliados (incluindo o Cardeal Beaufort, um tio-avô do Rei) esperam que a anarquia possibilitará a eles a conquista do poder. Ademais, mesmo se a agitação popular seja incitada por manobras sem princípios desse tipo, e mesmo quando essa agitação parece ter reclamações com as quais podemos simpatizar, as resultantes inversões da autoridade são apresentadas por Shakespeare como inquietantes. Quando o povo ouve rumores do assassinato do Duque Humphrey “Pelo intermédio de Suffolk e do Cardeal Beaufort” (3.2.124), eles demandam que o Rei execute ou bana Suffolk. Se não, dizem, “Eles vão pela violência retirá-lo de seu palácio / E torturá-lo com dolorosa e lenta morte” (246-7). À essas demandas não-negociáveis o fraco Rei assente, protestando ineficazmente que “Se eu não fosse citado assim por eles, / Mesmo assim eu faria o que eles pedem” (281-2). O povo está pacificado por um momento, mas quando o banido Suffolk é posteriormente preso no mar e é identificado como o odioso arquiteto da morte do Duque Humphrey e também como traidor do Rei (ao se tornar amante da Rainha Margaret), o resgate é negado e Suffolk é sumariamente assassinado. Apesar de que seu fim possa ser um final adequado a suas vilanias, isso é justiça de bando [isto é, que faz justiça com as próprias mãos]. O alarme de Shakespeare é manifesto. Essa anarquia é o doloroso fruto do conflito civil.
Em Ricardo III também, o papel da população no processo de decisão política é matéria de grave preocupação, apesar de, aqui, os Londrinos serem mais cautelosos e menos facilmente persuadidos. Em uma cena de córica sabedoria, vários cidadãos não nomeados expressam suas preocupações sobre a terra “que é governada por uma criança”. Eles veem claramente que “cheio de perigos é o Duque de Gloucester”. Eles estão sabiamente preparados para permanecerem fora de problemas se puderem “deixar tudo com Deus” (2.3.12-46). Quando Ricardo envia seu principal tenente, o Duque de Buckingham, para “interpretar o orador” (3.5.95) com os cidadãos em Guildhall e, assim, ganhar o suporte deles para a intenção de Ricardo em ser nomeado rei depois da morte de Eduardo IV no lugar do filho mais velho de Eduardo, Buckingham encontra uma resistência pacífica. Os cidadãos não dizem nada, como se postergassem para ganhar tempo. Quando alguns seguidores de Buckingham, de forma planejada, gritam “Deus salve o Rei Ricardo!”, Buckingham sagazmente interpreta o silêncio do resto como consentimento (3.7.34-41). Com o Lord Prefeito, seus colegas vereadores e alguns cidadãos, Ricardo ele próprio tem um sucesso maior: como aconselhado por Buckingham, ele adota uma pose de intensa piedade, permanecendo no meio de dois religiosos com um livro de orações em sua mão e protestando que ele não deseja assumir o pesado fardo do reinado. O Prefeito e os cidadãos são tomados pela mostra de relutância e, instruídos pelo que viram em Buckingham e Catesby, endossam o novo título real de Ricardo como “Ricardo, o rei valoroso da Inglaterra” (3.7.45-241). Assim os cidadãos e os oficiais civis de Londres, tão bem-intencionados como eles o são, permitem-se serem manipulados em sancionar uma devastadora violação da lei e dos costumes Ingleses. Como uma força coletiva eles são instáveis.
Em outras peças também, os cidadãos de Shakespeare são geralmente sensíveis e pacientes quando deixados por si mesmos, mas são aptos a tornarem-se preocupantemente irracionais em momentos de crise política. Os mercadores de Roma em Júlio César (1599) são homens de boa natureza e mesmo vivazmente espirituosos em um primeiro momento, mas, sendo inocentes na adoração a seu herói César, eles são maleáveis nas mãos de um astucioso orador, Marco Antônio, depois do assassinato. A multidão em Coriolano (cerca de 1608) tem muitas queixas justas contra à aristocracia: o grão está sendo restrito em um tempo de escassez alimentar, e Coriolano é impassível em seu arrogante desprezo pelos cidadãos. Eles são pacientes apesar do desdém dele, e estão dispostos a elegê-lo para o consulado. Porém eles são movidos à violência pelos porta-voz deles, os Tribunos. Mais uma vez, vemos que Shakespeare está pronto para mostrar simpatia pelos dois lados de um conflito político. Como em 2 Henrique VI, os líderes políticos possuem a primeira responsabilidade em instigar à agitação popular. As peças de Shakespeare mostram entendimento das causas da agitação popular, enquanto que, ao mesmo tempo, toma uma visão obscura da ação política coletiva.
Uma preocupação associada nas peças de Henrique VI é que a guerra civil rapidamente espirala abaixo em uma descontrolada violência e recíproca contra violência. 3 Henrique VI é especialmente estruturada para representar no palco o doloroso conceito de olho por olho. Para vingar a morte do antigo Lancastre Clifford, no final de 2 Henrique VI, o jovem Clifford assassina o Conde de Rutland, o filho mais novo de Ricardo Plantagenet (3 Henrique VI, 1.3.48), e então ajuda a Rainha Lancastriana sem remorso em esfaquear o capturado Plantagenet ele mesmo (1.4.61-178), colocando a cabeça cortada dele acima dos portões da sua cidade de York (2.2.1-3). Em retorno a essas atrocidades, o jovem Clifford é o próximo a sofrer retribuição: os filhos de Plantagenet tomam Clifford como prisioneiro na luta, torturando-o por seus crimes, e então erguem sua cabeça na muralha de York no lugar da de seu pai (2.6.58-86). E assim continua. Os próprios nomes dos principais competidores ressaltam o sombrio negócio da reciprocidade. Conforme a viúva Rainha Margaret sumariza o horrendo relato em Ricardo III, como consequência da luta:
Eu tinha um Eduardo, até um Ricardo matá-lo;
Eu tinha um Harry, até um Ricardo matá-lo;
Tu tinhas um Eduardo, até um Ricardo matá-lo;
Tu tinhas um Ricardo, até um Ricardo matá-lo.
(4.4.40-3)
Isto é, o filho da Rainha Margaret, Eduardo, o príncipe da coroa Lancastre, foi assassinado por Ricardo de Gloucester, e então o marido dela, Henrique (Harry) VI, ao passo que a viúva Rainha Elizabeth, a quem Margaret está falando, perdeu seus dois filhos, Eduardo (Eduardo V) e Ricardo, pelas mãos de Ricardo de Gloucester. A Duquesa de York adiciona a essa lúgubre lista que ela também tinha um Ricardo, a saber, seu marido Plantagenet, e também um Rutland, seu filho mais novo, ambos assassinados, como vimos, por Margaret e seus apoiadores de Lancastre (44-5). A Rainha Margaret vê uma necessária justiça de vingança em todas essas mortes:
Teu Eduardo está morto, que matou meu Eduardo;
Teu outro Eduardo morto, para pagar meu Eduardo.
(4.4.63-4)
Em outras palavras, o Rei Eduardo IV morreu justamente por ter assassinado o Eduardo que era o príncipe da coroa de Lancastre, enquanto que Eduardo V (o “outro Eduardo) pagou com sua vida para igualar a conta pela morte do filho de Margaret, Eduardo.
Essa terrível reciprocidade é claramente apresentada como insana nessas peças. O Ricardo que se torna Ricardo III é pessoalmente responsável por muitas dessas mortes, e de fato, permanece ante nós como uma personificação da violência civil. Ele é o tipo de governante maldoso que a Inglaterra trouxe para si por meio do intenso conflito interno. Ainda que seu papel nessa carnificina seja, em último caso, paradoxal e irônico. Apesar de Ricardo fazer o que ele faz por auto interesse monstruoso, e parecer brilhantemente bem-sucedido conforme manobra até o trono, seus assassinatos têm o efeito de punir àqueles que, na maioria das vezes, são culpados de ofensas castigáveis. Mesmo aqueles que morrem inocentemente, como os dois jovens filhos de Eduardo IV, podem ser vistos como vítimas sacrificiais que devem pagar à culpa coletiva de um país que temporariamente perdeu sua sanidade. Ademais, a violência que Ricardo encarna é um modo de apaziguar à competição pelo trono Inglês, tanto que quando o Conde de Richmond (isto é, Henrique Tudor) emerge como um requerente ao trono e à mão da filha de Eduardo IV, Elizabeth, quase nenhuma pessoa além de Ricardo III está em seu caminho. Sem seu conhecimento ou intenção, cada realização de Ricardo III torna-se um passo necessário para a chegada no poder de Henrique VII.
Historicamente, Ricardo III foi um rei mais valoroso do que Shakespeare o retratou; por outro lado, Henrique VII fez uso dos mesmos expedientes duros de Ricardo para afastar rivais problemáticos da sua disputada possessão da coroa. A difamação de Shakespeare a Ricardo III e sua quase santificação de Henrique VII cheira hoje a uma reescrita propagandística da história. Por mais desconfortável que seja para nós atribuir esse trabalho partidário ao maior autor da Inglaterra, precisamos considerar por quê a questão da legitimidade na grande mudança de regime de Ricardo III para Henrique VII, em 1485, teve uma importância abrasadora para a Rainha Elizabeth I e seu governo por volta de um século depois. Elizabeth repugnava a própria ideia de resistência violenta a qualquer monarca, não importando quão incapaz ou problemático aquele monarca possa ter sido. A relutância de Elizabeth de consentir com a execução de sua prima Mary Rainha dos Scots, em 1587, fez crescer o medo de Elizabeth na contenção de qualquer regicídio. Mary foi um ponto de disputa para os Católicos enquanto esteve viva e foi, por isso, uma constante ameaça à Elizabeth, mas esta continua a ser uma monarca adequadamente constituída. Uma homilia “Contra a Desobediência e a Teimosa Rebelião”, lida obrigatoriamente dos púlpitos Ingleses, pregava o perigo da sedição e as virtudes da obediência passiva à regra do direito divino. Elizabeth não podia permitir exceções. Ainda havia o exemplo de seu próprio avô, Henrique Tudor, que, com somente uma mínima pretensão dinástica ao trono Inglês, desembarcou nas praias da Inglaterra do exterior e derrotou em batalha um rei ungido. Qualquer coisa que alguém possa pensar sobre as reivindicações dinásticas rivais dos Lancastres e dos Yorkistas, Ricardo III detinha uma linhagem em comparação com a qual aquela de Henrique Tudor era risível.
A única maneira de sair desse embaraço para o governo de Elizabeth era cobrindo a evidência histórica sob uma cortina de fumaça retórica. Os monarcas Tudor seriam rápidos em empregar historiadores revisionistas recontando histórias sobre o corcunda Ricardo e de ele ter nascido com um dente em sua cabeça; como Ricardo ele próprio fala, em 3 Henrique VI, “A parteira surpreendeu-se e a mulher chorou, / “Ó, Jesus nos abençoe, ele nasceu com dentes!” / E então eu era, que plenamente significava / Que eu devia rosnar e morder e interpretar o cão” (5.6.74-7). Algumas das coisas que o histórico Ricardo fez para forjar sua elevação ao reinado no lugar de seu sobrinho, incluindo talvez o assassinato de seus dois jovens sobrinhos para eliminar rivais perigosos ao poder, tornou-o objeto de ataque de algumas difamações de caráter que se deram. A Vida de Ricardo III de Thomas More, incorporado nas Crônicas de Holinshed, baseava alguns de seus relatos em informações pessoalmente derivadas por More do Cardeal Morton, cuja casa More foi levado e que esteve presente em alguns eventos assim narrados. As distorções da verdade histórica são mais patentes na apresentação patrocinada pelos Tudor de Henrique VII. Suas mãos não eram mais limpas que àquelas de seu predecessor. A grande razão para a justificação histórica que se seguiu a sua chegada ao poder, é simplesmente que ele logrou êxito onde Ricardo falhou. Os Tudor tinham todas as razões para camuflar esse golpe de estado. O evento em si foi visto como um tipo de elevação espontânea da nação Inglesa a qual Henrique não era o planejador chefe. Sua organização precisou ser minimizada para que a ele não fosse atribuído o papel de regicida – o próprio precedente que Elizabeth mais temia. Henrique Tudor ele próprio precisava ser apresentado como moralmente adequado, temente a Deus, incorruptível, e capaz de liderança inspiracional. Esse é precisamente o retrato dele que temos em Ricardo III.
Artisticamente, o final de Ricardo III satisfaz um desígnio dramático, não somente para essa peça mas para a série de quatro peças como um todo. As ironias da história servem bem para moldar o encerramento para a narrativa inteira. A guerra civil é um pesadelo; a anarquia é uma ameaça constante; ambições pessoais egoístas podem soterrar um estado quando este é fracamente liderado; a vingança é uma espada de dois gumes que se volta contra si mesma na forma de violência recíproca infinita. Como é para um dramaturgo como Shakespeare fazer sentido artístico sobre o que pode tão facilmente tornar-se uma ladainha interminável de feitos bárbaros? Shakespeare precisa encontrar um significado na história e em sua arte, e ele o faz ao mostrar, com atraso mas definitivamente, como toda a carnificina das Guerras das Rosas detém um propósito significativo pelo qual seus perpetradores e vítimas estão ironicamente inconscientes. A carnificina produz um Ricardo III e então ela o descarta uma vez que o trabalho da punição destrutiva chega a um fim.
Em termos providenciais, Ricardo III pode ser caracterizado como um flagelo de Deus – isto é, o agente involuntário da Providência, carregando suas intenções de longo alcance as quais ele próprio é inconsciente. Essa leitura provê uma interessante resposta à questão do porquê tanto mal e sofrimento ocorrer em primeiro lugar. Se alguém adota uma leitura providencial da história, muito do mal e do sofrimento pode ser visto como a punição merecida de um povo que perdeu seu caminho espiritualmente. Muitos exemplos estavam disponíveis para Shakespeare e seus contemporâneas da história do Antigo Testamento, como por exemplo na explicação do porquê mesmo as pessoas escolhidas por Deus, quando adoram imagens douradas, incorrem em punição divina (Êxodo 32). O conceito reforça à ideia de obediência passiva: aqueles que desprezam o comando divino ao opor-se à força a um monarca legítimo convida e merece a cólera divina. Essa é a história da nação Inglesa, como relatada nas peças de Henrique VI e Ricardo III. Aqueles que sofrem nas mãos de Ricardo III livremente confessam os pecados que os levaram aos seus sofrimentos e punições. Eles veem propósitos em suas próprias tragédias, e respondem com remorso.
Ainda que a leitura de Shakespeare da história não seja massivamente providencial como foi uma vez assumida. Traçar os horrores da guerra civil desde o desafio de Henrique Bolingbroke a Ricardo II e argumentar que tudo o que se segue é uma forma de vingança divina por aquele ato é impor um padrão muito coerente à série inteira. Suficientemente verdadeira, essa ideia encontra expressão em momentos chaves. O Bispo de Carlisle em Ricardo II, perplexo perante o sacrilégio de depor “a figura da majestade de Deus, / Seu capitão, intendente, deputado eleito, / Ungido, coroado, posicionado por muito anos”, profetiza eloquentemente que “O sangue dos Ingleses deve adubar o chão / E eras futuras gemem por esse ato falho” (4.1.126-39). Ele está claramente certo: muito sangue será derramado. Ele está certo mesmo no sentido que se Bolingbroke não tivesse deposto Ricardo II, a história teria tomado um rumo diferente; isso é uma verdade tão auto evidente e, ao mesmo tempo, tão hipotética em seus poderes preditivos que tornar-se essencialmente inútil. Bolingbroke depôs Ricardo, e o que se seguiu foi o que chamamos de história. Shakespeare parece confortável com as dimensões existenciais e seculares dessa ideia de história, enquanto que, ao mesmo tempo, permitindo que uma leitura providencial seja também plausível. A leitura providencial adequa-se a seus próprios propósitos artísticos, mesmo enquanto ela também conforma-se facilmente ao método oficial Tudor.
No sentido que a história parece oscilar para trás e para frente entre fortes e fracos reis, outra explicação torna-se disponível. Essa explicação parece abranger estritamente aos fatos, ao existencial: às vezes, sob um bom governante, as coisas vão bem; em outros tempos, quando um governante inepto e corrupto ocupa o trono, as coisas podem ir muito mal. Shakespeare tende a esquivar-se desse assunto em suas peças de história Inglesa, deixando a história falar por si só. Em suas peças Romanas, por outro lado, nas quais as ideias providenciais Cristãs não dizem nada, as vicissitudes de altos e baixos da ordem política parecem mais expostas. Júlio César é cheia de ironias, mas não do tipo providencial benigno que resgata à Inglaterra finalmente de seu pesadelo da guerra civil em Ricardo III. Em Júlio César, todas as intenções com espírito público de Brutus falham e voltam-se contra ele e sua causa. Ele toma parte no assassinato de Caesar para libertar Roma da tirania. O resultado é a violência da multidão descontrolada em Roma e uma sensível diminuição, sob Antonio e Octavius Caesar, das próprias liberdades pelas quais Brutus fez o que fez. O próprio Caesar não é menos vítima de ironias: ele pensa a si mesmo como tão constante quanto a Estrela do Norte, “Inabalável no movimento” (3.1.71), e ainda sua suscetibilidade à adulação e à superstição incita-o a ir ao Capitólio mesmo no dia em que sua morte foi profetizada. Os amargos finais de Coriolano e de Timão de Atenas dão a nós uma impressão similar de eventos que cessam gradualmente sem esperança de recuperação. Os homens são às vezes seus próprios piores inimigos. É como se Shakespeare antecipasse a máxima de Karl Marx que os homens fazem suas próprias histórias, mas não a fazem sob circunstâncias de sua escolha (O Dezoito de Brumário de Luís Bonaparte, Capítulo 1). Conforme Shakespeare distancia-se da escrita de peças históricas e comédias românticas, por volta de 1599-1600, ele parece cada vez mais perplexo com as ironias da história que pode dar-se sem o controle humano ou divino.
Sobretudo, então, a filosofia política inserida nas peças de Shakespeare é complexa. Shakespeare enfatiza as ironias políticas e impasses que não produzirão soluções fáceis. (Se tivéssemos tempo, podíamos observar a mesma configuração em Rei João, a única peça de história Inglesa dos anos 1590 que, isolada cronologicamente como um relato da política do início do século treze, não é parte de nenhuma tetralogia de Shakespeare.) Ele com justiça reporta os argumentos políticos de todos os lados, emprestando seus impressionantes poderes como um poeta para a expressão de ideologias conflitantes. Sem dúvida como um resultado, sua lealdade foi reivindicada desde sempre por proponentes de tipos políticos competidores. Ele é o que podemos chamar de conservador? Ele aventa fortes argumentos a favor da monarquia estabilizada, porém, ele também vê com grande clareza a lógica do golpe de estado contra um governante incapaz ou tirânico. Ele é um defensor ou crítico da guerra? Ele concede ao Coro de Henrique V o enaltecer de Henrique na grande vitória sobre a França na batalha de Agincourt, e ainda não tem medo de nos mostrar as maquinações políticas fatuais que permeiam à decisão de Henrique em ir à guerra, e, em outro lugar, especialmente nas peças de Henrique VI, ele devastadoramente retrata os terrores do conflito civil. Ele é um elitista social ou um democrata? Ele dramatiza as danosas consequências da histeria popular, mas também nos mostra cidadãos ordinários que parecem ter melhores instintos políticos que seus supostos cidadãos superiores. Ele pensa que o Príncipe Hal das peças Henrique IV beneficia-se de sua associação com Falstaff? Sim, talvez, até um ponto. A filosofia da história de Shakespeare é providencial ou Maquiaveliana, ou mesmo Marxista? Ideologias rivais estão abundantemente em jogo.
Isso não quer dizer que uma visão política compreensível seja indiscernível. Uma abordagem pode considerar às mudanças de ênfase que manifestam-se conforme nos movemos do início dos anos 1590 para a obra de posteridade. As peças de Henrique VI e Ricardo III são mais abertas para interpretações providenciais do que as peças posteriores, mesmo se a visão providencial da história não seja de forma alguma a única maneira de entender as Guerras das Rosas. A justificação da chegada ao poder de Henrique VII, em Ricardo III, oferece uma defesa implícita da monarquia Tudor que parece, geralmente, menos qualificada que as ironias da história que encontramos na sequência posterior conhecida como Henríade. Quando Shakespeare persegue essas mesmas ironias da história em Júlio César e outras peças que se passam em tempos clássicos, a ausência da visão providencial Cristã o permite ver mais claramente do que antes como a história pode ser entendida em termos seculares e existenciais. Mesmo na Henríade, a governança pragmática tende à ganhar sobre as ideias cavalheirescas e antiquadas de honra. Shakespeare não precisa ser compreendido como apoiador de uma mudança tão grande na própria natureza da história, e, de fato, Hamlet (cerca de 1599-1601) pode ser lido em parte como um lamento pela passagem da antiga ordem, mas podemos pelo menos ver a consciência ampliada sobre a história em sua Henríade como integral a aquilo que quisemos dizer quando tentamos definir à filosofia política de Shakespeare. A natureza pragmática e cética da investigação será expandida nas peças que se seguirão, conforme Shakespeare volta-se cada vez mais para questões de controvérsia religiosa e dúvida filosófica.