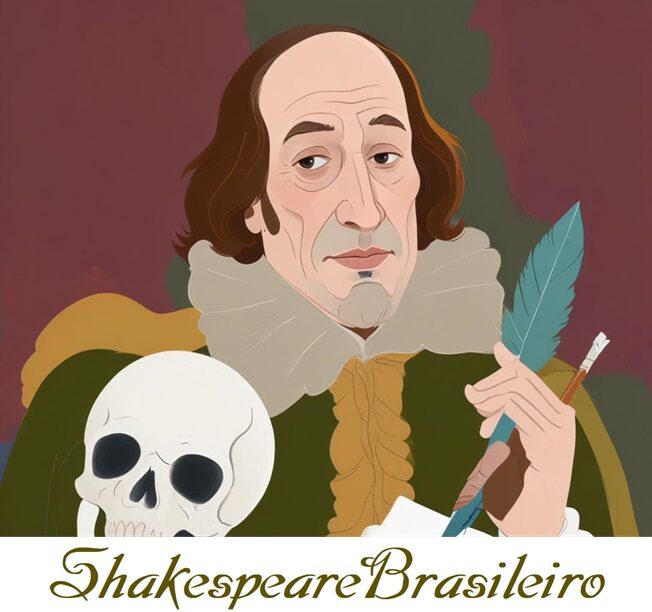Propomo-nos a buscar em que sentido William Shakespeare atingiu à liberdade apesar de ter vivido em um momento histórico em que vigoravam as noções absolutas. Para tal, escolhemos como marco teórico a obra de Stephen Greenblatt e da escola conhecida como Novo Historicismo para mapear as diversas variáveis em jogo. É importante, então, delinearmos as características principais dessa escola (I) o que nos fornecerá maior clareza de análise. Em um segundo momento, após algumas considerações sobre a Inglaterra de seu tempo, veremos em que sentido Shakespeare buscou se ver livre das principais ideias sobre o belo então vigentes (II). Veremos também brevemente como a questão da autoridade foi pensada por Shakespeare e em que sentido livrar-se ou submeter-se à autoridade pode dar azo a uma vida autônoma (III). Então nos voltaremos mais profundamente para a questão da autonomia e do status da liberdade artística (IV), em Shakespeare. À guisa de conclusão analisaremos à noção grega de daemon (V) que pode lançar luz aos caráteres inspirados e prosaicos da produção de Shakespeare.
I) Marco Teórico: O Novo Historicismo
O Novo Historicismo é uma escola de teoria literária nascida nos EUA no final da década de 80, que busca compreender uma obra de arte literária através do contexto peculiar da cultura e tempo em que a obra surgiu. Para isso, assume-se a interdisciplinaridade como fundamental. As fronteiras entre arte, filosofia, política, antropologia, literatura e economia tornam-se incertas, e o teórico deve manter-se aberto para diversos vieses distintos. A grande influência do Novo Historicismo reside no que ficou conhecido como Teoria Crítica, ou Escola de Frankfurt, que teve no texto de Max Horkheimer, Teoria Tradicional e Teoria Crítica (1937) a sua certidão de nascimento como uma das mais influentes escolas de pensamento do Séc. XX.
Apesar de ter no marxismo a inspiração para embasar suas interpretações políticas, o Novo Historicismo se distancia desse ao negar-se a ver à literatura como manifestação da superestrutura econômica de um determinado tempo. Assim, destilam-se às influências de um determinado texto e autor para todas as áreas do conhecimento. A literatura detém, incrustada em si, os elementos das Instituições e convenções sociais que estão disponíveis ao autor em sua época. Os textos “sub-literários” e os textos históricos tornam-se importantes chaves de leitura para as grandes obras, pois dão a ver as diferentes influências culturais disponíveis ao autor. Ao intuir essa rede de influências enraizada na cultura de um determinado momento histórico, sem que um conjunto de obras ou apenas uma obra se sobressaia e torne-se um cânon, pairando totalmente acima das demais obras, o Novo Historicismo também recebe influência decisiva do pós-modernismo.
Outra influência decisiva do Novo Historicismo é a escola inglesa conhecida como Materialismo Cultural. A principal divergência ideológica, talvez, é que o Novo Historicismo privilegiará à análise dos dominantes de uma determinada época histórica, por exemplo, os monarcas, a igreja, as classes altas, enquanto que o Materialismo Cultural baseia-se, em geral, na estrutura mais baixa da sociedade: pessoas e grupos marginalizados, a classe mais pobre, etc.
A última das influências facilmente mapeável dentro do Novo Historicismo é a de Michel Foucault. Este teórico francês interessou-se, sobretudo, por questões de poder e epistemologia, subjetividade e ideologia, que são preocupações fundamentais para a escola estadunidense. A noção de episteme de Foucault também exerceu influência. Episteme, palavra grega para Ciência ou Conhecimento, torna-se, no vocabulário de Foucault, o “inconsciente epistemológico” de uma época, ou seja, são as ideias fundamentais que norteiam tacitamente o pensamento científico de uma época. Podemos fazer um paralelo da episteme de Foucault com a noção de paradigma de Thomas Kuhn, porém, em vez daquela se manter restrita a uma determinada ciência, busca englobar todas as ciências de uma época.
II) A Inglaterra absolutista de Shakespeare e as Ideias do Belo
A Inglaterra dos dias de Shakespeare viveu um momento de consolidação de ideias absolutistas que pareciam antigas, mas que, de fato, receberam roupagens novas. A mudança de eixo da autoridade do Papa para a autoridade do texto bíblico e da fé impôs-se como fator alterador de toda a vida social do país. Inspirados por Calvino, os teólogos anglicanos asseveravam que os mortais não podiam de qualquer forma negociar com Deus, e Suas decisões eram irrevogáveis, não submetidas a nenhuma lei, etc. A doutrina que via no Rei ou Rainha o próprio desígnio de Deus e a autoridade absoluta buscava-se desesperadamente se fortalecer, mesmo que essa autoridade absoluta de fato não existisse, já que o parlamento limitava frequentemente a soberania monárquica. À ideia de um Deus absoluto soma-se à ideia de um monarca absoluto e assim vários outros tipos de absolutos ganham força: amor, fé, graça, redenção, etc. Shakespeare com certeza cresceu ouvindo sobre Deus Todo Poderoso, danação eterna, fé solitária, etc. porém, em geral, podemos dizer que sua obra dá mostras de um acentuado ceticismo em relação à qualquer espécie de noção de absoluto. Podemos ver nitidamente que quando os personagens shakespearianos acreditam em algo de ilimitado, inevitavelmente eles são levados ao erro e à angústia, porque a todo o momento os limites devem ser reconhecidos.
Vamos explorar alguns dos dispositivos utilizados por Shakespeare para alcançar a individualização de seus personagens. Individualização, nesse caso, é a característica de se manter avesso aos padrões culturais vigentes em um determinado momento histórico. Veremos em que extensão Shakespeare criou a individualidade partindo das normas culturais partilhadas pelo seu tempo.
Um dos mais influentes juízos sobre o belo em voga no tempo de Shakespeare era o ilustrado pelas palavras de Leon Battista Alberti que, em A Arte de Construir diz: “é a harmonia de todas as partes dentro de um corpo, tanto que nada pode ser adicionado, nada retirado, ou alterado, exceto para o pior”. Em vez da peculiaridade e da especificidade, a harmonia e a inter-relação de todas as partes de um todo. Quaisquer adições supérfluas são consideradas ornamentos: “A Beleza é uma propriedade inerente, encontrada em toda extensão do corpo que pode ser chamado de bonito; enquanto o ornamento, em vez de ser inerente, tem o caráter de alguma coisa anexada ou adicional.” As frases de Alberti ajudam-nos a ilustrar muito do pensamento predominante da época do Renascimento em relação ao objeto artístico e suas concepções do belo. Podemos rastrear a busca pela harmonia interna na obra de arte até, pelo menos, Santo Tomás de Aquino, que propôs que as qualidades necessárias para se atingir o ideal de beleza são três: integritas, consonantia e claritas. Conceitos que os Renascentistas estavam ainda profundamente atrelados.
As celebrações da beleza, em Shakespeare, quase sempre violam a falta de especificidades e ornamentos como predizia o ideal cultural de sua época. Com isso, Shakespeare alcança à identidade, a distinção, o único. Shakespeare fez deliberado uso de marcas como verrugas, cicatrizes, sinais de nascença, etc. para distinguir seus personagens do ideal e assim assumir o risco de tocar o âmbito do tabu que emerge do que é feio. Assim como o feio, todos os aspectos que decorrem de uma beleza “marcada” são explorados: algo de estranho, idiossincrático, imperfeito que de forma alguma se adequam às expectativas. Adicionando e retirando ornamentos à revelia de suas peças e sonetos, Shakespeare pairou acima dos limites convencionais do belo. A beleza dos seus personagens advém exatamente da individualização e por conseguinte da violação das regras que o ideal estético em voga estipulava. Notemos, por exemplo, o Soneto 22:
“My glass shall not persuade me I am old
So long as youth and thou are of one date;
But when in thee time´s furrows I behold,
Then look I death my days should expiate.
(“Meu espelho não me dirá que envelheço,
Enquanto tenhas a mesma idade e juventude;
Mas quando em ti vejo o sulco do tempo,
Sinto que a morte expiará meus dias.”)
Aqui as marcas no rosto do amigo representam à própria mortalidade, nos dando indicativos que Shakespeare adotava como padrão de beleza e juventude o não marcado, porém, fez uso ostensivo das marcas para indicar um desvio perante a norma.
Ao reconhecer sua mulher Hermione, tida como morta, Leontes, em O Conto de Inverno diz:
“Hermione was not so much wrinkled, nothing
So agèd as this seems” (5.3.27-29)
(“Hermíone não tinha tantas rugas;
não tinha a idade que aparenta agora”)
Mais uma vez, as marcas são características fundamentais de individualização. Nada mais avesso ao ideal Renascentista do belo.
III) Shakespeare e a Autoridade
Ao contrário da tomada de posição empreendida, por exemplo, por seu amigo pessoal Christopher Marlowe contra a violência monárquica à serviço da tomada do poder, Shakespeare sem dúvida compreendeu que a violência era um dos principais mecanismos da troca de regime político. Apesar de tratar a questão do suposto poder supra terreno dos governantes com aguda ironia, Shakespeare não endossou nenhum princípio geral de resistência. Assimilando uma ideia defendida, por exemplo, por Thomas Starkey, que propunha que só é possível assegurar o bem estar, dignidade e liberdades dos cidadãos em cidades e estados que escolhessem seus governantes através do voto, Shakespeare buscou capturar à experiência democrática da Roma antiga e da Veneza de seus tempos.
Outra característica que salta aos olhos quando analisamos as peças de Shakespeare, é que os personagens que demandam poder quase ilimitado, que têm a vontade determinada em alcançar o controle sobre um grande números de outros indivíduos acabam por serem, digamos, amaldiçoados por esta ambição. Pensemos por um instante em Macbeth, que mesmo confrontado com fortes dilemas morais, como, por exemplo:
“Who should against his murderer shut the door,
Not bear the knife myself” (1.7.15-16)
(“que devera fechar a porta a seus assaltadores,
não levantar contra ele a minha faca”)
E mesmo assim realiza seu intento, de assassinar o rei Duncan, e, por isso, é condenado à viver miseravelmente seus últimos dias, assistindo à sua mulher tornar-se louca e seu império convulsionar-se em rebeliões que selarão seus dias.
Mas o tema que parece ter fascinado Shakespeare quando se trata de autoridade, foi o da tentativa de alguém já investido no poder tentar livrar-se de suas amarras. Tanto Ricardo III quanto Antônio e Cleópatra, Coriolano e Rei Lear debruçam-se minuciosamente no desastre da abdicação de poder por quem o detém. Em todos os casos, também, quem busca empreender tal disparate parece receber uma maldição inconteste. Qualquer personagem que lida diretamente com a esfera do poder, em Shakespeare, é constantemente assombrado por insônias e tormentos que mostram a natureza no mínimo ambígua da pretensão por poder e à ânsia de se livrar de seus constrangimentos. Para termos uma clara visão disso, recorremos mais uma vez à peça Macbeth, que parece ter absoluta consciência que o assassinato do Rei Duncan trará poderes que dificilmente não levarão à própria destruição de Macbeth:
“We still have judgement here, that we but teach
Bloody instructions which, being taught, return
To plague th´inventor” (1.7.8-10)
(“Mas é aqui mesmo nosso julgamento
em semelhantes casos; só fazemos
ensinar as sentenças sanguinárias,
que, uma vez aprendidas, em tormento
se viram do inventor”)
Em vez de imaginar um além-mundo onde as consequências pelos atos terrenos seriam julgados, o mundo de Shakespeare é o do ato e consequência direto e têm implicações no agora da história. O que fica claro é que Shakespeare se mantém profundamente cético perante qualquer formulação de uma lei moral que estivesse livre da realpolitik de cada momento, lugar e psicologia. Não há nenhuma superestrutura moral na mente humana que constranja todas as ações, o que torna impossível delimitar todas as variáveis em jogo na responsabilidade advinda do exercício do poder. A estabilidade que separa ações morais das não-morais fica totalmente enublada pela psicologia às vezes profundamente complexa de cada um dos agentes em uma peça. Em vez de deixar de lado as questões morais, os personagens de Shakespeare detém uma vida moral intensa porém, não autônoma, porque, para alcançar esta autonomia eles teriam que abdicar de qualquer relação com o poder e, no limite, com qualquer relação com os outros personagens que constantemente os constrangem. Portanto, em geral, a individualidade, apesar de marcada, única, não consegue total independência de seu grupo político, de sua comunidade.
O contexto político da era elisabetana, na qual Shakespeare viveu, com sua monarquia hereditária com pretensões absolutistas não deixava qualquer espaço para ideias democráticas seculares. Porém, ao empregar a eleição em algumas de suas peças Shakespeare se mantém cético de sua eficácia em garantir que os desígnios do povo sejam ouvidos pois, muitas vezes manipulados pela riqueza e por políticos cínicos, são induzidos a agir contra suas próprias demandas.
IV) A Autonomia de Shakespeare
Shakespeare escreveu para uma forma então nova de entretenimento comercial – os primeiros teatros públicos de Londres datam de 1567 – sem as funções ritualísticas das antigas peças de moralidade e de Corpus Christi, que sofreram severa resistência por parte da Igreja Anglicana. O teatro na época era arriscado, vulgar e instável, sendo constantemente fechados por causa da peste bubônica. No meio da década de 1590, exatamente em um momento que o governo determinou o fechamento de todos os teatros pelo perigo da peste, Shakespeare publicou dois poemas mitológicos que fizeram sucesso entre a elite intelectual de seu tempo: Vênus e Adônis e O Estupro de Lucrécia. Visando atingir a um público mais culto e dedicando-os ao riquíssimo jovem Conde de Southampton, Shakespeare conseguiu alguma forma de patrocínio, o que lhe deu certa estabilidade até a reabertura dos teatros. Vê-se então a dupla natureza da obra de Shakespeare e a extrema sensibilidade que ele considerou a questão das diferentes audiências dos seus escritos.
Shakespeare, ao compreender e experienciar à exposição pública provocada pelo teatro, pode ter sentido algo da ambiguidade que os detentores do poder têm que enfrentar aquando eles devem aparecer em público. Ao mesmo tempo da consagração de seus poderes e status quase divinos por um lado, a exposição quase que teatral a uma horda barulhenta que relembrava os atores em suas profissões desdenhadas por outro. A maioria dos reis de Shakespeare, então, apesar de todo o aparato cultural apontar para sua natureza sobrenatural de seres designados por Deus e, por conseguinte, acima da própria lei dos homens, os reis de Shakespeare são, quase sempre, constrangidos pelas leis e os costumes. No caso de Ricardo II e Rei Lear, que pretender estar acima das leis, rapidamente a maldição – que cai sobre todos os personagens que não reconhecem seus próprios limites – se instala.
Talvez temos agora condições de nos perguntar em que medida Shakespeare pensou a questão da autonomia, ou seja, a liberdade de alguém viver conforme os seus próprios desígnios. Identificamos pelo menos três desejos de autonomia plenamente presentes na obra de Shakespeare: o primeiro seria a autonomia física que daria o poder para os seres humanos se livrarem das limitações da carne e do medo da vulnerabilidade inerente ao corpo físico. Em segundo lugar, há um desejo por autonomia social no seu sentido mais amplo, como se fosse possível a alguém livrar-se dos laços de parentesco, amizades, etc. que são onipresentes na vida humana. Em terceiro lugar, e talvez a mais evidente, é a busca por autonomia mental, um mundo totalmente outro, criado pelas próprias forças imaginativas. Já apontamos para o fascínio que exerceram em Shakespeare as cidades de Roma e Veneza, talvez porque o permitisse intuir formas de governos em que a estrutura monárquica de poder não era operante. Na peça Coriolano, que se passa em Roma, nos deparamos com a construção de um personagem sobre-humano, que têm cicatrizes mas que parece ser um mundo em si mesmo:
“As weeds before
A vessel under sail, so men obeyed
And fell below his stem. His sword, death´s stamp,
Where it did mark, it took. From face to foot
He was a thing of blood, whose every motion
Was timed with dying cries. Alone he entered
The mortal gate of th´city, which he, painted
With shunless destiny, aidless came off,
And with a sudden reinforcement struck
Corioles like a planet” (2.2.101-10)
( “Como sargaços
diante da quilha de um navio a vela,
dobravam-se os imigos e ficavam
debaixo de seu beque. Sua espada,
timbre da morte, não deixava nunca
de marcar no alvo certo. Da cabeça
aos pés era uma coisa só de sangue,
cujas passadas eram concertadas
com gritos de agonia. Ele, sozinho,
entrou na mortal porta da cidade
que tingiu com o destino inevitável;
sem auxílio, escapo e, de repente,
com súbito reforço foi em cima
de Coríolos cair como um planeta.”)
Nota-se a natureza além-do-homem de Coriolano, livre das coerções do medo e do corpo físico.
Ao ser banido de Roma, Coriolano diz à sua mãe:
“I go alone,
Like to a lonely dragon that his fen
Makes feared and talked of more than seen.” (4.1.30-32)
(“sozinho como parto, solitário
dragão vou parecer que de seu charco
mais medo infunde e assanha comentários
do que se deixa ver”)
Coriolano, outrora um dos maiores guerreiros de Roma, ao ser banido de sua cidade natal, torna-se outro, um guerreiro que busca independência radical de qualquer coisa que o enclausure. Porém, o que Coriolano irá amargamente descobrir é que em toda vida humana há milhares de pequenos constrangimentos que continuam latentes mesmo quando se nega o principal, no caso, a submissão perante a lei da pólis. Ao chegar aos portões de Roma como inimigo, não mais como seu guardião, Coriolano enfrentará as súplicas de sua esposa, filho e de sua espirituosa mãe. Ao renegar todas as heteronomias representadas pelos seus familiares, Coriolano grita desesperadamente por uma autonomia impossível:
“I´ll never
Be such a gosling to obey instinct, but stand
As if a man were author of himself
And knew no other kin.” (5.3.34-37)
(“Nunca o papel farei dos gansozinhos
que ao instinto obedecem; mas como homem
resistirei, que houvesse de si mesmo
sido gerado e que não conhecesse
nenhum parente.”)
Ser um radical autor de si mesmo é a exigência última de Coriolano, característica definidora de sua identidade ele se recusa a se ver preso a um corpo físico, se recusa a ouvir as súplicas de seus familiares e se recusa até a ouvir o instinto e sua própria psicologia para se tornar completamente autônomo. Porém, o que vemos tacitamente nessa cena é que é realmente impossível despir-se das vestes psicológicas adquiridas e dos laços sociais que nos atam eternamente a nossos parentes mais próximos. Mais uma vez, Shakespeare reafirma que é vedado aos seres humanos alcançar qualquer forma de absoluto, quer seja guerreiro ou rei, a verdade é o que ouvimos Ricardo II dizer aos seus amigos:
“I live with bread, like you; feel want,
Taste grief, need friends. Subjected thus,
How can you say to me I am a king?” (Ricardo 2 3.2.170-73)
( “Como vós, eu vivo
também de pão, padeço privações,
necessito de amigos, sou sensível
às dores. Se, a tal ponto, eu sou escravo,
como ousais vir dizer-me que eu sou rei?”)
Mas e o poeta? Será que o poeta alcança a autonomia para criar-se a si mesmo, mantendo-se além ou aquém dos componentes físicos, sociais e psicológicos? Um texto da época, que Shakespeare sem dúvida deve ter conhecido, de Sir Phillip Sidney, Apology of Poetry, dá-nos uma resposta positiva:
“Only the poet, disdaining to be tied to any such subjection, lifted up with the vigor of his own invention, doth grow in effect another nature, in making things either better than nature bringeth forth, or quite anew, forms such as never were in nature, as the Heroes, Demigods, Cyclops, Chimeras, Furies, and such like; so as he goeth hand in hand with nature, not enclosed within the narrow warrant of her gifts, but freely ranging only within the zodiac of his own wit.”
(“Somente o poeta, desprezando se manter preso à qualquer sujeição, levanta-se com o vigor da sua própria invenção, faz crescer em efeito outra natureza, ao fazer às coisas melhores que à produção da natureza, ou inteiramente novas, formas às quais nunca existiram na natureza, como Heróis, Semideuses, Ciclopes, Quimeras, Fúrias, e outras mais; assim ele segue de mãos dadas com a natureza, não enclausurado dentro de uma estreita garantia dos presentes dela, mas livremente dentro da extensão do zodíaco de sua própria argúcia”)
Como o poeta libera-se da natureza? Criando entidades mitológicas que podem revelar os limites da razão e da imaginação humanas. Imaginando circunstâncias com uma claridade moral que dificilmente seria acessível a um não poeta, idealizando o futuro que pode plasmar a realidade com seu poder de utopia. Dissemos que sem dúvida Shakespeare conheceu o excerto de Sidney, pois em Sonho de uma Noite de Verão ele nos mostra uma passagem semelhante:
“The poet´s eye, in a fine frenzy rolling,
Doth glance from heaven to earth, from earth to heaven,
And as imagination bodies forth
The forms of things unknown, the poet´s pen
Turns them to shapes, and gives to airy nothing
A local habitation and a name.” (5.1.12-17)
(“O olho do poeta, em um delírio excelso,
passa da terra ao céu, do céu à terra,
e como a fantasia dá relevo
a coisas até então desconhecidas,
as penas do poeta lhes dá forma,
e a essa coisa nenhuma aérea e vácua,
empresta nome e fixa lugar certo”)
Todas as características do que podemos descrever como autonomia estética estão presente aqui: a obra de arte possui vida própria que extrapola a ordem das coisas, que o artista é inspirado e está em contato com outra forma de percepção, que dificilmente as escolhas artísticas dependem de considerações de ordem utilitarista, que os objetos criados por artistas estão além dos métodos científicos e da explicação filosófica e, por conseguinte, que a arte é uma instância de realização da liberdade radical. Ao não ser constrangido a representar o mundo como ele de fato é, o poeta encontra uma esfera de liberdade não acessível a qualquer outro ser humano. Porém, apesar de responder às suas próprias leis internas, a arte continua a ser dependente de um público que pode facilmente perturbar a autonomia do artista em muitos aspectos.
V) Os Demônios de Shakespeare: a união entre Terra e Céu
Shakespeare parece nunca ter se esquecido da possível interferência do público em sua obra, do “contrato social” existente entre essas duas esferas. Shakespeare “blindou” seu teatro reiterando constantemente à arte pela arte, sem implicações políticas e de engajamento, pois detinha perfeita noção de que suas peças se situavam em um momento histórico delicado onde vários autores foram presos e outros mortos, como Christopher Marlowe. Ao reconhecer o caráter totalmente fantasioso de suas peças o público de Shakespeare pôde desfrutar totalmente do sonho que representa de fato o teatro. Ao se manter completamente atento às vontades e afecções de seu público e, ao mesmo tempo, representar questões universais da humanidade, Shakespeare ingressou para sempre na enxuta lista dos autores imortais. A cultura grega, com seu conceito de daemon, pode nos dar uma categoria a mais para pensar o tipo de produção que permeou toda a obra de Shakespeare, voltemo-nos a Platão em sua obra Simpósio:
203a – “O Daemon interpreta e leva aos homens o que é próprio dos seres-humanos e traz aos homens o que é próprio dos deuses. As orações e os sacrifícios de uns, os mandamentos de outros e as recompensas pelos sacrifícios! Situado entre uns e outros, preenche este espaço intermédio, de maneira a manter unidas estas duas partes de um todo. É dele que procede a arte divinatória, bem como, as artes sacerdotais relativas aos sacrifícios, às iniciações, aos encantamentos e a toda magia em geral. Os deuses não se aproximam dos homens, e é por intermédio deste Daemon que os deuses estabelecem comunicação com os homens, seja durante a vigília, seja durante o sono. O homem que conhece estas coisas é de caráter daemoniaco, inspirado, enquanto o homem que tem engenho para fazer outra coisa, arte ou ofício, não passa de um artífice. Os Daemons são em grande número, de muitas espécies e, um deles, é Eros.”
Shakespeare detém, ao longo de toda sua obra, uma plena consciência de sua atividade transcendente, mágica, a ponto de poder abandoná-la a seu bel prazer, como faz Próspero, grande mago, ao quebrar sua varinha mágica, em A Tempestade. Porém, ao mesmo tempo, retrata a realidade nua e crua das distintas profissões, da vida campestre da sua infância, e da linguagem popular, em cada meandro de sua produção.
O teatro apresenta dois elementos complementares: uma mágica guiada pela imaginação, que faz a todos transcenderem às coerções da realidade, e o outro, totalmente humano que tem a ver com os trabalhos duros e com a transformação do mundo real. A presença do comum em meio do extraordinário é chave para o entendimento do sucesso de Shakespeare, em seu tempo e ainda hoje. Nunca a porta da vida comum seria fechada, mesmo nos momentos de maior êxtase metafísico.
É no sentido platônico que a obra de Shakespeare é demoníaca: Ela está “Situada entre uns e outros [mortais e deuses], preenche este espaço intermédio, de maneira a manter unidas estas duas partes de um todo.” Shakespeare caminha através da fronteira da imaginação, alargando-a, e sem dúvida ferindo-a, ao introjetar nela a crueza da realidade do mundo. A sabedoria e a liberdade situam-se a meio termo entre a inspiração e o prosaico.
BIBLIOGRAFIA
GREENBLATT, Stephen, Como Shakespeare se Tornou Shakespeare, Companhia das Letras, 2011, São Paulo.
GREENBLATT, Stephen, Shakespeare´s Freedom, The University of Chicago, 2010, Chicago, USA.