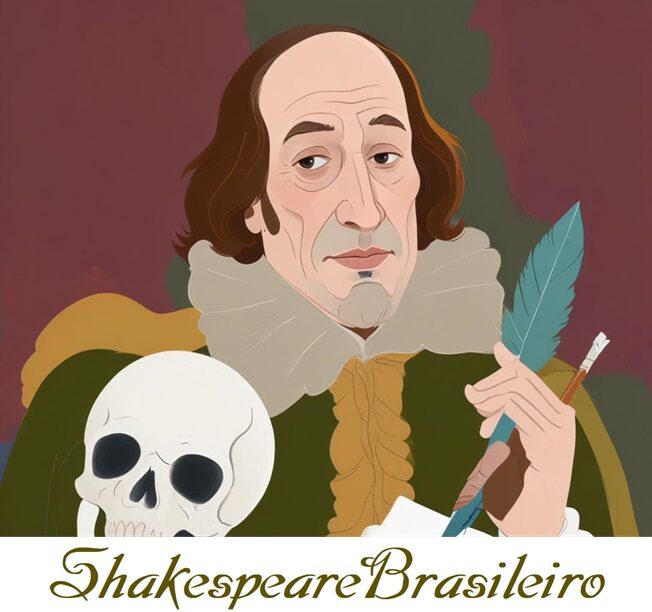Henrique VI, Parte Dois é, ao mesmo tempo, uma continuação da narrativa histórica iniciada em 1 Henrique VI (baseado nas mesmas crônicas fontes) e uma peça independente, que deve ter sido representada em uma ocasião separada no teatro de Shakespeare. Como a segunda peça de uma série de quatro, ela é inconclusiva, iniciando-se em um estado de contínua mudança política e concluindo-se com uma guerra civil em fase precoce. A consolação providencial parece distante, mesmo que haja sinais da ira divina agindo nas questões humanas. Ao mesmo tempo, essa peça tem sua própria integridade de tema e forma dramática.
2 Henrique VI inicia-se onde 1 Henrique VI termina (no ano de 1445) e continua até a véspera da guerra civil na Batalha de Santo Albano (1455). Os principais eventos retratados são a queda de Humphrey, Duque de Gloucester, e as raivosas agitações dos plebeus, levando finalmente à rebelião de Jack Cade. A agitação popular causa a morte do Duque de Suffolk, assim clamando pela vida de um dos mais cínicos responsáveis pelos problemas da Inglaterra. O sórdido Cardeal de Winchester também morre uma morte horrível e instrutiva, sugerindo que a punição divina começa a revelar sua força inexorável. Entretanto, ao longo dessa ação declinante, testemunhamos, em contrapartida, a nefasta ascensão de Ricardo Plantagenet, Duque de York.
A estratégia de Ricardo, como aquela de seu filho e xará em Ricardo III, é a de explorar os antagonismos na corte Inglesa, colocando nobres feudais uns contra os outros até que seus rivais potenciais pelo poder se destruam a si mesmos. Em particular, ele tira vantagem da animosidade entre a nova Rainha Margaret e o Duque Humphrey. Margaret, filha de um príncipe estrangeiro, é uma consorte no estilo autocrático Europeu. Ela arrogantemente insiste nos privilégios de sua classe nobre e despreza àqueles que governam em nome da justiça. “É esse o disfarce, / É essa a moda na corte da Inglaterra?” ela incredulamente indaga a Suffolk, seu amante e aliado político (1.3.42-3). Suffolk é um homem apto para Margaret, pois ele, também, oprime os comuns. Uma petição “contra o Duque de Suffolk, por encarcerar os comuns de Melford” (linhas 23-4) é apenas uma das várias queixas profundas trazidas para atenção do trono pelas pessoas comuns. Margaret naturalmente ressente o conselho moderado e justo do Duque Humphrey, que pede ao Rei Henrique uma remediação para às aflições dos plebeus.
Ricardo de York não tem uma admiração inerente por Suffolk e Margaret, mas cinicamente os apoia, como uma forma de destruir o bom Duque de Gloucester. Ele aconselha seus parceiros Salisbury e Warwick, “Pestanejem na insolência do Duque de Suffolk, / No orgulho de Beaufort, na ambição de Somerset, / Em Buckingham, e em todos do seu grupo, / Até que eles capturem o pastor do rebanho, / Aquele príncipe virtuoso, o bom Duque Humphrey” (2.2.70-4). E Humphrey tem, de fato, uma fraqueza fatal que ele não pode afastar-se: a ambição de sua esposa, Eleanor. Com o plano de tornar-se a primeira-dama, Eleanor incorre em inevitável conflito com a desapiedada Rainha Margaret. Winchester e Suffolk, sabendo do orgulho auto-ofuscante de Eleanor, consideram pateticamente fácil implantar espiões no meio familiar dela, que encorajarão à propensão dela à bruxaria. Humphrey nunca é pessoalmente contaminado pelo orgulho de sua esposa, contudo, está também condenado. O Rei Henrique sabe da bondade de Humphrey mas não pode salvá-lo. Essa queda de um corajoso moderado, enfatizada no título do texto in Quarto de 1594 (“com a morte do bom Duque Humphrey”), distingue Humphrey como a mais eminente vítima da segunda peça, tal como Talbot na Parte Um. Ele é destruído por uma aliança insincera e temporária de extremistas de ambos os lados: aqueles como Margaret e Suffolk, que aderem-se ao privilégio despótico, e aqueles tais como York, que deseja incitar os plebeus para seus próprios propósitos posteriores. Em tempos de confrontação a posição mediana é inerentemente vulnerável, e sua destruição leva a uma intensificada polarização.
Como York antevê e deseja, os plebeus são, de fato, ingovernáveis quando desprovidos da liderança moderada de Humphrey. Shakespeare já havia mostrado que eles tendem a imitar os conflitos de seus anciões (como no ridículo duelo entre Horner, o Armeiro, e o militar Thump) e são supersticiosamente crédulos (como no episódio de Simpcox, o homem cego e fraudulento). Agora, incapazes de abrir petições através dos canais, a voz deles tornou-se importuna. “Os comuns, como uma colmeia raivosa de abelhas / Que querem seu líder, espalham-se acima e abaixo / E não se importam com quem eles irão aferroar em sua vingança” (3.2.125-7). À primeira vista, as queixas deles são plausíveis e sua cólera dirigida para objetos culpados. Eles suspeitam certamente que o herói deles, Humphrey, foi destruído por Suffolk e o Cardeal, e eles demandam o banimento de Suffolk. A demanda é louvavelmente motivada por um desejo de agir em nome do rei e do país, e instiga o fraco Rei Henrique a remover Suffolk do posto, como ele deveria ter feito há muito, mas a insistência deles parece estabelecer um precedente para o ativismo dos comuns que tem implicações perturbadoras ao longo das peças de Shakespeare. Se Suffolk não for banido, eles avisam, eles vão retirá-lo do palácio à força. O pobre Rei Henrique, lamentando a perda da autoridade conciliatória de Humphrey, habilmente aponta a questão central da prerrogativa real: “E eu não fui citado assim por eles, / Apesar de eu propor o que eles solicitam” (3.2.281-2). Na perspectiva dessa peça, o sucumbir de Henrique à força popular é um comentário sobre sua própria incapacidade como um governante e uma indicação preocupante do que virá. O próximo passo, de fato, será a captura e a execução de Suffolk pelos marinheiros, que tomam à justiça em suas próprias mãos. Apesar de serem corsários e sequestradores, o tenente fala como se eles fossem os vingadores da morte do Duque Humphrey (4.1.70-102). Não importando o quanto Suffolk mereça ser condenado, essa execução sumária ultrapassa às normas do julgamento ante uma autoridade legalmente constituída. Os servos voltaram-se contra os mestres; os comuns começaram a sentir o seu próprio poder.
A própria rebelião popular, a insurreição de Cade, é uma burlesca paródia das demandas populares por justiça social e sugere que qualquer movimento desse tipo está comprometido em terminar em absurdidade. Shakespeare, por toda sua apreciativa representação dos homens individuais do povo, é cauteloso com as consequências do governo da multidão. Apesar da rebelião de Cade ter sido engendrada, na visão da maioria dos historiadores, à partir das deploráveis condições econômicas de pobreza e opressão, Shakespeare ignora quaisquer circunstâncias que podem dar simpatias às reivindicações daqueles que voltam-se contra seus mestres. Pelo contrário, ele acentua os perigos da agitação popular ao colocar ao lado, com pouca consideração à história, os piores excessos da própria rebelião de Cade (1450) e da famosa Revolta dos Camponeses de 1381. As cenas de Cade têm excessos de comédia degradante na forma da autoafirmação da classe baixa. Nós rimos do contraste entre as noções Utópicas professadas por Cade, de abundância para todos e sua ambição mesquinha de ser rei. Ele mata àqueles que se referem a ele como Jack Cade, em vez de seu alegado título de Lorde Mortimer. Seu movimento é intensamente anti-intelectual. Entretanto, a azeda piada não denuncia apenas os plebeus. As pretensões insolentes de Cade e suas insinceras reivindicações genealógicas são uma paródia exagerada, mas reconhecível, do comportamento aristocrático. Mais importante, nós lembramos que Cade foi estimulado em sua rebelião pelo demagógico York. Este conspirador “seduziu” Cade a fazer comoção, enquanto o próprio York lidera um grande exército pessoal e avança sobre à Irlanda. “Esse demônio aqui deve ser meu substituto” (3.1.371). Os plebeus podem, de fato, provarem-se irresponsáveis quando estimulados, mas, ao longo de 2 Henrique VI, os aristocratas feudais devem suportar à principal culpa por causar o descontentamento popular.
Em vistas da necessidade de algum tipo de coerência no meio desse declínio universal na anarquia e no conflito, a profecia assume uma importância estrutural em 2 Henrique VI, que será acentuada nas peças posteriores da tetralogia. Como no drama Grego antigo, as profecias são, sempre, eventualmente realizadas. Elas revelam à necessidade divina, mas em uma linguagem ambígua e enigmática que as pessoas afetadas pela profecia não compreendem à verdadeira natureza do discurso, até que o próprio evento esteja sobre elas. Nessa peça, por exemplo, o espírito conjurado que aparece ante a Duquesa de Gloucester (1.4) prediz que Suffolk morrerá “pela água” e que Somerset devem “evitar castelos”. Que tipos de avisos são estes? Quando sua hora chega, Suffolk morre nas mãos de um homem chamado Walter (pronunciado “água”, apesar de Suffolk tentar desesperadamente insistir no Francês “Gualtier”), ao passo que Somerset morre na Estalagem do Castelo perto de Santo Albano, no final da peça. Através dessas insignificantes ninharias, como em Macbeth, grandes homens são iludidos com a falsa segurança. Não menos enigmática é a profecia sobre o Rei Henrique e seu antagonista político: “O duque ainda vive, que Henrique deve depor, / Mas ele sobrevive, e morre uma morte violenta” (1.4.31-2). A primeira frase desse oráculo é perfeitamente ambígua: ela pode dizer que um duque que ainda vive destituirá Henrique ou que Henrique destituirá esse duque. Ambas as interpretações provar-se-ão válidas; durante as guerras dos Lancasters e dos Yorks mostradas em 3 Henrique VI, o Rei Henrique e seu oponente Yorkista irão, em turnos, tomar o trono um do outro. Em tal profecia já há o conceito de olho por olho, um Lancastriano por um Yorkista, através da qual a Providência irá, finalmente, impor sua penalidade sobre um povo rebelado. A profecia, então, não serve para permitir que os humanos escapem de seus destinos, que são inevitáveis, mas para dá-los a oportunidade de perceber, ao final, o padrão da justiça divina. A plateia percebe que a profecia é um aviso divino frequentemente ignorado pelos tolos seres humanos, e reconhece a necessidade de realização que é trágica e desanimadora, mas também reconfortante, no sentido que ela mostra que os céus são justos.
O papel da profecia é, assim, central em 2 Henrique VI, no sentido em que ela dá à peça um padrão dominante de predição e eventual realização. Entretanto, a experiência de 2 Henrique VI é turbulenta. Os eventos crescentemente atingem seus impulsos irreversíveis. As cerimônias e as instituições empregadas no controle do fluxo não são bem-sucedidas. Ideias abstratas conflitam com inflexíveis realidades; e ideia de reinado atrai um revigorado grito por autoridade e estabilidade, mas o fato da liderança inepta do Rei Henrique, e as ambições auto-interessadas de seus antagonistas, convidam a uma contínua desordem. Como uma obra de arte, 2 Henrique VI combate o problema de fazer algo artisticamente coerente do caos. Ela o faz, assim como 3 Henrique VI, ao conter à instabilidade de dentro do padrão recorrente de um olho por um olho.
Qualquer senso de conforto demora para chegar nessa peça. O declínio político e moral da Inglaterra permanece incontrolado. A rebelião dos plebeus, cinicamente fomentada por Ricardo, Duque de York, estabeleceu um precedente para mais rebelião. Sabendo que seus inimigos estão fracos e divididos, Ricardo não esconde mais a ambição que o levou a aceitar uma designação na Irlanda e, desse modo, liderar um exército. Sua desculpa para retornar à Inglaterra em armas, para livrar o Rei Henrique do odioso conselheiro Somerset, é similarmente mostrada como nada menos que um pretexto para declarar uma guerra civil aberta. Sua justificação final ao desafiar o Rei Henrique, apesar de toda a bela fala sobre genealogias, é que Ricardo tem a ambição e puro poder para levar a cabo seu plano. As declarações de Henrique sobre o direito não são menos governadas pela conveniência, pois ele privadamente confessa à fraqueza de sua reivindicação. O admirável exemplo, mostrado no final da peça, de um cavalheiro de Kent chamado Iden, que está contente em viver em paz em seu estado, serve como um contraste às consternadas ambições que infetaram não apenas Ricardo de York e seus aliados, mas também a impiedosa Rainha Margaret e àqueles leais a ela. Se, como A. P. Rossiter argumentou com cogência, 2 Henrique VI é uma “moralidade de estado” na qual às forças do bem e do mal lutam pela alma da assediada heroína, Respublica [sic] ou do estado, então, ela deve, finalmente, ser vista como uma peça onde as forças do bem não são bem-sucedidas. Claramente, o arrogante Suffolk encontra seu calamitoso destino, mesmo que de uma forma que encoraja ainda mais vingança privada; Somerset cai, como predito em Santo Albano; e Winchester sofre uma morte de edificante horror. Ademais, Ricardo de York e a Rainha Margaret, que tiraram proveito da vitimização do virtuoso Duque Humphrey, estão mais poderosos do que nunca, e o filho de Ricardo e seu xará está apenas começando a fazer sentir sua presença. Muitas coisas permanecem por serem compensadas no final de 2 Henrique VI.